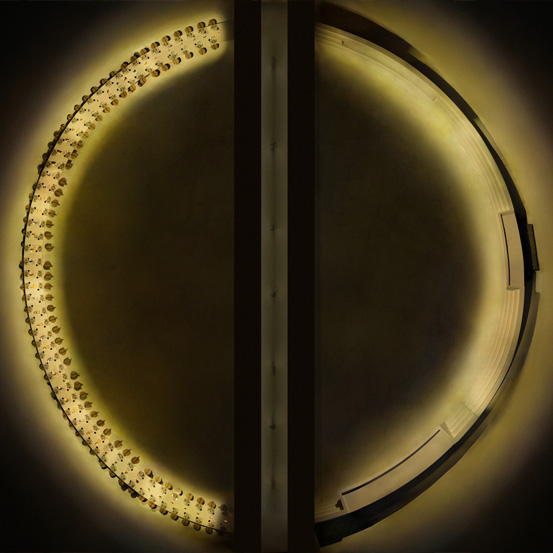Mea Culpa é um romance visceral, frágil, violento, mas que fala em voz baixinha, sussurrada, atormentada; aquela voz que nos entra na pele e fica lá debaixo, em eco, demorada, constante. Carla Pais também.
Mea Culpa é um romance visceral, frágil, violento, mas que fala em voz baixinha, sussurrada, atormentada; aquela voz que nos entra na pele e fica lá debaixo, em eco, demorada, constante. Carla Pais também.

©Fotografia de Branislav Simoncik
©Fotografia de Branislav Simoncik
Nasceu num mundo pequenino, só seu. Carla é de Chãs, uma aldeia da freguesia de Regueira de Pontes, perto de Leiria. A escritora senta-se connosco quando novembro acorda para a chuva e embacia os vidros. Bebe um café devagar. Desenrola a história como se a escrevesse com som, a escolher uma palavra, depois outra, depois outra. “A minha relação com as palavras é um bocadinho difícil, porque eu sou uma pessoa extremamente tímida, tenho imensa falta de confiança, sempre tive, desde criança, adolescente, não era uma pessoa extrovertida, que gostasse de falar.” Isso nota-se enquanto remexe a chávena de café nas mãos, de pernas cruzadas com os seus fantasmas, com a sua boina parisiense a emoldurar os cabelos moldados. “Quando começo a entrar na adolescência, aquilo causa-me imensos transtornos porque não estou nada preparada para aquelas coisas todas, para aquele reboliço de emoções que está prestes a acontecer e eu não percebo nada do que se passa à minha volta, não percebo nada do mundo. Aos treze ou catorze anos, a patroa do meu pai, que era professora de Português e Inglês no secundário, e que estava habituada a lidar com adolescentes, oferece-me um diário, daqueles antigos, com um cadeado e umas folhas perfumadas, e eu percebo que aquilo, como tem um cadeado e fecha, é seguro. É ali que despejo as minhas raivas e as minhas revoltas da adolescência. É ali que começo a escrever, porque me sinto leve a fazê-lo.” E hoje, o papel ainda é a leveza? “Escrever alivia-me porque há coisas que eu preciso de dizer, e porque há histórias que precisam de ser contadas e têm de ser ditas, mas há coisas que também são pesadas e que a gente as mete num papel e não é por isso que elas passam a ser mais leves para nós. Escrever poesia alivia-me imenso, porque é feito de outra forma. É mais espontânea, é mais sem regras, e tu escreves da forma que tu vês. É mais livre, tu podes ver o mundo da forma que tu quiseres. A pessoa que irá ler o teu poema vai vê-lo de uma outra forma, certamente, mas a forma como tu o viste e colocaste no papel foi aquela, foi a tua, e isso alivia-te.”
“Eu sei que a minha língua vai estar ali, e nunca me vai falhar porque há livros por todo o lado.”
A poesia também nos afoga de enxurrada em Mea Culpa, editado pela Porto Editora. É o primeiro romance de Carla Pais, e chegou a ser apontado como vencedor do Prémio Revelação Augustina Bessa-Luís, mas a participação foi invalidada porque Pais já havia publicado uma obra ficcional — o que não é totalmente verdade, porque Renascer, que, entretanto, já não está nas livrarias, é um retrato não ficcional de uma realidade demasiado dura para a aceitarmos como verdadeira; mas Mea Culpa não precisa de galardões. É um livro tão frágil, como brutal; é obsessivo, é rude, é lírico. É um processo físico também. Ondas de negação por nos esquecermos tantas vezes de que existe vida, existe amor, existe dor e existe fascínio e existem sonhos fora das metrópoles e fora do nosso umbigo. É uma chamada à Terra, à nossa terra, que costumamos enfiar num álbum de fotografias e a qual é habitual mencionar em jantares de amigos, por entre copos, como uma era distante e metafísica, impossível de reconhecer a olhos nus que fizeram por se esquecer do início. É um exercício de leitura que nos obriga a desligar o mundo e agarrar o estômago, que nos exige a alma, que a faz tremer. Carla demorou nove meses a escrevê-lo, “o tempo de um parto”, e diz-nos que isso é que é preciso. É preciso “tempo. Tempo é essencial para quem escreve. Ter tempo para poderes escrever e para poderes pensar naquilo que vais escrever. Quando bloqueio, porque as personagens já não falam comigo, porque já não sei para onde as levar, paro. Leio aquilo tudo. Há semanas em que só leio outras coisas. Depois, quando volto, sai-me em automático. Às vezes, é preciso fazermos uma pausa, quase como se fossem umas férias, porque as personagens também se cansam de nós, e nós cansamo-nos delas. É como as relações: às vezes, é preciso dar um tempo.” Principalmente quando se exige que cada capítulo, cada página, seja inteiro. “As palavras têm de ser aquelas, naquele tempo, naquela hora, têm de fazer aquele sentido, naquela frase, ou outra, e, depois, escrevo e, no outro dia, vou ler e posso não aproveitar nada do que escrevi.” É uma construção compulsiva, que já ultrapassa a insegurança e se deita nos sentidos da busca pela perfeição. Talvez seja porque Carla se soterra em livros — “há pessoas que são compulsivas a comprar determinadas coisas, eu sou compulsiva a comprar livros, compro imensos e não os consigo ler todos, mas eu sei que a minha língua vai estar ali, e nunca me vai falhar porque há livros por todo o lado” — ou talvez porque a fragilidade inatingível da perfeição só se desenha num mundo que não existe. “Agora, passando tudo isto, vou voltar ao meu universo, ao meu mundo, aos meus livros. Quando estou cá, não consigo escrever como quando estou lá. É o meu canto, é o meu espaço. No meu escritório, por cima da secretária, tenho uma prateleira onde tenho determinados livros e aqueles livros têm de ali estar, porque se não estiverem ali, se alguém mexer e trocar de sítio, é logo o caos, porque eu percebo. É uma coisa minha.”
Da janela pequenina, veio para Lisboa, depois para Paris, onde já embalou salmão, já fez limpezas, já tomou conta de crianças e, hoje, mãe de dois filhos, é formadora. Foi, aliás, o primeiro filho que a obrigou a amar as palavras, por exigir que a mãe as usasse, que lutasse contra a facilidade do refúgio e que comunicasse abertamente, que o ensinasse, que o amasse com letras ditas. Talvez também tenha sido ele a impulsionar esta necessidade quase doentia de nunca, nunca perder a língua portuguesa, de encomendar os livros em Portugal, de falar Camões assim que, no fim do dia, depois de mais de oito horas de oui e non, fecha a porta de casa atrás de si , e de ficar ansiosa por chegar e poder deixar correr, livremente, as cordas da saudade. Escreve à noite, naquele seu universo. O que vê da janela é assim tão diferente do que via a menina dos diários de páginas perfumadas e cadeado seguro?
“Aos treze, catorze anos, eu via o mundo da perspetiva de uma aldeia e, hoje, vejo-o a partir de França, há muitas coisas pelas quais passei, há um crescimento, mas há valores que não mudam. Os valores que me atazanavam na altura continuam a ser os mesmos. As tuas convicções amadurecem, mas elas estão lá. Aos treze, catorze anos, queres mudar o mundo e achas que o mudas sozinha; aos quarenta anos, tu já pensas: ‘Eu, sozinha, não mudo, mas posso ajudar.”.
*Artigo originalmente publicado na edição de dezembro 2017 da Vogue Portugal.
Most popular

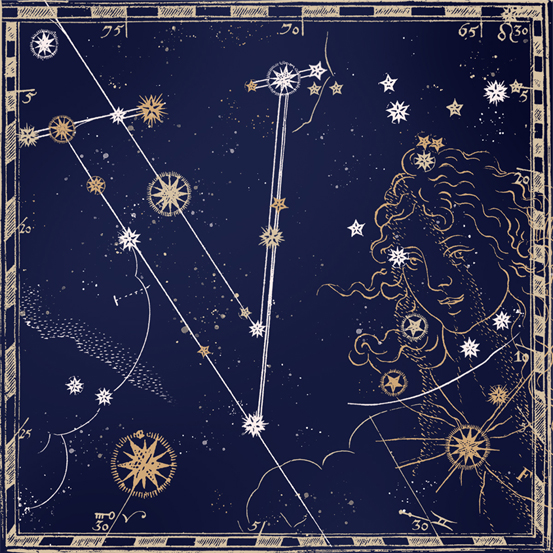
Relacionados

.jpg)