Houve uma época em que, em vez de playlists digitais, os adolescentes trocavam cassetes entre si. Essas cassetes, as mixtapes, continham o reflexo do espírito do seu autor. Eram uma espécie de tesouro pessoal que se partilhava só com algumas pessoas. Eram outros tempos.
Houve uma época em que, em vez de playlists digitais, os adolescentes trocavam cassetes entre si. Essas cassetes, as mixtapes, continham o reflexo do espírito do seu autor. Eram uma espécie de tesouro pessoal que se partilhava só com algumas pessoas. Eram outros tempos.

Terá sido no final de 1997, ou talvez no princípio de 98, que executei, com rigor e exigência, e respeitando todos os seus princípios fundamentais, a minha última verdadeira mixtape. Ainda sei de cor os títulos de algumas das canções que a compunham – a Everlong, dos Foo Fighters, a Hey, dos Pixies, a Think, dos Sebadoh –, até porque, se hoje voltasse a fazer uma seleção musical que me caracterizasse, o mais provável era que essas (e algumas outras) voltassem a constar do alinhamento. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. É quando entramos na faculdade que, na maioria dos casos, nos deparamos com o universo – o universo, no sentido de uma existência ampla, vasta, para além de nós, do nosso círculo, do que nos é familiar, nos envolve e nos protege. Foi o meu caso. Nestas circunstâncias, é urgente que nos afirmemos e essencial que os outros – que são novos outros, diferentes daqueles outros com que antes lidávamos – nos identifiquem: quem somos, do que gostamos, de onde vimos, o que sabemos das coisas, como nos comportamos, a que aspiramos.
Descobrir e revelar todos estes detalhes que nos compõem – e, ainda mais, fazê-lo numa fase da vida em que nem nós próprios estamos muito seguros acerca deles – tem tanto de arte como de ciência, embora assente principalmente num artefacto mais ou menos ilógico chamado intuição. As conversas ingénuas sobre política ou ideologia, poesia ou religião, até podem ser interessantes e, lá está, reveladoras, mas também podem ocultar, por via da dissimulação ou da fraude deliberada, lados de nós (e, necessariamente, dos outros) que consideremos menos interessantes. É por isso que poucas coisas serão tão reveladoras acerca de alguém quanto o seu gosto musical. E é também por isso que, ao nível de desvelar o que se nos esconde na essência, a mixtape é uma espécie de carbono-14 usado na datação dos vestígios arqueológicos: num alinhamento de gosto musical temos acesso a tudo o que importa acerca de uma pessoa – a sofisticação das suas preferências sobressai de imediato, mas há outras camadas que se vão revelando: o que conhece, o que leu, a que tribo urbana pertence ou deseja pertencer, o seu grau de otimismo, a presença ou a ausência de romantismo, a sua disposição, os seus sonhos e ambições, até mesmo os traumas de uma pessoa podem ser identificados a partir de uma lista de música, se ouvirmos com atenção as canções que nos são propostas e compreendermos a sequência em que foram dispostas.
A descoberta
Ela era muito gira, acredito que fosse uma das mais giras de toda a faculdade. Eu era um miúdo magríssimo, com um metro e sessenta e picos, dentes encavalitados e uma adolescência perdida numa terra indecisa entre ser subúrbio chic e bucólico ou província servil à burguesia da capital. A meu favor tinha somente a minha poesia, ingenuamente frívola e pedante, até parca de vocabulário, e o facto de ela, o objeto da minha paixão, ter 19 anos, mais um do que eu, e uma vida inteira pela frente para constatar que, sim, tudo se tratava de um equívoco – o segredo era tentar a minha sorte e aproveitar enquanto durasse. Eu também tinha uma banda, o que me dava créditos extra e legitimava, tornando-a quase natural, uma abordagem inusitada, “Olá, Raimunda, gravei-te uma cassete”. O nome dela é fictício. No dia a seguir andávamos aos beijos nos jardins da Gulbenkian, apesar de a mixtape incluir uma faixa de Blind Zero. Eram os anos 90, valia tudo, exigíamos pouco. O mais importante era o amor, o mais urgente era não perder tempo. Não perdemos. O sucesso da mixtape não foi aleatório. Por mais que eu confie nos encantos do meu bom-gosto musical, preferi não arriscar em demasia. Se, por um lado, pretendi exibir – e exibi – com orgulho algumas escolhas arrojadas (como é que alguém mete uma música dos Tool no meio de uma compilação com pretensões conquistadoras? Com coragem, é o que é. Muita coragem. E algum descaramento – mostrar descaramento doseado é muito importante, porque transmite à pessoa desejada que também nós podemos ser rebeldes, praticamente bad boys, embora não tenhamos de o praticar 24 horas por dia, sete dias por semana; no fundo, sugere que, quando queremos, ou se quisermos, também nós podemos ser loucos, ainda que não façamos alarde dessa nossa capacidade discreta), por outro considerei relevante mostrar-lhe – lembro que falamos ainda de “Raimunda”, alvo dos meus mais indiscretos olhares e motivo das minhas palpitações e suores frios de então – o quanto partilhávamos e do quanto comungávamos, a maneira como o nosso gosto se tocava em tantos pontos (reparem no erotismo subtil), a quantidade impressionante de canções que eu escolhera como minhas e que, afinal – oh, surpresa! –, também ela as preferia a todas as outras. Pode não ter sido um exercício bonito, e reconheço hoje que talvez não me fique bem o calculismo de então, mas a verdade é que se passaram mais de 20 anos e acabei por perder mais do que ganhar com este meu sucesso.
A astúcia teve um preço que demorei algum tempo a descobrir – e ainda mais a pagar. Mas o que nos traz aqui é música: durante semanas, fui prestando atenção às conversas que tínhamos em grupo, nos intervalos das aulas, nas mesas de café. Violent Femmes? Oh, sim, claro, gosto muito. The Clash? Raimunda, os Clash são do cancioneiro universal. E assim, por aí fora, juntando nomes e, em alguns casos, adicionando discos à minha coleção – a verdade é que nem todos os nomes eram mesmo, mesmo, mesmo, preferências minhas. Hoje, seriam escolhas espontâneas, naturais, praticamente obrigatórias. Mas a verdade é que, na altura, eu alimentava-me muito mais de Mudhoney e de Stone Temple Pilots do que de punks new wave, ou do folk-rock insólito dos Femmes. Adiante: no mesmo dia em que lhe dei a cassete, Raimunda telefonou-me – isto é literal, naquele tempo as pessoas usavam mesmo telefones, uns objetos que se ligavam às paredes por intermédio de fios – e disse “até estou arrepiada”, e foi então que eu percebi que o poder da mixtape podia ir muito além de nos transformar no tipo cool da turma, e que havia mesmo uma aplicação prática para o objeto: fazer agitar o coração dos nossos sonhos. Importa sublinhar que descobri tudo isto num exercício 100% empírico, visto que só viria a ler Alta Fidelidade de Nick Hornby anos mais tarde – Raimunda ofereceu-mo quando nos despedimos numa das últimas vezes em que nos vimos e, acredito eu, foi esse o gesto que selou definitivamente a nossa rutura.
A técnica
É preciso fazer rewind e deixar de lado o calculismo do exercício que atrás descrevi, até porque será muito redutor ver uma mixtape só como objeto utilitário. Não é. A arte ancestral da mixtape tem origem – especulo, evidentemente, mas faço-o com muita convicção – num instinto primordial do ser humano, que resulta de sermos animais capazes do pensamento abstrato. Da mesma maneira que os bebés se deslumbram com as suas primeiras obras, por mais escatológicas que estas sejam, os adolescentes ficam fascinados quando percebem que “espera aí, eu tenho um gosto”, e então, precisam de gritar “Ei! Malta! Malta! Ei, pessoal, eu tenho um gosto!” A mixtape é esse grito. Ao contrário do que veio a suceder com a minha última, verdadeira e legítima mixtape, cujo propósito era de certo modo obscuro (e, a vários níveis, obsceno, mas vamos parar por aqui), as minhas primeiras, se tinham alguma pretensão, essa seria tão ingénua quanto as de Prometeu quando tirou a parra da frente de Eva e exclamou “Eureka!” (É possível que eu esteja a misturar histórias.) No fundo, o que importa reter é o seguinte: as mixtapes são objetos de um ritual de transição em que o adolescente – esta arte ancestral começava a ser praticada na adolescência – dá por si a deixar de ser um recetáculo banhado a ignorância para se transformar num emissor personalizado de um determinado gosto, com caráter.
No meu caso, e em casos de gente que eu conheço, pessoas da minha geração, amigos meus, fazer uma mixtape implicava que nos plantássemos fisicamente junto da aparelhagem e recorrêssemos a várias ferramentas, suportes e botões. Hoje, na era dos ecrãs touch, dos smartphones 5G e das playlists nas plataformas digitais, pode parecer um pouco arcaico que alguém, para gravar 60 ou 90 minutos de música, dependendo das cassetes, tivesse de despender de uma tarde inteira e de recorrer a uns bons 30 álbuns – normalmente, CD, mas também recorri muitas vezes a outras cassetes (com consequências inevitáveis ao nível da perda de qualidade de som) e ainda a um objeto mágico que só muitos anos mais tarde viria a ser ressuscitado, que é o disco de vinil. O procedimento não era tão simples quanto rudimentar. Eu explico: se, por um lado, parecíamos trabalhar numa espécie de oficina de discos musicais – é nesse ponto que hoje pode parecer rudimentar –, a logística obrigava a algum planeamento (páginas e páginas de cadernos escolares com títulos de músicas ordenados, e outros tantos riscados), a muita sensibilidade e até ao poder de toque, chamemos-lhe assim, afinado o suficiente para cortar os finais das músicas no sítio certo e não deixar brancas entre faixas, ao mesmo tempo que se era capaz de evitar entradas bruscas na canção seguinte, as chamadas “passagens a martelo”. Importa ressalvar, sobretudo para os leitores mais novos e menos familiarizados com estas tecnologias da antiguidade, que as cassetes funcionam com fita magnética. Ou seja, uma gravação em falso implicava uma regravação por cima da primeira, o que tirava qualidade sonora e fazia perder tempo. É que só era possível confirmar a gravação quando se parava de gravar, e só se parava de gravar quando a música chegava ao fim. Além disso, fazer rewind – ou rebobinar, em bom português medieval – demorava o seu tempo e obrigava a uma extraordinária precisão na arte de adivinhar, sem referências e só por meio de cálculo mental (ou palpite), onde é que era para parar.
O infame digital
Não foi muito depois de ter gravado a agora célebre mixtape da Faculdade que as cassetes entraram em declínio de popularidade, depois de utilidade e, por fim, em extinção. A culpa é dos CD-R, o infame Compact Disc – Recordable, uma engenhoca quase tão arcaica como as anteriormente descritas, mas com uma série de características que, na altura, pareciam ser qualidades. Primeiro que tudo, eram digitais, o que nos foi apresentado como uma grande vantagem. Depois, davam para enfiar nos leitores de CD dos computadores – sim, houve um tempo em que era possível enfiar CD, CD-R e DVD em computadores –, o que permitia que os gravássemos com listas de canções previamente definidas e importadas para o computador. Na teoria, “queimar” – era o termo usado na gíria, que significava gravar ficheiros no computador (de “burn files”, em inglês) – um CD era em tudo semelhante a fazer uma mixtape: escolhíamos as músicas, pegávamos nos CD e gravávamos pela ordem pretendida. Na prática, era uma grande desilusão: importávamos ficheiros inteiros, o que não permitia que fizéssemos sobressair a delicadeza das passagens, além de que não era possível (ou seria extremamente complexo, por exigir meios auxiliares) recorrer a cassetes nem discos em vinil como fontes. Tudo se tornou mais rápido e prático, mas, como tantas vezes sucede, também perdeu encanto, romantismo e autenticidade.
Um CD-R com uma playlist será sempre diferente de uma mixtape, quanto mais não seja porque uma lista de canções extraídas de ficheiros digitais é só isso, e nada mais do que isso, uma sequência de canções, ao passo que uma gravação feita num meio analógico dependerá sempre do talento e da habilidade de cada um para o corte minucioso e para a sequela sagaz. A contemporaneidade veio dar mais um passo no caminho oposto ao das saudosas mixtapes. Hoje, não é sequer preciso “queimar” CD. Basta abrir um perfil numa das várias plataformas à disposição e escolher músicas para incluir na playlist. Às vezes, é tão simples como carregar num coração para que as canções sejam adicionadas à lista. A poesia da mixtape perdeu-se, talvez definitivamente. Existe agora somente na memória de quem as fez – ou, em certos casos, mais raros, em caixas de sapatos cheias de cassetes, como aquelas que ainda tenho guardadas em casa. Gosto de pensar nelas como o último reduto de existência material de um momento no tempo – uma era breve em que podíamos assinalar o nosso lugar no mundo elaborando, com cuidado e em busca de um rasgo de génio, uma seleção de músicas perfeita. Se eu hoje fizesse uma, abria com Vegas, dos Big Thief, depois metia a All We Ask, dos Grizzly Bear, a seguir a Night of Joy, das Breeders, e continuaria por esse caminho, até conquistar o mundo.
Artigo originalmente publicado no The Music Issue da Vogue Portugal.
Most popular
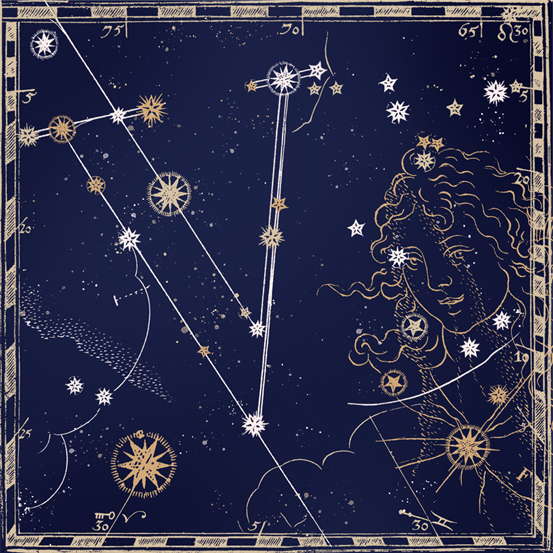

ModaLisboa Capital: as propostas dos designers portugueses para o outono/inverno 2025
10 Mar 2025

Como usar skinny jeans: um guia prático para quem não gosta de skinny jeans
07 Mar 2025
Relacionados

.jpg)
Donatella Versace afasta-se das passerelles e Dario Vitale é nomeado novo diretor criativo da Versace
13 Mar 2025

Outono/inverno 2025 | As tendências de Beleza que vimos nos bastidores
12 Mar 2025


