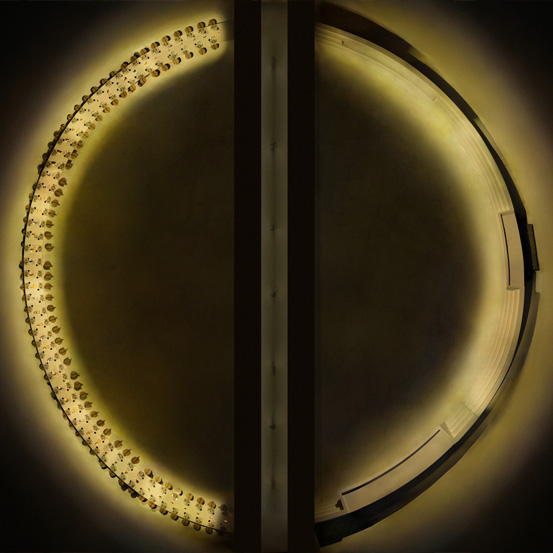No princípio, era a roupa. Depois vieram os designers, as modelos, os desfiles, as revistas, as tendências, as campanhas, o street style, as redes sociais, o live streaming, o see now, buy now. E agora, onde está a novidade?
No princípio, era a roupa. Depois vieram os designers, as modelos, os desfiles, as revistas, as tendências, as campanhas, o street style, as redes sociais, o live streaming, o see now, buy now. E agora, onde está a novidade?

Eckhaus Latta, backstage, 2016© Getty Images
Eckhaus Latta, backstage, 2016© Getty Images
Craig Green. Pyer Moss. Vaquera. Eckhaus Latta. Palomo Spain. Marine Serre. Art School. Lutz Huelle. Se nenhum destes nomes lhe parece familiar, é provável que esteja ligeiramente desatualizada sobre o who’s who da Moda. Sim, Karl Lagerfeld ainda é dono e senhor de uma fatia de sonhos da indústria (e sim, continuamos a falar no presente, mesmo após a sua morte), Donatella Versace continua imparável na realização de mulheres fatais, Dries van Noten mantém-se o mestre da cor e do corte, Vivienne Westwood permanece a rainha do punk com consciência. Contudo, há cada vez mais nomes que tentam furar, com sucesso, um sistema até aqui demasiado rígido e previsível. As novas coleções, apresentadas a um ritmo quase desumano, são um gigantesco compêndio de inspirações, comportamentos, tendências e culturas. As fashion weeks já não são um grupinho fechado para meia dúzia de marcas indistintas. As ruas, que outrora copiavam as sentenças das passerelles, são hoje sinónimo de desejo e inclusão. É nelas que nasce a semente da nova geração de designers, que transforma o espírito dos tempos em peças de roupa de valor sentimental incalculável.
“Next season’s must-have isn’t a handbag, it’s a conscience” (à letra, o must-have da próxima estação não é uma carteira, é uma consciência). O título do artigo publicado no fim de novembro na edição online da revista i-D é revelador do atual momento da Moda – e do mundo. O texto, que pondera o impacto do escândalo Dolce & Gabbana na China é um reflexo das profundas mudanças que caracterizam o sistema. A sociedade moderna, uma amálgama de povos que vivem em permanente convulsão, está cansada do domínio dos grandes grupos económicos e das exigências frívolas da lei da oferta e da procura. Mais do que novos criativos, procuram-se novos criadores – novos líderes. Os consumidores, que vivem agarrados a ecrãs onde qualquer novidade é transmitida em direto mais atentos – mais rigorosos. Pequenas provocações, até agora garante de atenção e vassalagem, são substituídas por grandes revoluções, que estimulam a mudança e a evolução. Já não basta lançar a versão fashionable da T-shirt da DHL. Agora, as tribos urbanas reclamam para si a criação dos seus uniformes de combate. O hedonista dá lugar ao lutador solidário. A roupa quer-se universal, transversal – verdadeira. A fronteira entre feminino e masculino dilui-se. O estilo individual diz mais de todos nós do que as comparações entre cada um de nós.
Pequeno parêntesis: a Moda sempre foi um espelho fiel do seu tempo. Basta pensar como no início do século XX Coco Chanel soube transformar as necessidades das mulheres em pronto‑a‑vestir sublime. Ou relembrar as polémicas campanhas da Benetton, assinadas por Oliviero Toscani, e o trabalho de visionários como Franca Sozzani, que transformou a Vogue Italia num meio de comunicação com uma influência que se estende muito para além das fronteiras da indústria. No entanto, em alturas de polarização como a que vivemos atualmente (utilizando a metáfora de Sofia Coppola, “o mundo é um lugar estranho”), a Moda assume um papel ainda mais transgressor. Em 2017, semanas após a tomada de posse de Donald Trump, a New York Fashion Week tornou-se o palco por excelência de uma nação que vivia de costas voltadas para o seu novo líder. O Council of Fashion Designers of America (CFDA) deu o primeiro passo, encorajando os participantes a usar pins cor-de-rosa onde se lia “Fashion Stands With Planned Parenthood” (a organização sem fins lucrativos que o Presidente eleito pretendia riscar do mapa) e o lema foi seguido à risca. Os desfiles abriram a porta à contestação e as front rows encheram-se de palavras de ordem. Ninguém ficou indiferente ao poder desta espécie de ativismo político, que se inspirou nos gritos da rua para incendiar as prateleiras das lojas. Foi o renascer do fashion activism, que se tornou trending topic e guia de boas maneiras num universo em convulsão. Depois disso, as modas sem consciência (e sem consistência) ficaram de fora das hit lists. Somente os designers com um manifesto social e preocupações sustentáveis se tornaram relevantes, casos de Prabal Gurung, Public School ou Stella McCartney, e os novos talentos começaram a emergir desta onda de inconformismo – acertou, são aqueles nomes estranhos que abrem o artigo. O futuro é deles.
"Não existe nesta fase uma linha reta de estética que se siga, tem tudo a ver com liberdade e gostos." Marta Lobo, stylist
Aos poucos, a Moda deixa de ser apenas um capricho e torna-se um meio de comunicação. A sensibilidade começa, lentamente, a superar a necessidade. Mas será que ainda é possível fazer coisas novas? Ou será que, pelo contrário, a criação artística não passa de um constante ready made, como defendia Marcel Duchamp? “A novidade na Moda está nos movimentos das tribos tanto urbanas quanto políticas. Está, como sempre esteve, nas ruas, no underground, em todos os movimentos periféricos, no comportamento de resistência. Ser contracorrente hoje é especialmente estar nesse lugar de usar a Moda e o corpo como expressão pessoal e política, lidando também com questões de género, de identidade e de subjetividades. Afinal de contas Moda é política”, declara Ciça Rainha, fashion head booker na agência Allure, em São Paulo. A cidade, um dos novos bastiões de talento, também já sente o impacto dos novos cânones que regem o fashion system. O exemplo parte dos próprios intervenientes. Ciça confessa que 90% do seu guarda-roupa é masculino: “Calças, camisetas, blazers. Gosto muito do Virgil Abloh na Vuitton, do Demna Gvasalia na Balenciaga e do Francesco Risso na Marni.” E os novos designers não hesitam em deixar claro os seus propósitos: “A Telfar é uma marca unissexo estabelecida em 2005 em Nova Iorque por Telfar Clemens e vendida internacionalmente. Não é para si – é para toda a gente”, lê-se no manifesto publicado no website da marca. Como consequência direta, a Moda começa a despir-se de preconceitos para abraçar novos corpos e novas etnias.
As campanhas mais cobiçadas já não ficam para meninas de ar imberbe. Agora, estas repartem protagonismo com mulheres reais como Jan de Villeneuve (74 anos) ou Daphne Selfe (90 anos). O mito dos corpos perfeitos foi destronado por Ashley Graham, Crystal Renn e Candice Huffine, que mesmo não vestindo o tamanho zero conseguem os melhores editoriais. As publicações mais conceituadas sucumbem à beleza única de femmes fatales como Lea T e Valentina Sampaio, as modelos transgénero que roubam capas às newcomers de aspeto girl next door. As supermodelos dos anos 90 saíram da reforma e incendiaram os desfiles mais badalados – Christy Turlington, que acaba de comemorar 50 anos, Kirsten Owen (48 anos), Amber Valletta e Shalom Harlow (ambas com 45 anos) são alguns dos rostos desta mudança de paradigma. Há espaço para todos – em todo o lado. As redes sociais confrontaram-nos com as nossas próprias imperfeições. Exige-se uma Moda sem filtros, mais autêntica. A rua é quem mais ordena. E é precisamente isso que defendem os novos enfants terribles da indústria, casos de Palomo Spain ou Charles Jeffrey Loverboy, e os defensores de uma estética genderless, como Craig Green, Ludovic de Saint Sernin ou Chromat. “Na minha opinião, não existe nesta fase uma linha reta de estética que se siga, tem tudo a ver com liberdade e gostos. Se um dia acordo e vejo uma imagem sexy e decadente e adoro, noutro fico completamente fascinada pela frieza de uma produção”, explica a stylist Marta Lobo. No entanto, salienta, prefere “as poses e as belezas menos convencionais, as cores e os cenários estudados mas que parecem completamente naturais”, até porque há detalhes que deixaram de ter importância quando se vive numa ditadura de selfies e outfits of the day. “Já não nos preocupamos tanto com a perfeição das coisas, com o Photoshop, o grão da pele, o desfoque. Tudo isso é assumido e ainda bem!”
É aqui que entra, precisamente, o poder das redes sociais. “O Instagram está a tornar as marcas, as celebridades e os influencers mais humildes. Responsabilizá‑las, tirá-las do pedestal por atitudes incorretas, abrir os horizontes para mais ‘corpos’ e cores. Vale tudo, why not? Também sinto toda uma celebração entre colegas. A partilha de trabalhos, o praise geral, acho que vai acontecendo com mais regularidade, principalmente entre as mulheres, e é das coisas bonitas de se ver”, remata. Foi exatamente por isso que as T-shirts com o slogan “We Should All Be Feminists”, da Dior, se tornaram a versão millennial das camisolas de Katharine E. Hamnett.
É impossível pensar em todas estas microrrevoluções sem considerar o peso das cidades que comandam os destinos do planeta fashion. Durante décadas, Paris, Milão, Londres e Nova Iorque tiveram a palavra final em termos de Moda. Not anymore. Há um grupo cada vez maior de cidades que atrai a atenção de editores, entendidos, compradores e… seguidores. Copenhaga, São Paulo, Kiev, Goa, Moscovo, Los Angeles, Berlim… de onde virá o próximo peso pesado da indústria? Entre o glamour barroco de Ulyana Sergeenko, o mundo encantado das irmãs Rodarte e de Yasia Khomenko, a feminilidade subtil de Cecilie Bahnsen e o sportswear girly de Juliana Jabour, o número de criadores que espalha a sua influência para além das suas fronteiras aumenta a cada temporada. Com a explosão da Internet e das redes sociais, o mundo tornou-se a aldeia global de que falava Herbert Marshall McLuhan em meados dos século passado. Além dos likes que sustentam o hype de uma marca nova, há um mercado paralelo que cresce à medida que as semanas de Moda se espalham pelos cinco continentes. Tanto os grandes armazéns como os mais conceituados sites de e-commerce fazem questão de ter no seu portfólio as melhores peças de Peter Do (vencedor da primeira edição do LVMH Graduates Prize, em 2014), Richard Quinn (que arrecadou o Queen Elizabeth II Award for British Design de 2018), Carl Kapp (o sul‑africano aplaudido pelo seu tailoring exímio), Agolde (o último grito de luxury denim, com o selo made in California) ou Ganni (a marca-fenómeno dinamarquesa fundada em 2000 por Ditte Reffstrup e Nicolaj Reffstrup, hoje mais famosa que a própria bandeira do país).
"Achamos que temos de usar algo para obter validação, mas penso que a geração mais nova não se importa tanto." Alexandre Mattiussi
No meio de tudo isto, onde ficam os desfiles? Ainda fazem sentido, ou resistem apenas como a face mais arcaica, e dispendiosa, de um sistema em mudança? “Na minha opinião, as marcas jovens devem concentrar-se no seu universo e na sua estética antes de fazer um desfile. Com o impacto das redes sociais, tens tanto ou mais hipóteses de te dar bem. Julgo que as semanas de Moda serão talvez para umas 100 marcas core e o resto encontrará outras formas, muitas vezes mais baratas e eficazes, de apresentar as suas peças de roupa”, sugeria, em tempos, Alexandra Van Houtte, fundadora do motor de busca Tagwalk, também conhecido como “o Google da Moda”, em entrevista à Vogue. É um facto que não passa despercebido aos novos intervenientes na indústria. Existem cada vez mais designers que preferem comunicar a sua identidade de formas alternativas. As performances de Eckhaus Latta, Iris van Herpen e do recém chegado Tomo Koizumi, a par das apresentações especiais (e ultracuidadas) das irmãs Olsen, na sua firma The Row, e de Rosetta Getty, são exemplos bem‑sucedidos de como há uma preocupação em personalizar os momentos de (maior) contacto com o público – que, por sua vez, está mais interessado em fazer parte de experiências e menos focado em concretizar os seus desejos de consumo.
De volta à causa das coisas. Será que a Moda ainda consegue ser revolucionária e disruptiva, como nos questionávamos? Nim. Sente-se, por todo o lado, uma ideia de “cancelamento do futuro” semelhante à que o teórico inglês Mark Fisher referia no ensaio Ghosts Of My Life (2014) onde aborda o loop sociocultural em que vivemos – e que impede que algo seja realmente novo. Numa das últimas edições da revista Pop, Alexandre Mattiussi, fundador da parisiense Ami (ela própria uma das marcas de eleição de insiders) refletia precisamente sobre as novas facetas da indústria. “A Moda está a mudar, com certeza. Demora tempo, mas já não se trata apenas de editores de moda, celebridades e de quem está sentado na primeira fila. É tudo sobre as pessoas. É como a música. A música funciona ou não funciona. As pessoas que não gostam de música não vão a concertos. A Moda é um pouco mais snobe. Achamos que temos de usar algo para obter validação, mas penso que a geração mais nova não se importa tanto. Ou talvez esteja errado, porque tanto a Balenciaga e como a Off-White estão muito bem, mas ainda assim a roupa reflete a realidade. A Balenciaga de agora não é a Balenciaga de há 10 anos. É streetwear. É por isso que funciona e julgo que o Virgil Abloh na Louis Vuitton é revolucionário. É como um terramoto. Mas é o momento certo para ir por aí e fazer com que tudo pareça real outra vez.”
Na sua revisão dos melhores desfiles da Semana de Moda de Nova Iorque, a jornalista Nicole Phelps perdeu-se de amores pela luxúria minimalista de Tom Ford tanto quanto louvou a decadência disco de Michael Kors; suspirou pela beleza gótica de Marc Jacobs e pelo inconformismo de Gipsy Sport e Telfar. As influencers, por seu lado, debateram-se entre o minimalismo de Gabriela Hearst, o sonho de Ryan Roche e o arco‑íris de Sies Marjan. A Moda, como expressão artística, pode já não ser capaz inventar a roda, mas continua a fazer girar o mundo.
Artigo originalmente publicado na edição de março de 2019 da Vogue Portugal.
Most popular

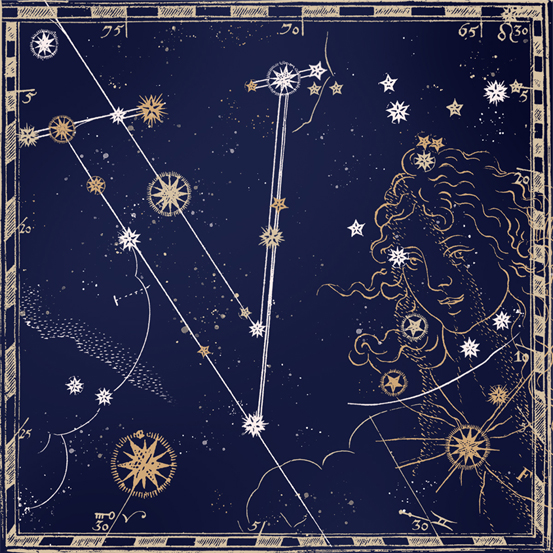
Relacionados

.jpg)