Dez anos depois do seu desaparecimento, relembramos o documentário que honra a vida e a obra do homem que transformou os desfiles em atos de transgressão e poesia pura.
Irreverente. Melancólico. Extraordinário. Genial. Faltarão sempre palavras para definir Alexander McQueen, o criador inglês que elevou a Moda à condição de sonho. Dez anos depois do seu desaparecimento, relembramos o documentário que honra a vida e a obra do homem que transformou os desfiles em atos de transgressão e poesia pura. Com música original de Michael Nyman, McQueen é uma carta de amor feita de imagens em movimento.
Quiseram chamar-lhe enfant terrible e o epíteto colou. Mas Lee Alexander McQueen (17.3.1968-11.2.2010) era muito mais que um miúdo problemático de Stratford, uma zona de Londres onde ser gay não rimava com popularidade ‑ o seu futuro tinha tudo para dar errado. De certa forma, a paixão pela Moda salvou-o: trabalhou como aprendiz em Saville Row, foi assistente de Romeo Gigli, em Itália, e regressado à capital inglesa formou-se na conceituada Central Saint Martin’s – a sua coleção de fim de curso, em 1992, foi um sucesso.
Entre 1996 e 2001 esteve à frente da parisiense Givenchy, em 2003 foi condecorado pela Rainha Isabel II (ano em que também recebeu o prémio de melhor designer britânico pela primeira vez) e em fevereiro de 2010, em vésperas de Semana de Moda, suicidou-se. Pelo caminho, selou amizades que podiam ser histórias de desamor (como a que teve com Isabella Blow), criticou e provocou o sistema, fez da surpresa e do espanto os seus maiores aliados.
O mundo não seria o mesmo depois da revolução provocada pelas bumsters, antecessoras dos jeans de cintura descaída, e do impacto de desfiles como Dante (1996), La Poupée (1997), Golden Shower (1998) ou The Horn of Plenty (2009). Foi com tudo isto em mente que o realizador Ian Bonhôte e o argumentista Peter Ettedgui partiram para a criação de McQueen, o documentário que estreou em abril de 2018 no Tribeca Film Festiva. Os cineastas falaram com a Vogue sobre o intenso processo de criação desta obra.
McQueen era símbolo de obsessão, fantasia, criatividade e imaginação ilimitadas. Tendo tudo isso em mente, qual foi a vossa abordagem para contar a história dele?
Os desfiles de McQueen eram autobiográficos. Ele costumava dizer: “Se quer saber quem sou, olhe para o meu trabalho.” É por isso que, como cineastas, decidimos seguir o conselho dele, e planeámos uma estrutura que nos permitisse contar a história da sua vida e do seu trabalho através de uma seleção dos seus desfiles.
Uma das palavras que define o trabalho de McQueen é transformação. Como é que a sua obra influenciou o modo como decidiram lidar com esta narrativa?
Desde o início que ficámos fascinados com a combinação única de McQueen, que juntava artesanato e tradição com uma quebra de regras quase anarquista. Elas são o yin e o yang do seu trabalho, e podemos encontrar evidências de ambas em todos os seus projetos. Sentimos que poderíamos aproveitar isso na nossa própria narrativa. Por um lado, criámos uma estrutura dramática muito clássica, de cinco atos, mas quebrámos todas as regras do enredo do filme na forma como fizemos as cenas individuais, por exemplo, justapondo material de filmes caseiros low-fi com fotografias lindas ou filmagens de desfiles. Queríamos que o filme se sentisse imaculadamente construído, mas também espontâneo e rebelde – dentro do espírito do trabalho de Lee.
O documentário menciona alguns tópicos menos conhecidos do grande público, como a busca espiritual. A vossa intenção era mostrar o homem por trás do designer, mais do que a figura que nos habituámos a ver como enfant terrible da Moda?
Neste filme, queríamos absolutamente evitar a lenda e, em vez disso, mostrar o homem. Queríamos uma abordagem muito pessoal e muito íntima, para que [o público] pudesse apreciar tanto a força como a fragilidade dele, e queríamos que o público se sentisse como se o acompanhasse nessa jornada extraordinária. Queríamos pôr as pessoas no lugar dele, tanto quanto fosse possível. Para nós, era sobre dar ao público uma jornada imersiva e emocional e criar empatia por ele.

Ao longo do filme vemos gravações antigas, filmagens de desfiles, entrevistas com amigos e colaboradores. Quão difícil foi reunir todo este material?
Foi um desafio incrível. É preciso saber que quando começámos este filme não havia nenhum arquivo original ao nosso dispor. Como resultado, tivemos de trabalhar incessantemente, como detetives, para encontrar o nosso objetivo: acabámos por descobrir e analisar cerca de 200 fontes de arquivos diferentes, dos arquivos pessoais dos nossos entrevistados (amigos, colaboradores e familiares de McQueen) a pequenas livrarias de Moda localizadas um pouco por todo o mundo e que nunca tinham sido catalogadas, muito menos digitalizadas, bem como arquivos de fotógrafos (em especial Ann Ray, Gary Wallis e Robert Fairer) que tinham acesso especial ao mundo de McQueen. O grande desafio de identificar todo este material, grande parte dele nunca antes visto, e reuni-lo num único filme, foi um dos aspetos mais difíceis, mas recompensadores, de fazer este documentário.
Em termos de como o montámos, um bom exemplo é como construímos a história da chegada de Lee a Paris e o seu primeiro desfile na Givenchy. Entrelaçámos um filme caseiro feito por Lee e os seus amigos em Paris e na Givenchy, material de um documentário da BBC, as maravilhosas imagens de Lee tiradas por Ann Ray, um crânio dourado em 3D, original, criado pela nossa equipa de artistas na TBA de Londres, as nossas próprias entrevistas com a equipa que acompanhou Lee até Paris e que o ajudou a montar o desfile, e o arquivo fotográfico do próprio desfile, que encontrámos nos Estados Unidos. Trabalhámos na edição para mesclar todos estes elementos de forma transparente e cinematográfica, usando a nossa estrutura de narrativa e a música de Michael Nyman.
Video da primeira coleção de Alexander McQueen para a Givenchy.
No que diz respeito aos desfiles, é quase impossível não os encarar como instalações de arte. Como foi escolher os que puseram no grande ecrã?
É tão verdade – os desfiles de McQueen são ao mesmo tempo instalações de arte, puro drama teatral e espetáculos totalmente cinematográficos, foi por isso que quisemos fazer um filme e pô-lo na tela grande! A escolha dos principais desfiles tornou-se evidente para nós muito rapidamente, porque há certos shows que revelam claramente a vida emocional de McQueen, as suas obsessões e fantasias; e há outros que são blocos de construção vitais da sua história (por exemplo, a sua coleção de pós-graduação da St. Martins ou o primeiro desfile de Alta-Costura da Givenchy). Nós temos dois desfiles e momentos favoritos: para o Ian é o holograma de Kate Moss em Widows of Culloden e para Peter é Shalom Harlow de tule branco pintado com tinta verde e preta para Number 13.”
No começo do filme, ouve-se a voz de McQueen: ‘Os meus desfiles são sobre sexo, drogas e rock and roll. É para ataques cardíacos. Eu quero ambulâncias.’ Como é que vocês, enquanto artistas, reagem a este tipo de comentário, sabendo que McQueen acabou por se matar? Quando começámos esta jornada sabíamos que, como cineastas, teríamos de confrontar o seu suicídio, e era nossa intenção lidar com isso da forma mais sensível possível, enquanto abraçávamos as emoções trágicas que iam, inevitavelmente, aflorar. É importante lembrar que a personalidade de McQueen combinou a luz e a sombra, e ambos os lados são evidentes nos seus desfiles. Em última análise, no entanto, foi a escuridão que ganhou vantagem e o levou a acabar com a vida. Mas queríamos ter a certeza de que também evocávamos o aspeto da luz – porque estava claro para nós que ele era uma pessoa cheia de vida; além de tragédia, havia muito humor, alegria e diversão na sua história.

O holograma de Kate Moss, outono/inverno 2006
O holograma de Kate Moss, outono/inverno 2006
Os anos na Givenchy foram bastante complicados. Apesar do sucesso, McQueen era terrivelmente infeliz. Depois Isabella Blow morreu. A indústria da Moda, e as pressões que lhe são inerentes, foram demasiado pesadas para McQueen?
É muito fácil culpar as pressões da indústria da Moda pela morte de McQueen. É importante compreender que ele pôs mais pressão sobre si mesmo do que qualquer outra pessoa. Ele foi impulsionado tanto pela sua ambição criativa como pela sua insegurança – ele disse a um dos nossos colaboradores que se sentia compelido a enfrentar o desafio de fazer tantos desfiles porque ‘I’m so fucking insecure’.”
Depois de toda a vossa pesquisa, acham que ele poderia ter sido salvo?
Ah, a essa pergunta é quase impossível responder. A rebeldia fazia parte do seu caráter; exclua isso, e teríamos perdido boa parte do que fez o trabalho dele ser o que era. Ele tinha, sem dúvida, uma relação de amor-ódio com a indústria da Moda mas, uma vez mais, ele canalizou essa tensão para [realizar] arte. O mesmo vale para essa outra tensão na sua vida – entre o outsider, desajustado, que Lee começou por ser, e a superestrela em que Alexander se tornou. Sentimos que McQueen nunca sentiu que pertencia realmente a lugar nenhum, e isso originou uma inquietação que lhe permitiu explorar e criar, mas também nunca deixou que ele fosse inteiramente feliz. Mas é importante lembrar que ele alcançou muito sucesso na sua curta vida – mais do que a maioria de nós pode esperar alcançar numa vida útil muito mais longa.
A banda sonora está a cargo de Michael Nyman. Porque é que o escolheram e qual é a importância da música num filme como este?
O Lee adorava a música de Michael. O Michael adorava Lee e tocou piano no serviço fúnebre. Por isso, para nós, tínhamos de ter o Michael como compositor do filme, nunca houve dúvidas sobre isso nas nossas mentes! Mas há outra coisa: Isabella Blow disse que o trabalho de Lee era como uma combinação de tradição e sabotagem, e a mesma coisa acontece com a música de Michael. Como Lee, Michael é um mestre do classicismo, um artesão, mas também um iconoclasta e um artista. Por último, tanto o designer como o compositor eram miúdos do East End de Stratford!
A vossa produtora chama-se Misfits Entertainment, que por acaso teria sido um ótimo título para este documentário. Porque é que não o usaram?
[Risos] Isso é apenas coincidência, embora seja verdade que, enquanto cineastas, nós os dois nos sentimos um pouco desajustados no nosso mundo, e parte do motivo pelo qual fomos atraídos por Lee é ele ser um desajustado (misfit), um outsider. Mas sempre adorámos McQueen como título. Porque é contundente e sem enfeites, e porque sugere as raízes escocesas de que ele tinha tanto orgulho. E por último, porque esse nome se tornou quase um adjetivo: os amigos no estúdio descrevem desfiles icónicos como sendo ‘very McQueen’.”
Artigo originalmente publicado na edição de junho de 2018 da Vogue Portugal.
Most popular
.png)
.png)
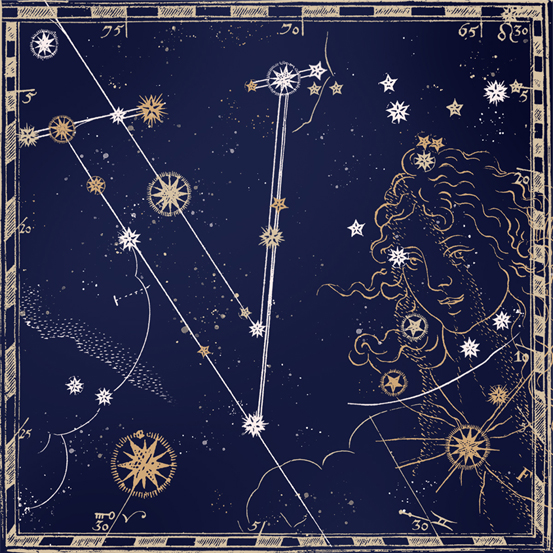
Relacionados



.jpg)

