Os poetas tentaram responder, os músicos tentaram responder, os artistas tentaram responder e os apaixonados balbuciaram qualquer coisa impercetível entre dois beijos melosos. E depois veio a ciência tentar dissecar numa placa de petri o que é que o nosso corpo faz quando o amor acontece.
“What is love?”, perguntava Haddaway ao mundo, em 1993. Os poetas tentaram responder, os músicos tentaram responder, os artistas tentaram responder e os apaixonados balbuciaram qualquer coisa impercetível entre dois beijos melosos. E depois veio a ciência tentar dissecar numa placa de petri o que é que o nosso corpo faz quando o amor acontece.

©Composição gráfica de Sara Marques
Que boa ideia, escrever sobre amor. Já tentou pesquisar “amor” no Google? Não vai muito longe. Ou então vai longe demais. Clicando na página da Wikipédia (escrita, claramente, por alguém de coração partido), é impossível não achar que estamos perante a entrada mais longa da enciclopédia livre (não estamos: em fevereiro de 2018, o artigo mais extenso era o 2016‑17 Coupe de France Preliminary Rounds – dissemos que era longo, não que era excitante). O mesmo acontece no Priberam: 12 definições mais 10 expressões populares para ficarmos exatamente na mesma. Porque, no fim do dia, e no início do dia e em todos os tempos, o amor é de quem o sente. Este é o meu mantra de vida, aprendido de uma amiga daquelas com quem se atravessam desertos, e foi com muito ceticismo (tem de ler mais sobre isto daqui a umas páginas) que me lancei na demanda de entender o que é que a ciência tem para dizer sobre aquilo que não se explica. Sobre aquilo que ainda traz encantamento à cinza dos dias. Sobre aquilo que não faz sentido e que nos dá sentido.
Se encararmos o amor como uma condição 100% emocional, ele torna-se inacessível a qualquer outra pessoa que não nós próprios (e mesmo assim, às vezes nem nós lhe conseguimos tocar). Para os emotivistas, se eu digo que amo alguém, não posso ser questionada. A emoção é minha, a emoção é independente de tudo o resto, a emoção é verdade e não pode ser refutada. O amor é de quem o sente. Se não conseguimos encontrar a natureza do amor, se o amor se coloca para além da análise, talvez seja porque não temos capacidade intelectual de o compreender. Podemos descrevê-lo filosoficamente, psicologicamente, sociologicamente, antropologicamente, patologicamente, mas nunca o conseguimos descrever totalmente, em pleno, por si. O amor é dos poucos termos transcendentes, intocável na sua pureza. O amor não tem hierarquias. O amor é de quem o sente. Mas o que é que sente quem sente o amor? E o que é que biologicamente o faz sentir o que sente quando sente o amor? Antes disto, talvez devamos perguntar: por que raio é que quereríamos estudar o amor?
"Podemos descrevê-lo filosoficamente, psicologicamente, sociologicamente, antropologicamente, patologicamente, mas nunca o conseguimos descrever totalmente, em pleno, por si."
Santo Agostinho encarava o coração como o recetor do amor divino, por isso todo o conhecimento deveria ser procurado através do amor, e não há assim tanto amor em laboratórios e batas brancas. Mas segundo uma entrevista ao The Economist, alguns investigadores afirmaram que estudar os processos biológicos e neuroquímicos que estão na origem do amor e, portanto, das relações entre pessoas, também ajuda a perceber exatamente o contrário: porque é que algumas pessoas são incapazes de criar laços afetivos. E isso até nós gostaríamos de saber.
Também há quem defenda que quando descobrirmos o que é que nos leva a amar alguém, pode ser possível induzir esse amor quimicamente. Queridos, as poções já existem, e não são assim tão boas: num dos seus epodos, Horácio fala da poção do amor como um elixir capaz de imprimir em alguém desejo por quem produziu o feitiço. E esta poção era feita a partir do fígado de uma criança assassinada lentamente pelas bruxas. Assunto encerrado? Claro que não. Porque se conhecermos o amor, conseguimos manipular geneticamente o bebé para que já nasça predisposto para amar – oh, isso sim seria a cura para todos os problemas da Humanidade. A não ser o Trump e o aquecimento global e o fundamentalismo religioso e a supremacia do patriarcado.
Uma questão de química
Fernando Pessoa tentou explicar ao mundo: “Porque quem ama nunca sabe que ama/ Nem sabe porque ama, nem o que é amar…”, mas se há coisa que a ciência não gosta de se sentir é impotente. Então, nos últimos 20 anos, lançou-se na demanda de provar que não há nada de encantado nisto tudo. Lançou-se tão desenfreadamente que em 2004, na reunião anual da Associação Americana para o Avanço da Ciência, dois professores da Universidade de Washington (um de Matemática, um de Psicologia) apresentaram a fórmula que consegue prever o sucesso de um casamento. Ha. Ha. Ao longo de dez anos estudaram discussões entre casais, consideravam conseguir calcular, com uma taxa de 98% de certeza, quem se divorciaria nos primeiros cinco anos (com dois copos de vinho e duas taças de cinismo faço isso gratuitamente). A fórmula começa por acrescentar um ponto por cada sentimento positivo em relação ao outro, e retirar um ponto por cada um negativo. Fácil. Mas a isto junta-se a análise da expressão facial e dos batimentos cardíacos (okay, quatro copos de vinho e uma pós-graduação).
Amar é uma coisa de mamíferos e, mesmo assim, de muito poucos: a monogamia só é atrativa para 3% das espécies e para 3% dos humanos (esta última percentagem foi patrocinada pelas tais duas taças de cinismo e nenhuma pós-graduação). Desconfiamos nós que a ciência partilhe a desconfiança, porque se mostrou mesmo interessada em estudar a monogamia dos… ratos. Mais especificamente o rato-de-água do campo e o seu primo direito, o rato-de-água da montanha. O do campo, quando se apaixona, é para a vida. O da montanha gosta de casos de uma noite e de espalhar a semente pelo maior número de ratas possível. Pausa para reações. O código genético dos dois é idêntico em 99%. Outra pausa para reações. Isto diz-nos que, além do rato da montanha ser um grande maluco com problemas de compromisso, que a propensão para a monogamia não nos está impressa nos genes, mas na química. Não no sentido da atração magnética que sentimos por alguém – a essa já lá iremos – mas literalmente química.
O ratinho do campo é dono e senhor de duas hormonas – oxitocina e vasopressina – segregadas durante a relação sexual e que ativam recetores neuronais nas regiões do cérebro que controlam o relacionamento social e o sentimento de recompensa. O ratinho da montanha bloqueia a segregação das hormonas. O ratinho do campo sente-se genuinamente feliz com o seu parceiro para a vida. O ratinho da montanha não passa informação de felicidade ao cérebro e, por isso, continua em busca apenas da satisfação física e proliferação da praga, perdão, espécie.
Da luxúria à ligação
Em japonês existem duas palavras para expressar o sentimento amoroso, e uma delas lê-se foneticamente “ai”. Literalmente, ai. Isto pode querer dizer que os suspiros que deixámos escapar enquanto percorríamos centenas de páginas de estudos científicos sobre o amor eram, na verdade, sentimentos amorosos? Vamos acreditar que sim e falar das descobertas – entretanto apoiadas pelas tais centenas de páginas de estudos científicos – de uma das pioneiras da química do amor: Helen Fisher, bioantropóloga na Rutgers University e autora de Anatomy of Love: A Natural History of Mating, Marriage and Why We Stray. Ah, e também é consultora no Match.com, claro.
Fisher acredita que podemos dividir o amor em três fases: luxúria, atração e ligação. Em cada fase, e de forma um pouco mais complexa, mas não muito diferente dos nossos amigos do campo, a química corporal comporta-se de maneira diferente. É fácil calcular o que acontece na luxúria (#quemnunca). É a ramboia do estrogénio e da testosterona. Se o sonho comanda a vida, o estrogénio e a progesterona comandam a nossa libido e dizem-nos que tudo o que queremos fazer é reproduzir‑nos que nem coelhos. No seu estudo de 1997 (Lust, attraction, and attachment in mammalian reproduction, em português luxúria, atração e ligação na reprodução dos mamíferos), Fisher elabora que é o nosso corpo que toma as rédeas sem querer saber de nada particularmente pessoal a não ser que o que nos apetece é uma “gratificação sexual” e, quiçá, o cigarro do pós.
Na fase da atração, embora as hormonas também andem aqui a brincar, os fatores psicológicos começam a entrar em cena. A forma como ele enrola o cabelo enquanto está a pensar. Os amorosos olhos inchados quando ela acorda. A falha nos dentes. Mas não se enganem: ainda é o corpo que tem o chicote. Vêm o cortisol, a adrenalina e a dopamina numa suruba incontrolável que causam um efeito demasiado parecido com as drogas pesadas – não é à toa que existem tantos viciados pelas borboletas na barriga. Numa investigação de 2016 publicada na Frontiers in Psychology, Arthue e Elaine Aron propõem que “o amor romântico é um vício natural (e muitas vezes positivo) que evoluiu dos antecedentes dos mamíferos há quatro milhões de anos como mecanismo de sobrevivência que encorajava os hominídeos a emparelhar-se e reproduzir‑se”. Os estudos dos Aron mostram, através de ressonâncias magnéticas, que “quando se pensa numa pessoa pela qual estamos intensamente apaixonados, o cérebro ativa o sistema de recompensa da dopamina, que é exatamente o mesmo que responde à cocaína”, disseram os investigadores ao Mental Floss.
"Fisher acredita que podemos dividir o amor em três fases: luxúria, atração e ligação. Em cada fase, e de forma um pouco mais complexa, mas não muito diferente dos nossos amigos do campo, a química corporal comporta-se de maneira diferente."
Em 1997, Fisher já tinha provado que os novos amantes mostravam, muitas vezes, “um aumento de energia, menor necessidade de dormir e comer, atenção focada e um prazer sofisticado nos mais pequenos detalhes desta nova relação”. E depois vem a ligação. E a oxitocina e a vasopressina, as hormonas culpadas pelo bonding e pelos comportamentos sociais positivos que mantêm as relações – há quem chame à oxitocina a “hormona da conchinha”, porque é produzida no hipotálamo e libertada em grandes quantidades durante o sexo, o parto e a amamentação. Oi? Não diríamos, à partida, que existe uma grande ligação entre estes eventos – parecem-nos tipos de prazeres bastante diferentes, se queremos abusar dos eufemismos –, mas a verdade é que os três são precursores da criação de laços com alguém. Awww.
Ainda há outra convidada com nome na guest list. No clímax da paixão, a química do nosso corpo está absolutamente descontrolada e as hormonas estão todas aos saltos. Todas menos uma. A sacana da serotonina, que nos costuma acalmar e dizer que vai correr tudo bem, baixa 40%. Donatella Marazziti, uma investigadora da Universidade de Pisa, comparou estes níveis aos mesmos presentes no organismo de alguém com transtorno obsessivo compulsivo. Conseguimos perceber a ligação e a falta de noção. Sófocles dizia que “o amor faz o que quer dos deuses”, imaginem o que pode fazer ao mais comum dos mortais. Marazziti acredita que este decréscimo justifica o pensamento irracional dos apaixonados, as atitudes insanas e quase psicóticas e o vício na outra pessoa.
Acredita-se que a excitação sexual desliga regiões do nosso cérebro que regulam o pensamento crítico, a autoconsciência e o pensamento racional. O amor torna-nos burros (finalmente as atitudes de Romeu e Julieta são explicadas cientificamente) e é por isso que a paixão tem, feliz ou infelizmente, um prazo de validade (que varia de estudo para estudo, mas nenhum ultrapassa os dois anos). Donatella explica na sua pesquisa que a paixão se desvanece naturalmente, o cérebro descarrega menos dopamina, as endorfinas reduzem, porque no clímax as alterações químicas são “tão intensas que, se durarem tempo demais, o organismo entra em colapso”. É possível morrer de amor. E é aqui que entra a serotonina. Ela sai de cena quando não queremos sair da cama para nos deixar viciar na outra pessoa. E depois volta com o pequeno-almoço, na sua calma, segurança e paz, e conta‑nos que é ali que queremos estar. É ali que nos sentimos bem.
Não há química sem um pouco de narcisismo
Como estes três processos descritos por Fisher despertam em nós reações químicas e neurobiológicas distintas, é possível senti‑los simultaneamente, por pessoas diferentes. Portanto posso amar o meu namorado, estar apaixonada pelo barman do Lux e sentir atração pelo Adam Driver? Parece-me o melhor de três mundos. E posso sempre culpar a ciência. “É como se houvesse uma reunião de condomínio na sua cabeça”, explica Helen. E bem. Mas continuamos sem saber porque é que nos apaixonamos perdidamente por James Mcavoy e não achamos piadinha nenhuma ao Johnny Depp, embora ele esteja louco de amores (agora podemos dizer afirmações como estas sem acharmos que estamos a hiperbolizar) por nós. Porque é que amamos a pessoa errada? Porque é que amamos a pessoa certa? Porque é que amamos e como é que começamos a amar quem amamos? Abram alas para a química.
A pesquisa da psicóloga Kelly Campbell levou-a a perceber que a semelhança entre as pessoas é crucial para que a química brote dos corações desamparados dos humanos. “Quando conhecemos alguém, se nos apercebemos de pelo menos alguma similaridade, podemos sentir-nos mais à vontade para revelar informação sobre nós próprios, porque acreditamos que a outra pessoa nos vai entender”, escreve no site Psychology Today. “Sentirmo-nos compreendidos é essencial para formar laços relacionais. Por isso, em termos de similaridades, nunca podem ser demais se o nosso objetivo é estabelecer parcerias que nos satisfazem.”
"Quanto mais confiantes estamos na nossa interpretação do que o outro está a pensar, mais nos sentimos atraídos."
No que toca à química romântica, um dos fatores mais importantes é a atração sexual. “Muitos dos participantes dos meus estudos descreveram um forte magnetismo sexual como base para as suas ligações românticas. Surpreendentemente, a minha pesquisa indicou que a atração também é relevante para as amizades, mas numa extensão menor”, escreve Kelly. Os componentes nucleares da química são, assim,o “não julgamento, a similaridade, mistério, atração, confiança mútua e comunicação fluida”. O Santo Graal, basicamente. Por isso é que nos interessamos por quem está perto. 68% dos relacionamentos sérios e 53% dos passageiros começam porque as pessoas são apresentadas por alguém em comum. 60% dos romances nascem em ambientes semiprivados (escola, trabalho, festa privada) e só 10% em bares ou discotecas. E depois também há uma boa dose de narcisismo.
Um estudo de 2016 publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences e desenvolvido por várias instituições alemãs acredita que, subconscientemente, nos sentimos mais atraídos por estranhos quando achamos que conseguimos interpretar corretamente as suas expressões faciais e emoções. Quanto mais confiantes estamos na nossa interpretação do que o outro está a pensar, mais nos sentimos atraídos. A nossa capacidade de reconhecer emoções é uma indicação de que temos com o outro um vocabulário neural semelhante: se entendemos as emoções de estranhos, também nos sentimos compreendidos, o que dá muito peso à teoria (e aos milhares de investigações que a apoiam) de que andamos todos à procura do nosso clone e que a cantiga da Adele era uma falácia e devíamos começar a cantar o refrão com “Nevermind I’ll find someone like me”.
A magia do amor - sim, ela existe
Embora nos esqueçamos demasiadas vezes que somos animais, nós somos animais. Quando escolhemos um parceiro para acasalar – seja no mindset rato do campo ou rato da montanha – os nossos sentidos mais primitivos vêm, inconscientemente, antes de nós sequer sabermos com que órgão estamos a pensar. Os olhos são os precoces, e lá vão eles à procura de rostos simétricos, de um corpo jovem, de uma aparência geral de saúde – seja os cabelos fortes e brilhantes ou a pele macia ou todas aquelas linhas demarcadas da capacidade reprodutiva. Check, a psicologia evolutiva concorda.
Avançamos com passo decidido, mas o nariz atropela-nos. “Onde é que estão as feromonas?”, pergunta. Aquela ideia engraçada que usamos para justificar más decisões dizendo que os opostos se atraem? É só porque temos tendência para procurar pessoas com um sistema imunológico complementar ao nosso, que possa gerar descendentes mais fortes e com mais defesas e capacidade de resistir a doenças. Tão simples, frio e desinteressante quanto isso. E é o nariz que o deteta. Está feliz? Gostou da ausência de imunossupressores e da vaga essência a Boss Bottled? É, pois, mas faltam os ouvidos. Os homens respondem melhor a vozes sussurradas e melódicas, as mulheres tons graves e uniformes. Só depois disto é que partimos para a ação e para aquele beijo que nas expectativas ia ser mesmo gostoso, mas na realidade soube a tsunami e viramos as costas e começamos tudo outra vez.
Amar cansa. Também cansa pensar que isto é tudo um livre-arbítrio e que temos tão pouco voto na matéria. Se voltarmos ao casal Aron e à sua pesquisa, talvez consigamos encontrar nela um pequeno bálsamo. “O que faz as pessoas sentirem-se atraídas ao ponto de se apaixonarem – presumindo que a pessoa é razoavelmente apropriada para elas – é que sentem que o outro gosta delas”, disseram ao Mental Floss. Ah. Só isto? Não, meus caros. Isto e os 15.655 caracteres que leu até agora, se sobreviveu a tantas citações de tantos estudos. Aliás: isto, 15.655 caracteres e tudo o resto que a ciência ainda não conseguiu explicar. Mas os Aron não desistiram.
"O que faz as pessoas sentirem-se atraídas ao ponto de se apaixonarem – presumindo que a pessoa é razoavelmente apropriada para elas – é que sentem que o outro gosta delas."
Já ouviu falar na escritora que se apaixonou enquanto escrevia How To Fall in Love With Anyone por, num date com um conhecido, ter feito 36 perguntas-chave? E que os dois compraram uma casa e foram felizes para sempre? As 36 perguntas foram elaboradas pelos Aron. O intuito era que as questões fossem gerando intimidade com a outra pessoa, num sentimento de mútua semelhança e na sensação de que o outro começava a gostar de si. O objetivo não era o amor romântico – pelo menos não nas experiências que fizeram nas suas aulas –, mas a criação de laços. As questões do Aron, que vão aumentando de volume na escala da intimidade e que, se o objetivo for promover o romance, devem acabar com quatro minutos a olhar intensamente para os olhos do outro (awkward) oferecem uma “intimidade acelerada” e pelo menos ficamos logo a saber qual é a relação que o outro tem com a mãe.
Respiremos fundo e tentemos assimilar todos estes factos e investigações e certezas absolutas e hormonas, neurotransmissores, hipotálamos, reações, inconsciências. Será que a ciência conseguiu mesmo drenar o encantamento do amor? Não são fascinantes as convulsões diabólicas a que o nosso corpo se propõe para que tenhamos prazer, para que encontremos a felicidade?
As manifestações físicas de uma necessidade primária de amar tornam o amor um ato complexo, profundo e inimaginavelmente absoluto. Percebemos quão difícil é apaixonarmo-nos – quão humano e desumano simultaneamente é para a nossa carne suportar os abalos violentos da atração – e percebemos a gratidão profunda que temos de oferecer assim, de mãos beijadas, a quem deixou que a sua pele também explodisse por nós. Percebemos quão transcendentes são os pequenos bocados que ainda não conseguimos entender. Percebemos que o amor nasce dessas lacunas que se rejeitam a ser vistas a microscópios quando são, obviamente, produto maior de um macrocosmos cheio de estrelas. Depois disto, depois de tudo isto, vamos mesmo dizer que não acreditamos em magia?
*Artigo originalmente publicado na edição de outubro 2018 da Vogue Portugal
Most popular

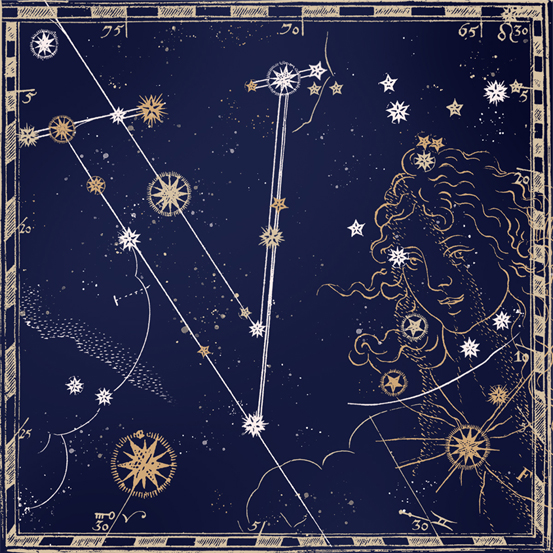
Relacionados


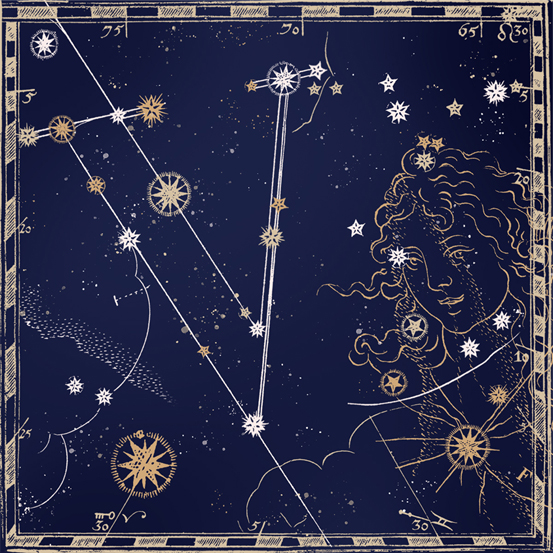
.jpg)


