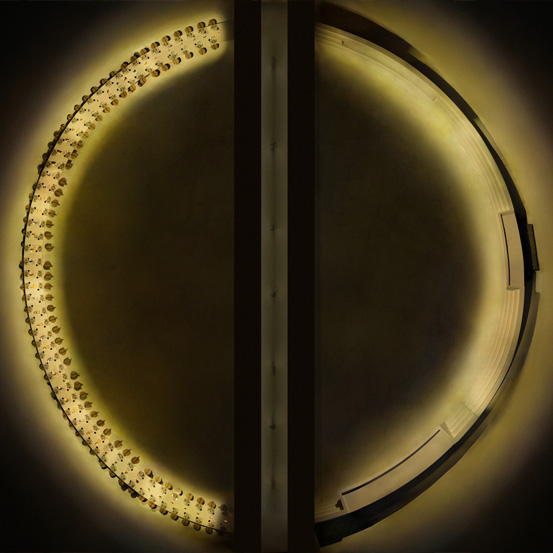Se, durante a última década, teve oportunidade de aceder a um dispositivo com wifi, é provável que tenha ouvido falar de apropriação cultural. Também é provável que tenha uma opinião sobre isso. E também é provável que a mude depois de ler este texto.
Se, durante a última década, teve oportunidade de aceder a um dispositivo com wifi, é provável que tenha ouvido falar de apropriação cultural. Também é provável que tenha uma opinião sobre isso. E também é provável que a mude depois de ler este texto.

Chola Victorian era o nome do inverno 2015 da Givenchy ©ImaxTree
Na era das redes sociais, a crítica chega mais rápido a um linchamento público do que Karl Lagerfeld consegue desenhar outro fato em tweed. Facebook, Twitter e Instagram são, ao mesmo tempo, denunciantes anónimos, polícia de investigação, tribunal e cadeira elétrica, e ainda que sirvam para delatar o que, antes, se varria para debaixo do tapete, poucas coisas se discutem sem que a sentença não esteja já decidida. A apropriação cultural é, muito provavelmente, o melhor e o pior exemplo. Osman Ahmed explicou-o tão bem em junho deste ano no Business of Fashion que não resistimos em citá-lo: “Um boomerang Chanel, dizem? Queimem o 31, Rue Cambon! Uma acusação de maus tratos por uma modelo no Instagram e no Facebook? Enviem ameaças de morte aos filhos do diretor de casting! A referência da Gucci a Daniel “Dapper Dan” Day, o mesmo homem que usou a imagem da marca italiana nos anos 80? Como se atrevem? Morte a Alessandro Michele! É a festa nazi da Moda!”
O caso de Dapper Dan é particularmente interessante. Nos anos 80, Daniel Day importava padrões com logótipos da Louis Vuitton, Fendi e, sim, Gucci, da Coreia e, na sua loja em Harlem, transformava-os em streetwear e vendia-os à elite do hip hop por milhares de dólares. O mesmo homem que aproximou (através de falsificações, é certo) a cultura de rua das grandes marcas foi homenageado por Alessandro Michele na coleção resort de 2018 da Gucci e, por isso mesmo, Michele foi apedrejado em praça (ou feed, melhor dizendo) pública. No que é que isto resultou? Alessandro veio a público explicar a referência a Day e, agora, Dapper Dan vai colaborar com a casa italiana. Obrigada, haters.

O look da coleção resort 2018 da Gucci é inspirado em Dapper Dan ©Getty Images
Há outro exemplo flagrante. Num vídeo que se tornou viral, uma estudante negra perguntava se alguém lhe emprestava uma tesoura para cortar as rastas de um rapaz branco, alegando que ele não podia usar o cabelo daquela forma porque as rastas pertencem à cultura negra. Apesar da agressividade do vídeo, a opinião pública ergueu cartazes de apoio aos argumentos da estudante. Aquele rapaz estava, como é ó-bvi-o, a apropriar-se desrespeitosamente de algo que não lhe pertencia e a ofender tacitamente a comunidade negra, detentora da patente das rastas. Só que há uma questão: conseguimos mesmo rastrear a quem é que um penteado pertence? E, mais do que isso, temos o direito de dizer quem pode usar o quê por causa do seu tom de pele? Vamos mesmo voltar aí?
Neste caso específico das rastas — especialmente recorrente, Marc Jacobs que o diga —, uma breve pesquisa no Google pode nublar toda e qualquer certeza da sua origem e, portanto, da sua pertença. As rastas chegaram ao ocidente no século XIX, quando se começaram a trazer trabalhadores da China e da Índia (eram usadas pelos homens hindu porque replicavam os cabelos da deusa Shiva) por preços muito baixos para substituir os então ilegais escravos. Porém, na Grécia antiga e no antigo Egipto, já há registos de rastas. Dizia-se também que os celtas “usavam o cabelo como cobras”. Encontramos, mais uma vez, um conto hiperbolizado da galinha e do ovo cujo resultado é chamar nomes feios a um designer que enviou modelos brancas para a passerelle com rastas coloridas (primavera/verão 2017, inspiradas em Lana Wachowski e os club kids), ou um estudante que, provavelmente, só tem o Bob Marley como ícone de estilo. Já nem vamos falar das centenas de mulheres queimadas naquela pira chamada Internet porque, durante os tratamentos de quimioterapia, se atrevem a usar turbantes. (“Se se querem esconder, usem lenços. Não usem o cancro como desculpa para negar a apropriação de uma peça que não pertence à vossa cultura”, lê-se numa quantidade alarmante de tweets.)

As rastas da coleção de primavera 2017 de Marc Jacobs ©ImaxTree
Não estaremos a ser demasiado rápidos a apontar o dedo? Da mesma forma que se exige aos criadores uma maior pesquisa e um maior respeito pelas culturas que estão a tentar apreciar, não deve a geração de tochas e forquilhas na mão informar-se sobre as origens das inspirações e o trabalho por detrás de uma coleção antes de começar a fazer alongamentos nas mãos para escrever ameaças à velocidade da luz? Se os debates não começarem a ser moderados e se os argumentos não se restringirem aos limites do respeito e da informação fundamentada, estamos a ficar para a criatividade com a mesma postura que Donald Trump tem perante a imigração. Quando deveríamos celebrar a unidade, construímos muros. Literais ou digitais.
Quando é bem fundamentada, a apropriação cultural pode ser uma força do bem. Na mesma passerelle, ou, até, no mesmo look, conseguimos criar uma troca cultural e enriquecer o vocabulário para designers, artistas e criativos no geral, como uma força una que derruba quaisquer barreiras política ou socialmente impostas. Se não existisse uma fluidez cultural, se não emprestássemos e adaptássemos a arte e a Moda que temos disponíveis à distância de um clique, chegaríamos a uma estagnação cultural. Tem de haver mudança, tem de haver diversidade. A Moda pode ser um integrador cultural e gerar diálogos interessantes entre lugares que, geograficamente, nunca se encontrarão. Até porque, como nos diz a nossa editora de Moda, Cláudia Barros, “o papel da Moda é precisamente o da normalização. É quebrar os preconceitos, eliminar os estereótipos, mostrar que o que dantes era condenado também pode ser bonito e, acima de tudo, é normal”. A Moda é aceitar todas as formas de beleza, é torná-las válidas.
Agora, vamos pegar nas nossas carteiras, pô-las ao ombro, levantarmo-nos e voltarmos a sentar-nos no outro lado da bancada. Porque é que têm de ser as passerelles, maioritariamente ocidentais, a validar algo que foi criado há séculos? Ana Sofia Martins escreve-nos que “o problema da apropriação cultural é, muitas vezes, ser retratada como assimilação. Vejamos o exemplo dos cabelos. Muitas mulheres negras são muitas vezes penalizadas nos locais de trabalho por usarem os cabelos com a sua textura natural (muito mais na América do que na Europa) e, no entanto, se uma colega caucasiana aparecer no mesmo local com umas tranças ‘exóticas’ nada lhe acontece. O problema da apropriação cultural é querermos celebrar, homenagear outras etnias e outras origens sem a presença das mesmas. Ou seja, é quase como ser o nosso aniversário, os nossos amigos organizarem uma superfesta e ninguém nos convidar. A culpa é do hype que se cria em volta de algo que já lá está há anos e, quando um caucasiano (regra geral é um caucasiano), usa ou promove, já é considerado aceitável”. É injusto, especialmente porque as mulheres negras sentem pressão de ocidentalizar o seu cabelo desde a escravatura e do colonialismo (batata e soda cáustica queimavam o cabelo até ficar liso; a gordura, domava-o).
Mas, afinal, o que é a apropriação cultural?
A apropriação cultural é definida como “o conceito sociológico que vê a adoção ou o uso de elementos de uma cultura por membros de uma cultura diferente como um fenómeno largamente negativo”. Ou como Dounia Tazi explica brilhante na Dazed, “imagina que ‘tweetaste’ uma piada brilhante e hilariante que teve zero likes e retweets. As pessoas até podem chamá-la de lame ou gozar contigo por tê-la postado. Alguém com muitos seguidores, que é visto de forma favorável, copia exatamente o teu tweet e este torna-se viral. Acaba em grandes plataformas noticiosas, screenshots da piada são repetidamente esfregados na tua cara quando entras no Instagram, lembrando-te que alguém que tem uma maior presença na Internet do que tu recebeu reconhecimento, crédito e lucro por alguma coisa que tu criaste”. Dói, não dói? Danielle Kwateng, fundadora do The Volta (uma concept store digital que agrega produtos de artesãos da diáspora africana) conta-nos que ficou “especialmente irritada quando as ‘cornrow braids’ começaram a chamar-se ‘boxer braids’ pelas publicações mainstream” e, de repente, se tornaram cool. Porque é que, antes, não o eram?

Em 2015, a atriz e ativista Amandla Stenberg abordou o tema da apropriação no YouTube com um vídeo intitulado Don't Cash Crop My Cornrows ©Getty Images
Muitas vezes torna-se difícil explicar à cultura ocidental qual é, exatamente, o problema de apropriar. Maria Qamar, uma artista desi que criou a HateCopy, uma página de Pop Art que explora, precisamente, os confrontos interiores de uma mulher de descendência indiana a viver num mundo ocidentalizado, afirma que a “cultura ocidental é largamente influenciada por todas as culturas que contribuíram para a nação. Crianças que crescem no ocidente estão mais expostas a diferentes religiões, nacionalidades e modos de vida, por isso, consigo imaginar que possa ser difícil diferenciar”. No entanto, quando os argumentos são bem fundamentados, informados e coerentes, o que é difícil é não entender os dois lados da questão.
Jessica Andrews, editora de Moda digital da Teen Vogue, verbalizou numa conferência que “quando as marcas se apropriam culturalmente enquanto discriminam pessoas de cor, a mensagem é a de que os teus penteados ou o estilo com que te vestes é aceitável, mas o teu corpo e a tua vida, não. (...) A geração mais jovem é ponderada nas suas compras e quer gastar dinheiro em marcas de Moda que sejam inclusivas no que toca ao casting de modelos e à contratação da equipa — marcas de Moda que façam um esforço concertado em respeitar outras culturas para além da sua. Com esta nova geração, estamos a ver uma mudança na indústria. Agora, a representação importa, igualdade de salários importa, a posição política e social de uma marca importa”; mas Andrews continua, dizendo que “a ideia de que a apropriação cultural impede um criador de ir buscar inspiração a outras culturas não é necessariamente verdade. O problema chega quando tiras de outras culturas sem as devidas diligências: reconhecer a cultura que popularizou o look e respeitar os símbolos que são considerados sagrados”.
“Quando as marcas se apropriam culturalmente enquanto discriminam pessoas de cor, a mensagem é a de que os teus penteados ou o estilo com que te vestes é aceitável, mas o teu corpo e a tua vida, não.”
Numa entrevista a Rebecca Gonsalves para o The Independent antes da sua exposição no Les Arts Décoratifs, em Paris, Dries van Noten explicou que “não podes simplesmente fazer o que te apetece. Quando é sagrado, quando é religioso, tens de ter cuidado. Não é só um objeto, não é só uma coisa. Quero respeitar isso. Penso que há coisas suficientes no mundo para que não tenhas de ir por aí. É importante que seja honesto, mas é Moda, não tenho problema nenhum em misturar motivos japoneses com emblemas chineses no mesmo tecido, por exemplo.”
A questão — e esta é uma faca de dois gumes — é que a base criativa da Moda não mudou. Há décadas que inserir elementos de outras culturas é a génese do pensamento do design (haveria Yves Saint Laurent sem os Ballets Russes? Haveria folk, no geral?). O que é que mudou, afinal, para que a apropriação cultural seja a voz mais alta de todas as semanas de Moda nos últimos anos? “Vivemos tempos em que há uma busca pela diferenciação própria, porque até ser diferente já é mainstream”, explica-nos Paula Guerra, socióloga especializada em Sociologia Cultural. Porque vivemos num mundo cada vez mais global e homogéneo, há cada vez mais uma “emergência de localismos e da defesa de algumas identidades locais, também muito na lógica de uma globalização cultural, artística e económica, há também, por parte das pessoas, uma necessidade de voltar ao local. Chama-se localização, que tem a ver com uma defesa das identidades locais”. Contudo, fala-se muito, também, do desrespeito ocidental pelos valores do resto do mundo e grita-se que estamos perante uma nova vaga de imperialismo e colonialismo (ainda que apenas intelectual). A isto, Paula diz-nos que não se trata de imperialismo, mas de “uma nova vaga do capitalismo, chamada capitalismo tardio. Não estamos numa lógica de produção em massa do pós II Guerra Mundial; hoje, é a diferenciação e é aí que está o ganho”.

Para a primavera 2016 da Osklen, Oskar Metsavaht visitou a tribo ashaninka e voltou com cores, padrões e designs para a coleção ©ImaxTree
É assim que chegamos ao fator económico do problema. Para além da problemática dos créditos — Kwateng clarificanos que “este debate é válido e vai a algum lado em termos de dar os devidos créditos àqueles que começaram as tendências mainstream. Os millennials são a geração delatora que não tem medo de reconhecer publicamente quem é que deve ser creditado”. Num mundo ideal, um criador partilharia todo o processo de construção da coleção com a cultura que o inspirou: planeamento, confeção, opinião e, no fim, os lucros. Já há casos de sucesso nestas parcerias. Para a primavera 2016 da Osklen, por exemplo, Oskar Metsavaht (o seu fundador e diretor criativo) visitou a tribo ashaninka e voltou com cores, padrões e designs para a coleção. Em troca, a tribo recebeu royalties das vendas e ainda sensibilizou o público para a sua luta com vista a proteger o seu território contra a degradação ambiental e a desflorestação ilegal. Sobre a colaboração, Metsavaht disse que “partilhar valores, partilhar visões, partilhar os lucros, penso que é a melhor forma de trabalhar. Esta é a magia do estilo. É a magia da arte. É a magia do design”.
Stella Jean é outro exemplo genial. A criadora, que tem genes italianos e haitianos, integra, em todas as temporadas, novas tribos e artesãs numa comunhão de partilha e troca de saber, de valor, de amor. Jean disse à Vogue que “a Moda pode ser usada como um tradutor cultural e uma ferramenta contra a colonização; reestabelece o equilíbrio entre símbolos, histórias e mundos diferentes através do estilo. (...) A Moda deu-me um espaço amplo para manobrar e encontrar um lugar onde diferentes culturas conseguem coexistir”.
“Partilhar valores, partilhar visões, partilhar os lucros, penso que é a melhor forma de trabalhar. Esta é a magia do estilo. É a magia da arte. É a magia do design.”
Mas onde é que um criador encontra a linha que separa a apreciação da apropriação? Como em quase tudo na vida, uma das maiores qualidades do fenómeno de denúncia de apropriação cultural é também um dos seus maiores defeitos: a Internet, um episódio contínuo de Prós e Contras, onde só as vozes mais altas e mais zangadas é que são ouvidas. Deixamos de saber quando é que pode ser um problema e quando é que pode ser a coisa mais bonita de todas. A diferença está na informação. Augusto Glüher, um designer brasileiro que focou a sua tese de mestrado na apropriação cultural, escreve-nos que “intenção, empatia e respeito são fundamentais neste caso. Este limiar é confuso mesmo para o mais experiente dos profissionais. Grandes marcas de Moda têm por hábito enviar as suas equipas criativas para outros países com o intuito de pesquisar e trazer elementos de estilo. Contudo, é necessário que este seja um olhar empático e reverencioso, de engajamento com as minorias e de intenções que vão além da exploração comercial. Aprender através dos ‘olhos de outro’ é envolver-se com as suas expressões culturais e artísticas, respeitando tudo aquilo que transcende o material e a Moda: a sua linguagem, identidade e história.”
A fluidez cultural e a experimentação deu-nos o jazz, as árvores de Natal, o ramen. Somos melhores quando não nos colocam etiquetas e maiores quando aprendemos e bebemos de alguém culturalmente distinto de nós. E no que toca ao estilo pessoal? Enquanto escrevo isto, olho com uma certa culpa para o meu armário. Tenho uma quantidade comprometedora de capulanas que a minha família me trouxe de Angola e que uso sem qualquer pudor porque nunca vi vestidos tão cool, tão simples e tão despretensiosos na vida. Tenho um vestido eximiamente bordado vindo de uma viagem à Tunísia. Nunca pensei duas vezes em comprar um turbante ou umas argolas pornograficamente gigantes, mas também nunca saí à rua a pensar que estou a ofender alguém. Estarei? Maria Qamar é muito pragmática neste aspeto. “Não é o dever de uma mulher de cor explicar o que é ou não é okay os brancos tirarem de nós. O Google é o teu melhor amigo. Aprende a história da cultura que te interessa e lê sobre ela e ponto final.” Tanto sangue derramado e, no fim do dia, é tudo uma questão de sensibilidade e bom senso.
Most popular

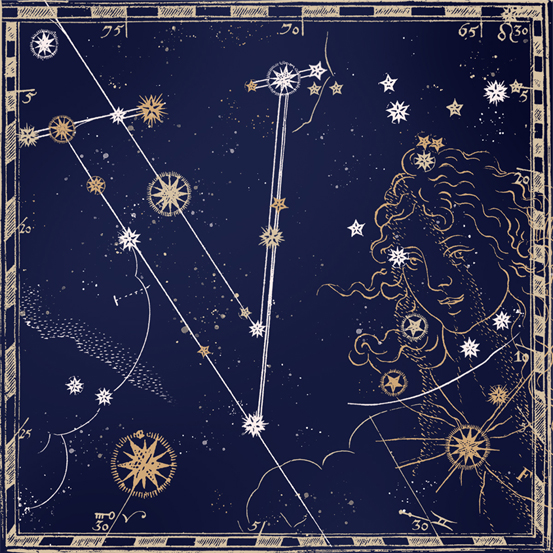
Relacionados
.jpg)
Alice Trewinnard prepara-se para a GQ Night of the Year | Beauty Confessions
23 Nov 2024

.jpg)