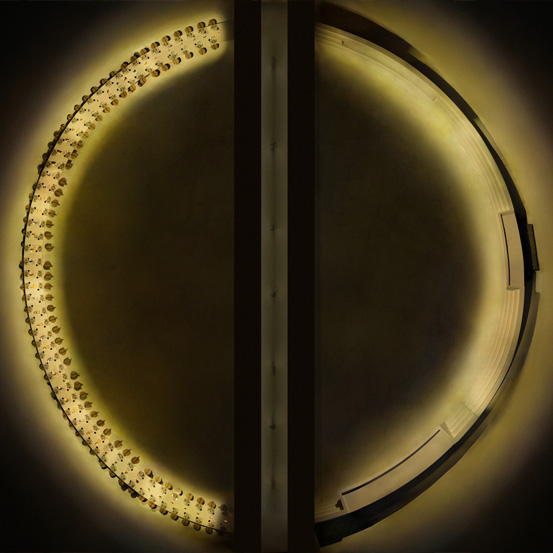Enclausurado em olhares e sentenças coniventes durante muito tempo, o assédio sexual hoje assume-se protagonista no debate público. As vítimas continuam a ser descredibilizadas, os argumentos permanecem. Mas uma coisa é certa: perfuma a empoderamento.
Enclausurado em olhares e sentenças coniventes durante muito tempo, o assédio sexual hoje assume-se protagonista no debate público. As vítimas continuam a ser descredibilizadas, os argumentos permanecem. Mas uma coisa é certa: perfuma a empoderamento.
©Condé Nast Archive
Seria reconfortante dizer que sempre se falou dele. Traria algum alento revelar que durante anos entre mulheres, entre amigas, se falou de um assunto transversal a todas. Mas não. O assédio sexual foi assunto‐tabu durante séculos, e a empatia da sororidade resignou‐se durante muito tempo a mirares cúmplices, de quem compreende o que outra quer dizer quando admite que o metro à noite é um espaço a evitar, ou que a multidão num festival de música a deixa desconfortável.
Em 2018, o caso mudou radicalmente de figura. O assédio sexual está nas televisões, nos jornais, nas redes sociais. Está na ordem do dia, à distância do próximo post. Mas para que não nos acusem de memória curta, Ana Guerreiro, investigadora na área dos Estudos de Género, lembra que este foi – é – um longo processo. “Da mesma forma que a violência [doméstica] passou para [crime] público, e foi na altura uma das grandes reclamações dos movimentos feministas dos anos 70 e 80, em que havia uma necessidade de trazer a público o que estava no privado”, também o assédio sexual tem agora o seu momentum.
“O assédio sexual é provavelmente uma das maiores formas de preconizar os estereótipos de género”, atenta a investigadora, que é também membro da direção da UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, uma associação de direitos das mulheres criada dois anos depois do 25 de Abril. “Vamos aprendendo desde cedo, através de um sistema patriarcal, através de um sistema em que há uma clara opressão da mulher e uma educação para as diferenças de género, que nos temos de comportar de determinada maneira e que temos de aceitar certas coisas: uma boca, um piropo que nos é mandado no espaço público, mas também no espaço privado, não só na questão da verbalização, mas também noutro tipo de comportamento que envolva o toque, o exibicionismo, etc.”
Ana é pragmática quando diz que “só falando deste assunto no espaço público é que conseguimos evoluir” e que movimentos como o #MeToo foram essenciais para lá chegar. “A verdade é que a partir do momento em que uma de nós reclama, as outras ganham força para trazer a público as suas situações.” É certo que quando uma reclama as outras poderão ganhar força, mas o cliché “a união faz a força” ganha sentido literal quando falamos com Carolina Marcello, membro do Slut Walk Porto, um movimento que surgiu no Canadá depois de um agente policial ter declarado numa conferência na Universidade de Toronto que as mulheres deviam “evitar vestir‐se como galdérias (sluts)” para não sofrerem violações.
Na Invicta, reapropriaram o termo “galdéria” e questionam o rótulo: “Não há ‘nós’ e ‘as outras’, ‘as boas’ e ‘as más’, estamos todas no mesmo barco e temos de remar juntas.” “Esta ideia de dress code para o assédio simplesmente não corresponde à realidade. Os ataques podem acontecer em todos os contextos e situações, e são exclusivamente causados pelos comportamentos criminosos dos agressores, nunca pela roupa que vestimos”, afirma Carolina. A normalização do assédio é quase uma não questão. “É algo que faz parte do nosso dia a dia. Somos ensinadas a entender o assédio como elogio ou brincadeira inofensiva, é esperado que sejamos simpáticas e sorridentes em troca, mesmo quando nos sentimos desconfortáveis e inseguras. Quando alguém invade o nosso espaço, quando ficamos com medo de andar na rua ou de apanhar um transporte público, quando entramos em casa ou no carro a correr de noite... tudo isto são exemplos de como o assédio sexual é algo que faz parte do quotidiano das mulheres”, retrata.
Contudo, a culpabilização da vítima é, para Carolina Marcello, ainda o principal problema. “É a norma na nossa sociedade. Habitualmente, a primeira reação que uma vítima recebe quando conta a sua história é desconfiança, descrédito. É questionada, humilhada, há um escrutínio absoluto de todos os aspetos da sua vida, em busca de um motivo para a culpar, para apontar o dedo e tentar responsabilizá‐la pela violência que sofreu”, diz, assumindo que os padrões de argumentação nem têm de ser elevados. “Qualquer razão mirabolante parece servir: a roupa, a maquilhagem, o horário, o lugar, a nacionalidade, a profissão, se dançou, se bebeu, se estava feliz... É ridículo pensarmos que alguma destas coisas pode justificar”, diz.
Argumentos e espantalhos
A questão da justificação leva-nos a procurar perceber se a forma como percecionamos o assédio sexual pode estar, de alguma forma, relacionada com a argumentação. Ana Pereira de Andrade, professora de Argumentação e Retórica na Faculdade de Direito da Universidade Católica, no Porto, esclarece: “Nesta questão nem se trata de argumentos válidos ou inválidos, trata-se de argumentos que estão assentes em premissas erradas. Ou seja, parte-se do princípio de que determinadas questões, que são uma questão de opinião e não uma questão de facto, são factos.”
Para Ana, os debates em torno do assédio sexual estão muitas vezes relacionados com as representações sociais do que é um homem e uma mulher. Discutir o assédio sexual pode levar à utilização de argumentos “absolutamente destituídos de sentido porque partem de representações que não são reais, dessa ideia do homem quase apático, que os seus impulsos sexuais dependem da forma como a mulher se apresenta”. Os papéis de género não são, contudo, o único facto que pode comprometer a objetividade quando se analisa um caso. “Aquilo que eu noto é que as pessoas baseiam os seus argumentos não só nestas representações, mas também nos afetos. Ou seja, quem gosta do Cristiano Ronaldo, ou do homem que é abusador, tende a desculpá-lo, quem não gosta tende a atacá-lo. Mais uma vez, é partir de premissas erradas.”
Argumento para lá, premissa para cá, algo não deixa dúvidas: há estratégias retóricas que podem ser utilizadas para descredibilizar as vítimas. “Uma das mais fáceis e que é sempre muito usada é a falácia ad hominem, que é a estratégia de atacar a pessoa em vez da argumentação da pessoa. Ou seja, ‘ela diz que foi assediada, mas toda a gente sabe que ela tem muitos namorados’”, exemplifica a professora universitária, resumindo que “a pessoa pode estar até nua que não tem de ser assediada, não tem de ser atacada”.
Distinta, mas também uma opção, é a falácia do espantalho. “Trata-se de ignorar o argumento mais forte, neste caso ‘a pessoa foi assediada’ e desviar a questão para ‘ah, mas isto agora toda a gente diz que foi assediado, já ninguém pode acreditar em nada’.” “Ou seja, [é] desviar a questão, ridicularizando-a e tornando-a uma coisa banal, que não merece o nosso interesse”, conclui.
A fechar a tríade de estratégias mais utilizadas está a falácia ad misericordiam, um argumento usado para tentar desculpabilizar o agressor, como explica Ana. “Do género: ‘Coitado, mas uma pessoa deste calibre social lá precisa de violar alguém?’. Não sei o que é que as pessoas estão a tentar dizer, mas só assedia sexualmente quem é um perfeito monstro?
A história prova o contrário, que os maiores assediadores têm muito poder e é por isso que podem assediar como podem. Mas se identificar os argumentos falaciosos é assim tão simples, porque é que continuamos a ouvi-los? “É muito mais fácil eu atacar com falácias a argumentação do que estar a tentar compreendê-la. Tentar perceber porque é que esta pessoa está a dizer o que está a dizer, quais são as razões para ela dizer o que está a dizer”, descreve. Até porque a repetição continuada tem efeitos: “As pessoas porque já ouviram dizer 500 vezes sentem-se legitimadas para repetir as falácias, nomeadamente estas de ataque puro.”
O pensamento crítico parece ser o único barco a remar contra a maré falaciosa, que, segundo a docente do Porto, é mais facilmente disseminada do que a boa argumentação. É um daqueles casos em que ponderamos se será o universo a conspirar contra nós. Mas há uma explicação lógica para a falta de lógica, passando a redundância. “A falácia é sempre muito mais propagável do que o pensamento profundo porque esse dá muito trabalho e obriga-nos a ir ao fundo da argumentação e a descobrir que afinal a nossa não é assim tão forte e que precisa de uma revisãozinha. E isso as pessoas não querem fazer”, atesta Ana Pereira de Andrade.
Quando se desmonta as estruturas e os objetivos deste tipo de argumentação, torna-se mais claro encontrar o preconceito enraizado. “Neste momento estou preocupada com uma grande questão que é a sistemática culpabilização das vítimas. E a desculpabilização do agressor”, alerta a investigadora Ana Guerreiro. “Obviamente que não estamos a dizer aqui que o Ronaldo tem culpa, obviamente até que provem o contrário ninguém é culpado”, diz, lembrando que o grande princípio do Direito, o da presunção da inocência, tem de ser respeitado. “Agora, é preciso também ter em mente que o que acontece em praça pública, nas redes sociais, é uma constante culpabilização da vítima e descredibilização da vítima”, conclui.
A repercussão dos casos mediáticos é uma das questões que se levanta, e o caso de Cristiano Ronaldo, acusado por uma mulher de alegadamente a ter violado, tem polarizado a opinião pública. “Toda a gente sai a defender o Ronaldo, e aceito muito bem que o façam, mas automaticamente, em vez de ter uma atitude neutra perante a situação, têm uma atitude de clara defesa do agressor em detrimento da vítima que passa a ser a culpada e posta em causa”, denuncia a investigadora. “É quase como alguns investigadores da área que lhe chamam uma ‘caça às bruxas’. Porque efetivamente o que acontece é desculpabilizar o agressor e culpabilizar a vítima: ‘porque é que ela só veio agora falar?’ Quando há uma série de motivos que levam a que isto aconteça.”
Solidariedade e empoderamento
A 10 de outubro, o episódio do programa Linha Aberta com Hernâni Carvalho, na SIC, dedicado à violência doméstica, mostrou uma vítima do crime, em entrevista, a ser questionada sobre o caso recente que envolveu Cristiano Ronaldo. Emília (nome fictício) condena veemente Kathryn Mayorga: “Será que esta rapariga quando subiu ao quarto subiu com uma arma apontada? Enquanto esteve a ser violada teve uma arma apontada? Não.” “Esta senhora põe as coisas de uma forma muito... não parece, mas é muito objetiva”, comentou de imediato o apresentador do programa, Hernâni Carvalho.
Em estúdio, Maria Cunha Louro, psicóloga forense, corrigiu que, na verdade, “ela (Emília) põe as coisas como ela perceciona a situação, portanto, qualquer pessoa que sobe a um quarto, não é por subir a um quarto que tem direito a ser violada”. Ver uma mulher a falar de outra nestes termos numa televisão em sinal aberto faz-nos pensar, afinal, o que é que se pode fazer no espectro oposto: o empoderamento das vítimas.
Numa casualidade feliz, é no Dia Municipal para a Igualdade que conversamos precisamente com Maria Cunha Louro, que nos diz que a solidariedade feminina é importante, mas que há outras formas de ajudar ao empoderamento. “Além da educação, que é a base de todos nós, a questão da própria justiça e o que faz neste tipo de casos. Porque as sentenças são também uma mensagem para a sociedade em geral. É preciso assegurar uma correta aplicação da lei e uma justa punição, porque é preciso passar uma mensagem para a sociedade geral que este tipo de situações não é aceitável, não só socialmente, mas do ponto de vista do próprio direito”, explica.
Daniel Cotrim, da APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, acredita que um dos veículos para o empoderamento está no exercício de uma cidadania ativa. “Ter comunidades ativas, que sejam parceiras do sistema, para denunciar a violência contra as mulheres, que discutam aspetos relacionados com a igualdade e com a cidadania, que discutam as questões do empoderamento.” Para o assessor técnico da direção da associação, hoje o empoderamento está a ser feito ao contrário. “Cada vez que digam a um homem que agora ficou com pena suspensa, para ele isto é uma absolvição, é um arquivamento de processo. Vai dizer ‘estou livre e ninguém acredita em ti’. O que temos de fazer é literalmente passar uma mensagem do sistema exatamente oposta, que é: o sistema tem de ser rápido na sua resposta, as respostas judiciais têm de ser cumpridas dentro do seu tempo.”
Justiça divide o problema
Na lei portuguesa, o assédio sexual está presente em dois sítios distintos. Está no artigo 170.º do Código Penal, referente ao crime de importunação sexual, em que estão previstas as situações de exibicionismo, verbalizações de teor sexual e contacto físico, e está no artigo 29.º do Código de Trabalho, de uma forma mais ampla, onde se inclui o assédio moral, mas também o assédio sexual. No entanto, este último não é considerado crime, mas antes uma contraordenação muito grave. “Há esta visão quase dupla do mesmo problema”, explica Daniel.
Em 2015, um estudo desenvolvido pelo CIEG – Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, sobre assédio sexual em meio laboral, pôs Portugal entre os países da Europa com maior taxa de assédio. A publicação revelou que 14,4% das mulheres já fora vítima de assédio sexual no trabalho. Já no caso de importunação sexual, uma notícia do Público, em agosto passado, revela como não houve nenhuma condenação em três anos, apesar de só em 2017 terem sido abertos mais de 15 inquéritos por semana.
Os números, ou a falta deles, são para a psicóloga Maria Cunha Louro uma prova de que “a própria sociedade vê isto como um crime menor, é crime, OK, mas nem está contemplado no nosso código penal, portanto logo ali a lei faz uma omissão e desvaloriza o assédio sexual”. “Há aqui uma mensagem implícita”, não tem dúvidas. E volta à tona a questão da descredibilização: “A vítima quando vai dar baixa da queixa é até às vezes motivo de chacota. ‘Não acha que percebeu mal?’, perguntam-lhe. Ou seja, há uma desvalorização desse tipo de comportamentos, não só por parte da sociedade, mas também por parte de quem recebe estas queixas que não se deverá comportar desta maneira.”
Ainda assim, segundo Daniel Cotrim, a queixa continua a ser a medida certa a tomar. “O sistema só muda se as mulheres avançarem contra ele. Se o usarem da forma como o têm de usar”, diz. A alternativa é o “sistema entrar num momento de caos, mas o caos é ótimo porque depois vem a organização”. Na receção da sede da APAV, em Lisboa, onde aguardamos pelo técnico antes da entrevista, não faltam panfletos informativos. Uns dirigidos a vítimas de violência doméstica, outros com foco no assédio sexual, estrategicamente posicionados perto da zona de espera.
Não há imagens gráficas, apenas uma fonte simples e que facilita a leitura. Daí que não seja surpreendente quando Daniel diz o que é, para ele, crucial neste processo de empoderamento feminino: “O próprio Estado quando fala de mulheres vítimas [tem de] deixar de apresentar as mesmas imagens de sempre, o mesmo ar de quase morta, com que muitas vezes apresentam as vítimas, tem de ser dar uma outra perspetiva, a da saída.”
Entre acórdãos polémicos e sentenças que vão agitando a agenda mediática, ainda há motivos que dão força a um futuro risonho. “Há pelo menos uma sentença já em Portugal sobre violência psicológica. Isto já faz jurisprudência. Não é por não haver provas que as mulheres não devem avançar. Devemos ir juntas contra e com o sistema.”
Artigo originalmente publicado na edição de novembro 2018 da Vogue Portugal.
Most popular

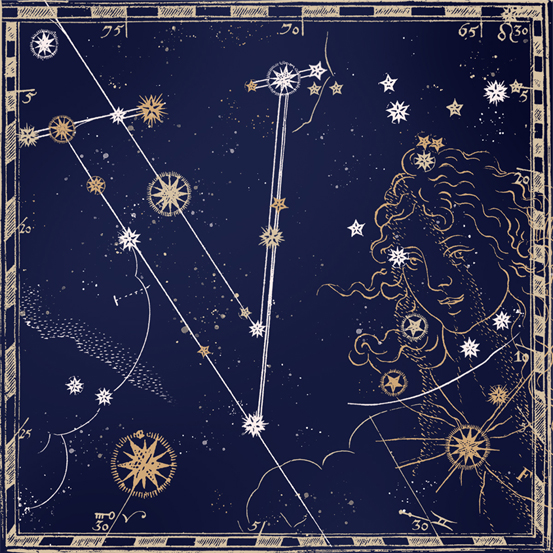
Relacionados

.jpg)