Nesta época de radicalização, há quem defenda a “família tradicional” com unhas e dentes e quem diga que liberdade está acima de tudo. Não se percebe porque tanto discutem, pois todos têm razão.
Nesta época de radicalização, há quem defenda a “família tradicional” com unhas e dentes e quem diga que liberdade está acima de tudo. Não sepercebe porque tanto discutem, pois todos têm razão.

© Getty Images
© Getty Images
Nos cinquenta anos para trás de que me consigo lembrar, aquilo a que as pessoas chamam de casamento passou duma caixa fechada, rodeada de vigilantes, para um campo aberto onde todos os relacionamentos são possíveis. Esta grande mudança aconteceu numa única geração, que passou do fruto proibido para a maçã descascada e fatiada. Os meus avós, a geração nascida no final do século XIX e desaparecida nas décadas de 1960-70, só conheceram o casamento burguês, tradicional e indestrutível. Pai, mãe, filhos, talvez um avô viúvo que animava a casa com as suas esquisitices, a viver juntos em casas enormes para os padrões de hoje. O divórcio existiu legalmente entre 1911 e 1940, mas só os radicais se metiam nisso. As pessoas juntavam os trapos por amor, o que era um avanço em relação a séculos passados. O casamento amoroso, embora tenha sempre existido, geralmente contra a vontade dos pais, é uma invenção burguesa que veio com o Romantismo, algures na primeira metade do século XIX. Antes disso, as pessoas casavam segundo os interesses familiares, se eram ricas ou poderosas, ou então não casavam, se eram pobres. Os que muito tinham – reis, nobres, grandes famílias burguesas – escolhiam as uniões dos filhos para juntar as fortunas, obter territórios ou outras vantagens específicas. Os nubentes depois podiam fazer a sua vida – não faltam namoros e infidelidades fora do lar – mas estavam fechados num acordo comercial sem cláusula de rescisão. Quanto aos pobres, não tinham dinheiro para pagar o sacramento na igreja e a festa. Juntavam-se, “como os animais”, e alguns padres bondosos casavam-nos de graça para não perderem o céu. No casamento do tempo dos meus avós, os homens podiam e deviam ter amantes, mas as mulheres não podiam, nem sabiam das amantes deles. Uma cumplicidade não expressa abertamente mantinha esta “harmonia” conjugal.
Já a geração dos meus pais, nascida no século XX, antes da II Guerra Mundial, e que se finou à volta de 2000, conheceu um ambiente mais desenvolto. A norma continuava a ser a família tradicional incondicional, mas já havia muita delinquência. E o amor passou a ser geralmente aceite como um bom motivo para casar. Os intelectuais avant-garde, sobretudo nos países mais avançados, já praticavam uma desenvoltura notável. Basta ver o chamado Grupo de Bloomsbury, um petit-comité de bem-pensantes que teve como estrelas a escritora Virginia Woolf e o economista John Maynard Keynes (cuja teoria, o keynesianismo, ainda hoje se bate com a escola neoliberal de Milton Friedman). Vanessa Bell (irmã de Virginia Woolf) teve namoros com Roger Gry e Duncan Grant (que era predominantemente homossexual) de quem teve uma filha, Angelica. Clive Bell era persistentemente infiel e estava apaixonado por Virginia. Clive e Vanessa tiveram dois filhos. Por sua vez Lytton Strachey, Dora Carrington e o marido dela, Ralph Partrige, viviam juntos. Dora teve casos com amigos do marido, e Lytton (bissexual) tinha uma grande paixão por ela, mas amava Ralph. Contudo, Ralph apaixonou-se por Frances Marchall e foi viver com ela. No meio destes escritores, poetas e pintores, o único com uma profissão ligada ao mundo real, John Maynard Keynes, foi amante de Duncan e Lytton Srachey, antes de se casar com a bailarina Lydia Lopokova.
Isso foi na Grã-Bretanha, um país calvinista, logo de restritos costumes, onde ser diferente era mal visto, mas deixado em paz. Por cá, país católico, fazia-se como fizeram os católicos John Fitzgerald Kennedy (esse, o Presidente dos Estados Unidos) e a sua Jacqueline, ou os ainda mais católicos Grimaldi: ele Rainier de Mónaco, escolheu a linda Grace para melhorar as finanças do principado e porque uma mulher assim bonita fica bem a qualquer homem. No caso dos Kennedy, John tinha as suas aventuras e estava tudo bem, à moda antiga; no caso dos Grimaldi, dizem que era ela que procurava divertir-se embora, com certeza, ninguém ponha as mãos no fogo por ele. Ou seja, as leis eram rijas como sempre, mas já não conseguiam conter a caminhada para a liberalidade. As pessoas casavam, sempre. Só que as pessoas que casavam não ficavam quietas, espreitavam por cima do muro, em situações mais ou menos ignoradas ou então aceites, virando os olhos para o outro lado. Naquele período em que o divórcio entre católicos era permitido pelo Estado Jacobino, havia separações oficiais, mas tinham sempre uma grande carga censória da sociedade. Perdia-se amigos, era-se visto de lado pelos conhecidos. O que acabou com este lindo estado de guerrilha familiar – lindo por fora, de coração rasgado por dentro – foram duas coisas aparentemente não relacionadas: a pílula, mesmo no começo da década de 1960, quando ocorreu o segundo motivo, o movimento hippie. É verdade que os hippies eram barulhentos, mas minoritários; não devem ter chegado a 10% dos “caretas” que seguiam uma vida matrimonial cada vez mais esfrangalhada, mas sempre a manter a aparência de “normal”. Contudo, a revolução hippie, que em si durou pouco e acabou sem graça nenhuma, teve um efeito explosivo na cultura. Basta ver como hoje os altos executivos de empresas formalíssimas, de reputação seríssima, usam os cabelos a tapar as orelhas e a roçar a gola da camisa – uma versão soft do mesmo cabelo que era exibido pelos hippies.
A mudança não foi só cosmética; nunca mais os costumes foram os mesmos. Do “amor livre” dos hippies já não se fala, porque o conceito tornou-se tão corriqueiro que foi ultrapassado pela mudança que provocou. Para os nossos filhos, a geração nascida a partir de 2000, não há “amor livre” porque a liberdade já não precisa da autodesculpa do amor, e o amor manifesta-se de muitas maneiras. Nota-se até, nos mais novos, uma tendência de desinteresse por relações que poderiam – suspira a família – eventualmente, por uma volta qualquer do destino, transformarem-se em casamento. Os meninos e as meninas estão em pé de igualdade, sempre juntos, andam em grupos onde há um teasing, tudo na mesma onda – namorar sim e não, casar para quê, o que é isso? Bem, estes são os mais novos, que estão a acordar para a vida. Os adultos ainda falam em casamento. Muitos, talvez, metade para dizer que não, de várias formas: ou porque não lhes apetece, ou porque não precisam, ou porque já experimentaram e não correu bem. A outra metade até pode casar, geralmente tarde, no limite para ter filhos (que anda agora pelos 40+ anos), mas também descasa quando as coisas não estão bué de boas. Há até, na minha humilde opinião, uma falta de investimento nas relações. Para quê fazer compromissos, disputar opiniões diferentes sobre futebol ou arte, se há outras relações à disposição, quiçá mais satisfatórias? Os números são indisputáveis. Em 1960 registaram-se 69.467 casais; em 2018, estávamos em 34.637. Em 1960 houve 749 divórcios; em 2018, 20.354. Isso mesmo, mais divórcios do que casamentos. E aqui não estão incluídas as relações informais – as pessoas que vivem juntas sem casar, invisíveis nas estatísticas. Provavelmente – especulação minha – são mais do que os casamentos registados no cartório ou na sacristia.
Mas não é só na volubilidade que o casamento mudou; o ideal de casamento ganhou flexibilidade, numa série de combinações que só a imaginação permite calcular. Há o casamento aberto. Chegou aos estudos académicos em 1972, no livro Open Marriage: A New Life Style for Couples, do casal Nena e George O'Neill, que já vendeu 35 milhões de exemplares em 14 idiomas. As pessoas são casadas, mas cada um sai com quem lhe apetece. É tentador, e praticado aberta ou sub-repticiamente por muitos casais, mas destas situações também não há estatísticas. Um caso internacional é o da fabulosa Tilda Swinton, a atriz inglesa/ escocesa/australiana que vive no seu castelo da Escócia com um e viaja para fazer filmes com outro, estando os dois cientes da situação e em paz com ela. Sobre a vida deles nada sei, mas certamente que o acordo é multidirecional. Este casamento não é para toda a gente. Prometedor que pareça para os espíritos livres, que querem comer o bolo e ficar com ele, tem armadilhas várias, uma vez que o ciúme é um sentimento difícil de controlar e só depois do facto consumado sabemos qual será a nossa reação. No extremo desta linha, e certamente em minoria ínfima, estão os swingers, os casais que fazem encontros juntos. É só para os fortes, ou para os despidos dos sentimentos nutridos por séculos de tradição e preconceitos. Também podia incluir aqui os casamentos falsamente fechados. Ou seja, ninguém assume coisa nenhuma, mas as coisas acontecem.
A INFIDELIDADE DO HOMEM NÃO ERA CONSIDERADA; EM COMPENSAÇÃO, SE UM MARIDO APANHAVA A MULHER EM FLAGRANTE, PODIA MATÁ-LA – E AO OUTRO – QUE A PENA SERIA APENAS MUDANÇA DE DISTRITO.
Dentro das possibilidades atuais, todas as combinações são possíveis, e algumas misturam a relação tradicional com uma independência muito contemporânea. Sei de uma senhora que, aos 69 anos, decidiu separar-se do marido (sem se divorciar) porque estava farta de o aturar, embora ele fosse decente. Anos depois o senhor adoeceu e, à falta doutra pessoa, foi ela que tomou conta dele, como uma esposa à moda antiga – menos a intimidade, morta há muito. Bonito, não é? Tive um tio, casado com filhos, que numa viagem se apaixonou por outra mulher – isto nas décadas em que o divórcio era possível. Voltou para Portugal, divorciou-se e casou com a segunda, com quem teve outros filhos. Falecido, as duas tornaram-se amigas. Civilizado, não é? Entre 1940 e 1975, o Estado Novo tornou o divórcio impraticável. Os casados pela Igreja podiam recorrer a uma figura jurídica caricata, a “separação de pessoas e bens”. Equivalia ao divórcio, com a diferença de que não se podia casar novamente. E os casados civilmente enfrentavam juízes com ordem de dificultar o divórcio o mais que podiam. A única causa aceite era a infidelidade da mulher e, mesmo assim, tinha de ser provada com pormenores escabrosos. A infidelidade do homem não era considerada; em compensação, se um marido apanhava a mulher em flagrante, podia matá-la – e ao outro – que a pena seria apenas mudança de distrito. Quando hoje ouvimos estas histórias, parece que ocorreram na Idade das Trevas, embora tenham acontecido apenas há meio século.
Tudo mudou, depressa e bem. Uma modalidade muito cotada é o chamado LAT, “Living Apart Together”. Na década de 1960, o produtor Carlo Ponti e a actriz Sophia Loren viviam assim, em Paris. Ele no andar de cima, ela no andar de baixo. Apaixonadíssimos até à morte dele, em 2007. Aliás, a história tem peripécias. Ponti era casado com Giuliana Fiastri, em Itália, país que não tinha divórcio. Foi-se casar com Sophia no México e, se voltassem a Itália, ele seria processado por bigamia e ela por “concubinagem”. Em 1960, finalmente mudaram os três para Paris, onde uma ordem judicial patrocinada por Pompidou permitiu o divórcio e subsequente o segundo casamento. Viver “juntos separados”, ou seja, casar com cada um em sua casa, tem percursores famosos. Woody Allen e Mia Farrow viviam de lados opostos do Central Park. A escritora Margaret Drabble e o biógrafo Michael Holroyd estão casados/separados há 36 anos. O realizador Tim Burton e a sua musa Helena Bonham Carter vivem em casas lado a lado em Hampstead, Londres. A proximidade das casas é ótima para os dois filhos. Quem vivia separado e tinha um casamento eterno e aberto, foram Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Juntos até à morte. Provavelmente este estilo de amor eterno/saudade permanente, é mais antigo do que se sabe, mas muitos casos indicam que é cada vez mais corrente. Nunca será uma maioria – mas é nas minorias que estão as situações interessantes. As inúmeras minorias, mais aquelas que se escondem no recato do lar, acabam por somar mais do que o casamento dito “tradicional”. Os seus detratores escandalizam-se com tanta versatilidade, mas a palavra-chave para todos estes cenários é “liberdade”. As tradições são boas, quando o são; são péssimas quando implicam a conformidade com uma situação que não é verdadeira, real, consentida de parte a parte. Cada casal tem a liberdade de escolher o seu arranjo. Os constrangimentos por escolher livremente o casamento são muitos; custa mais caro e dá mais trabalho ter duas casas, no caso do LAT; o casamento aberto representa sempre um risco, uma vertigem que pode passar de excitante a excruciante num ápice. E quem casa muito, cada vez mais tem dificuldade em acreditar no casamento seguinte. No entanto, nada se compara à neura de viver com um cônjuge que com o tempo se torna uma pessoa de família... Agora que temos um catálogo matrimonial de infinitas cores, qual será o casamento ideal? É simples: aquele em que o amor mútuo desliza como o corpo pela seda, não há espinhas que não possam ser extraídas e o futuro está aberto a todas as possibilidades.
*Artigo originalmente publicado na edição Family Affairs da Vogue Portugal, de dezembro 2019.
Most popular
.png)
.png)
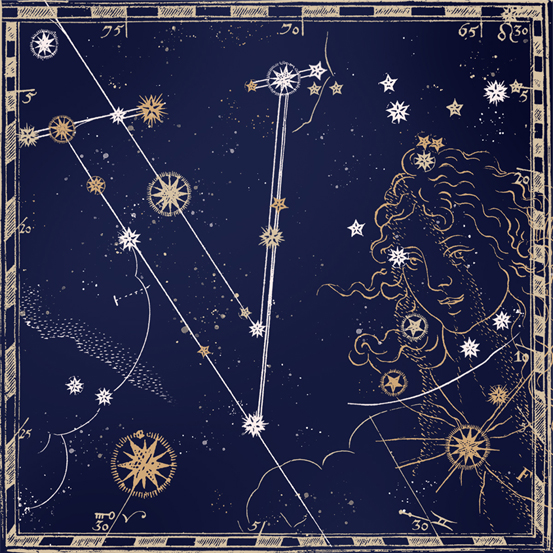
Relacionados



.jpg)

