Oh what a time to be alive, este em que os humanos entregaram a capacidade de criar, que é aquilo que verdadeiramente os distingue dos outros animais, a algo inumano. O que vem aí? Tudo o que já se esperava há muito.
Oh what a time to be alive, este em que os humanos entregaram a capacidade de criar, que é aquilo que verdadeiramente os distingue dos outros animais, a algo inumano. O que vem aí? Tudo o que já se esperava há muito. Mas andámos todos a enterrar a cabeça na areia. Como as avestruzes, aquilo em que nos arriscamos a tornar.

Artwork por João Oliveira.
Artwork por João Oliveira.
Sou da geração em que dois canais de TV bastavam para que tivéssemos acesso a um bicho estranhíssimo. Tuning? TikTok? Não… A cultura! Estranhíssimos, esses tempos em que se achava que uma sociedade devia ser igualitária e o acesso a tudo o que a pudesse enriquecer, universal. Ainda crianças, e muito antes do fim de semana com manhãs feitas de Era Uma Vez O Homem (que contava a história da humanidade) ou d’O Sítio do Pica-Pau Amarelo (que dava conta da cultura popular brasileira, da qual os indígenas e os escravos africanos são indissociáveis), havia os serões durante os quais havia cinema, animação pouco convencional, apresentada pelo saudoso Vasco Granja e o Mário Viegas a declamar Mário-Henrique Leiria. Claro que os nossos pais sufocavam com aquilo, à espera da Bota Botilde ou de uma novela qualquer inspirada na obra de Jorge Amado. Mas eles não tinham sido educados para a necessidade da cultura ou estimulados desde pequenos para isso, como acontecia connosco nesses anos 80. A coisa era tão forte que adquirimos um ódio televisivo, que porventura perdurará, assim que os canais privados nos enfiaram, órbitas adentro, um macaco a saltar com o João Baião e Os Malucos do Riso e Os Batanetes num chorrilho idiótico que havia de descambar num Zé Maria a receber como prémio pela vitória no Big Brother o carro mais feio de sempre e a Júlia Pinheiro a comentar com um burro e uma peúga o que tinha acontecido entre o Alexandre Frota e o José Castelo Branco. Se estou a dizer que “no meu tempo é que era” porque o acesso à cultura era mais fácil? Nem pensar! Nunca foi tão fácil aceder à cultura como agora. O problema é o algoritmo. Nestes tempos em que vivemos dentro das redes sociais, aquele “pequeno nada” baseia-se no nosso histórico de buscas e cliques, ou seja, o que ele parte do princípio que sejam as nossas preferências, para gerir a partir daí a oferta que ele acha ser a melhor para nós. Se, para além de limpar os cookies, e tendo como exemplo o YouTube, não diversificarmos as nossas buscas, é mais certo que provável ficarmos num loop que não corresponde a um género musical, a uma determinada batida por minuto, a um timbre de voz ou aos instrumentos usados, porque não é esse o princípio que rege essa plataforma de partilha de vídeos. Se, por exemplo, procurarmos o tema Under The Milky Way, dos The Church, porque temos saudades do tempo em que éramos “vanguardas”, o YouTube não sugere de seguida que oiçamos The Cure ou Joy Division, This Mortal Coil ou The Felt, que seria o lógico num cérebro humano. Tampouco sugerirá que oiçamos sons nessa mesma linha criativa, mas de bandas atuais, procurando “atualizar” o utilizador, como Cigarettes After Sex ou Future Islands. Limitar-se-á a sugerir Dire Straits ou Simple Minds porque… São contemporâneos. É um bocadinho primário? É. Há quem siga essas “sugestões”? Há, e em barda. Infelizmente, isto de termos sido educados para a cultura ou, melhor dizendo, para a sensibilidade em relação ao que provém da criatividade, não significa que tenhamos sempre a mesma disponibilidade mental. Ou que vivamos o resto da nossa vida com a curiosidade e a mente aberta com que iniciámos esta jornada. Acontece, amiúde, senão na esmagadora maioria das vezes, que a malta se “encosta” e passa a deixar que todos os estímulos que sempre fizeram da arte algo vital não passem de todo o conjunto de coisas que agora, “com o trabalho e os filhos para criar e a casa para pagar”, lhes passa por fora. Acabarão a andar de BTT ao fim de semana e a sair à noite uma vez por ano, aquando do encontro dos ex-colegas da faculdade ou mesmo da escola secundária, a tensão sexual de tudo o que ficou por cumprir naquele tempo a inundar a pista de uma “danceteria” onde ainda se houve a música que eles “curtiam bué” na altura e onde até o DJ usa a mesma camisa, só que agora cada um dos botões se mantém ali com o mesmo esforço com que Atlas carrega o mundo às costas. “Ficar preso num tempo que já não volta” é fácil. Ficar preso às sugestões de um algoritmo é pura preguiça. Mas é neste ponto que estamos.
Para que não se pense que há aqui alguma espécie de elitismo, partamos para a arte n.º7, o cinema. E sem qualquer referência a qualquer obra que tenha sido galardoada em Cannes, Berlim, Veneza ou Sundance. Vamos mesmo pelo mais mainstream possível, “só por causa das coisas.” Quem percebeu a mensagem de WALL-E, filme da Pixar de 2008, que levante a mão. Desses, quem acha que estamos muito longe daqueles humanos que deixaram a Terra, onde a vida passou a ser insustentável, para passarem a viver numa gigantesca nave onde, gordíssimos e imóveis, passamos os dias deitados, alimentando o corpo por uma palhinha e o cérebro com o permanente visionamento de um ecrã com videochamada? Eu não. Até porque o aviso já estava dado há mais tempo, mais precisamente em 1984, quando em O Exterminador Implacável Arnold Schwarzenegger veio de 2029 para assegurar que Sarah Connor não concebia no seu ventre o John Connor, líder da resistência nessa guerra contra as máquinas providas de inteligência artificial criadas pela Skynet, que por sua vez foi criada por humanos e que estava (daqui a apenas seis anos), perto de conseguir o extermínio da humanidade. Agora que tudo isto parece mais verosímil desde o dia 30 de novembro de 2022, com o lançamento online do ChatGPT, “ferramenta” criada pela OpenAI (empresa fundada por Elon Musk em 2015), o mundo divide-se entre o fascínio mal disfarçado de uns e a desvalorização do fenómeno de outros.
Se estou a dizer que “no meu tempo é que era” porque o acesso à cultura era mais fácil? Nem pensar! Nunca foi tão fácil aceder à cultura como agora. O problema é o algoritmo.
Desde a sua stable release (terminados todos os estádios de verificações e testes), no dia 13 de fevereiro, instalou-se o pânico. Há quem acredite que vem aí a maior vaga de desemprego desde a Revolução Industrial, provado está que trabalhos como front desk e similares podem, de facto, ser substituídos. Imediatamente para as empresas que não são muito exigentes no tratamento dos seus clientes, daqui a muito pouco tempo para todas as outras. Porque na verdade, e sem entrarmos em especificações técnicas chatíssimas, o ChatGPT é apenas um chatbot. Ou seja, aquele boneco que nos websites em português é traduzido como “assistente virtual”, que surge com a invariável pergunta “Como posso ajudar?”, ao que nos apetece sempre responder com um impropério do pior mas não o fazemos porque optamos sempre por ligar para o número de telefone disponível ou contactar pelo email. Se por acaso anuirmos e formos aceitando as sugestões do chatbot, raramente chegamos onde queremos. E só então percebemos que tudo aquilo foi uma perda de tempo. Ou seja, não fomos muito inteligentes. Nem artificial nem humanamente.
O problema (ou não) é que o ChatGPT é um refinamento inaudito. Foi “construído” sobre um Large Language Model (distribuição de probabilidades como função matemática, mas aplicada às sequências de palavras) que já era propriedade (e criação) da OpenAI desde 2020, intitulado GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), um modelo autorregressivo e aleatório, que usa o deep learning (um método baseado nas redes neurais artificiais, ou seja, sistemas informáticos que reproduzem, na perfeição, as redes neurais biológicas que constituem o nosso cérebro) para produzir textos semelhantes àqueles que um humano produziria. Que humano? Um que domine física quântica, por exemplo. Porque o ChatGPT funda-se no transfer learning (armazenamento de conhecimentos adquiridos enquanto resolve outros problemas), só que em modo fine-tuning (o modelo pré-treinado volta a ser treinado com os novos dados). Simplificando, pergunte-se-lhe, em português europeu (o que só por si é incrível na generalidade da Internet), qualquer coisa que envolva, em matemática, teorias específicas, fenómenos, fórmulas ou equações complicadíssimas. A resposta vem em segundos. Dê-se-lhe um conjunto de personagens, um assunto e a trama… Escreverá um livro que os mais exigentes só terão de “aprimorar” (não fosse esta ferramenta tão recente e eu desconfiaria que esse já fosse o método usado por muitos autores da nossa praça). Peça-se-lhe “escreve-me um poema ao estilo de Camões e em decassílabo” e é isto:
“Oh bela flor que desabrocha em meio ao campo verdejante,Teu perfume doce e suave inebria toda a natureza;E ao contemplar-te assim tão graciosa e elegante,Minh'alma sente um doce amor, que jamais desvanecerá com certeza.
Tua cor, mais bela que o ouro, encanta os olhos de quem te vê,E teus pétalas suaves são um convite à contemplação;Como uma estrela cadente no céu, tua beleza é um fenômeno de fé,Que enche o coração de amor e admiração.
Ó flor querida, que enches de vida este mundo tão sombrio,És como um raio de luz que ilumina minha e xistência;E eu te amo, com um amor que é mais f orte que o próprio rio,Pois tu és para mim, minha querida e do ce consciência.”
Sim, é paupérrimo. Sim, tem erros e acentos que só existem em português do Brasil. Sim, chega a ser ofensivo para “camonianómanos”. Mas é assustador nestes tempos em que é a exigência do leitor, e não a dos criadores do ChatGPT, que está pela hora da morte.
Muito se evoluiu (ou não) desde que fomos proibidos de usar calculadoras científicas nos testes de matemática. Os smartphones não abriram uma caixa de Pandora, escancararam a porta à ulterior preguiça (ou aquisição de outros interesses e prioridades que não a escola), que invariavelmente ataca durante a adolescência. As associações de escolas dos EUA já traçaram medidas a serem implementadas de imediato tendo por base um estudo feito através de análise a inúmeros tweets sobre o assunto, mediante o qual se chegou a três premissas: o ChatGPT nunca substituirá o ensino da escrita; mudará tudo para melhor; mudará tudo para pior. São elas: diminuir a quantidade de TPC, que porventura servirão para visionamento de matérias que terão de ser depois expostas oralmente, e não por escrito, durante as aulas; “abraçar” a Inteligência Artificial (IA) em vez de a repudiar, isto é, ensinar os alunos a utilizar o ChatGPT por forma a concluírem que os resultados continuam a ter de ser analisados e, posteriormente, editados; auditar a IA, classificando a sua utilização como plágio, e baixar as notas em função da sua utilização pelos alunos. O The Guardian foi um dos primeiros a curar sobre a especulação que dava conta da possibilidade de a AI tornar todas as profissões relacionadas com a produção de conteúdos escritos obsoletas, da dramaturgia aos professores, passando por programadores e jornalistas. Concluía que faltava ao ChatGPT “a nuance, a capacidade de pensamento crítico ou de decisão ética que são essenciais para o sucesso.” Recorreram, para isso, a consultas e pesquisas que revelaram ser infrutíferas. Mas ainda estávamos em dezembro de 2022, quando a “base de conhecimentos” terminava em 2021. No dia 1 de março de 2023, a Insider já se referia ao ChatGPT como sendo um blockbuster (que de facto é, nas buscas do Google). Mas relembra que este “fenómeno” pode não radicar em todo o suposto encantamento de utilizadores millennials, que frequentaram as salas de chat do IRC, porque “o tom é idêntico.” E desdramatiza: “A tomada de controlo da IA não está exatamente iminente, segundo os especialistas.”
Se por acaso anuirmos e formos aceitando as sugestões do chatbot, raramente chegamos onde queremos. E só então percebemos que tudo aquilo foi uma perda de tempo. Ou seja, não fomos muito inteligentes. Nem artificial nem humanamente.
Um deles, de seu nome Matthew Sag (professor de Direito na Universidade Emory, que estuda as implicações dos direitos de autor na formação e utiliza modelos linguísticos de grande dimensão como o ChatGPT), diz mesmo: “Há um ditado que diz que um número infinito de macacos acabará por nos dar Shakespeare.” A revista Time dedicou-lhe um trabalho um pouco mais extenso, no qual uma entrevista à (lindíssima) programadora Mira Murati, diretora de tecnologia da OpenAI que lidera as equipas por detrás da DALL-E (que usa IA para criar obras de arte baseadas em prompts) e do ChatGPT, revela que “Murati consegue discutir abertamente os perigos da IA, ao mesmo tempo que nos faz sentir que tudo vai ficar bem” (onde é que já ouvimos isto?). O jornalista John Simmons chegou mesmo a revelar que perguntou ao ChatGPT qual seria uma pergunta interessante para colocar à sua própria criadora. Este respondeu: “Quais são algumas das limitações ou desafios que encontrou ao trabalhar com o ChatGPT e como os ultrapassou?” e, por sua vez, Murati replicou: “Essa é uma boa pergunta”, claro. E prossegue com um determinante: “O ChatGPT é essencialmente um grande modelo de conversação – uma grande rede neural que foi treinada para prever a próxima palavra – e os desafios com este são desafios semelhantes aos que vemos com os modelos linguísticos de base: pode inventar factos”. Perdão? Pode inventar factos? “Assim também eu”, exclamamos, de forma inevitável, recorrendo à nossa inteligência biológica. Porque é disso que se trata. Como é que nós, humanos providos de inteligência, nos devemos deparar (e preparar) com/para algo que aparece, aparentemente, para “resolver problemas” numa altura em que os problemas da humanidade (incluindo a sua extinção) são maiores que nunca? E cuja solução não parece interessar aos mais poderosos? Que são precisamente os criadores do ChatGPT? Qual o seu interesse nisto? Como é que é possível que os períodos históricos da humanidade sejam marcados pela evolução do pensamento (a Antiguidade marcada pelo advento da filosofia, a Idade Média pela escolástica, o Renascimento como ato inaugural da Modernidade, o Iluminismo com Voltaire, Montesquieu, Hume, Locke e Kant) e a presente Contemporaneidade chega a um ponto em que as máquinas substituirão o homem? O que raio nos aconteceu para que, depois de um século a sermos considerados máquinas de execução avaliadas pela sua produtividade, estejamos em vias de sacrificar aquilo que sempre nos distinguiu? Polegar oponível? Eretismo? Não, meus caros humanos, o talento. Esse que não pomos no curriculum vitae, esse de que ninguém quer saber porque tem sido, nas últimas décadas, vetado à insignificância. Porque é o único capaz de produzir arte. E a arte é cada vez mais insignificante. Porque a insensibilidade é cada vez mais atroz. Poderá algum dia a IA substituir o talento? Então do que estão à espera para fazer a revolução? Que se passe a chamar, ao talento, “meritocracia”?
Originalmente publicado na edição The Revolution Issue da Vogue Portugal, de abril 2023.For the english version, click here.
Most popular
.png)
.png)
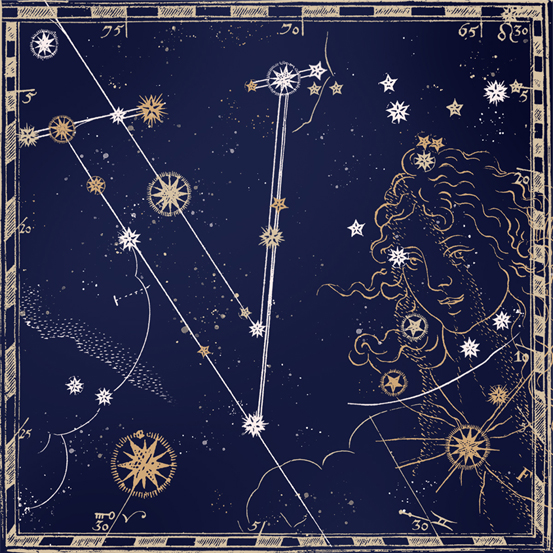
Relacionados



.jpg)

