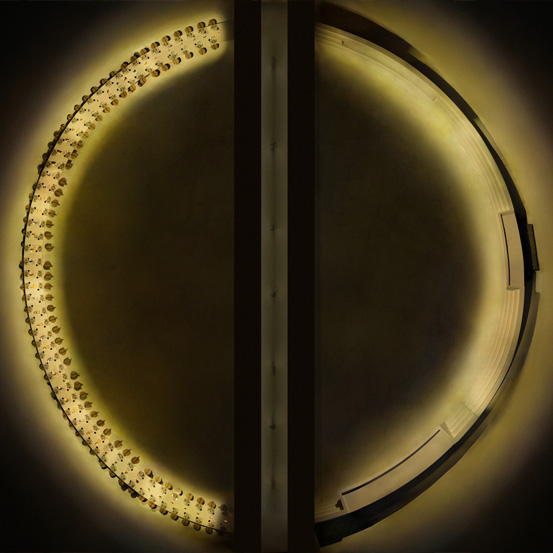A saudade faz-se também de um pulsar vibrante dos corpos, numa sensualidade e num despudor que, na relação amorosa com Lisboa, tem também o nome de Pina Bausch. Nunca esqueceremos Pina.
A saudade faz-se também de um pulsar vibrante dos corpos, numa sensualidade e num despudor que, na relação amorosa com Lisboa, tem também o nome de Pina Bausch. Nunca esqueceremos Pina.
Foi em Lisboa que Pina dançou pela última vez. Estávamos a 9 de maio de 2008. Pina tinha 67 anos. Viria a falecer a 30 de junho de 2009. No regresso àquele café em desordem fora do tempo, fazia habitar de novo significado o corpo esquelético, que se consumia de vida, sempre no abismo sedutor da proximidade com a morte, ao lançar-se, de braços estendidos para a frente, contra a parede, nos olhos fechados perante as feridas do mundo, cega para o exterior, mas trágica na vulnerabilidade interior. O café revisitado era o que trinta anos antes tinha concebido para a sua peça emblemática Café Müller (de 1978), reconstruído no Teatro Municipal de São Luiz, que, assim, a recebia como bailarina pela última vez. Hoje, aquele teatro de Lisboa inclui a placa que não deixará nunca esquecer o privilégio dessa partilha, respondendo naturalmente ao apelo que se escutava da música em cena: Remember me. Remember me. Pina demorou a chegar até nós. A primeira vez que é apresentada em Lisboa é em 1989, nos Encontros Acarte, da Fundação Calouste Gulbenkian, com a peça Na Montanha Ouviu-se um Grito. Nessa obra, revela-se perante o pasmo do espectador um estranho mundo maravilhoso, que tem influenciado e inspirado muitos artistas, e tanto seduz um público vasto, que vai muito além dos amantes da dança. O primeiro impacto surge com a imagem do palco totalmente coberto de terra aparentemente húmida. Sobre esta, passavam-se as situações mais inéditas, desconcertantes e surpreendentes, reproduzindo com imaginação enredos de desencontros amorosos, conflitos, angústia ou violência. Para além da inventividade da imaginação, Pina instala desde aí um dom que vicia os sentidos, ao propor cenas quotidianas que são familiares, mas sempre com um twist, sempre com um desvio. Pina era mestre no estranhamento do familiar.
Nas primeiras décadas, há medo e austeridade naquele olhar. Uma tensão que carrega um pesado mas precioso sentir do mundo que se estende até 2001, quando cria a obra Água, apresentada no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, em 2003, e criada em residência artística no Brasil. Ali, apesar de viver por dentro o drama e a miséria das favelas, emergem a leveza e a felicidade em palco. Antes, Pina Bausch tinha o olhar de quem vê a realidade pelo que esta é. A vida das pessoas, em sociedade, como comunidade, é uma composição circense, onde há tanto de alegria tola e descontraída, de cabaret, de canções e frases sem sentido lançadas ao ar, quanto de amargura, malícia, exercício de poder, guerra de sexos, normalmente com o feminino a ser agredido. A insistência, a repetição até à exaustão de gestos banais ou excecionais, é também uma marca de Pina. Quantas vezes aquelas mulheres mergulharam os cabelos longos em água para, a seguir, os lançar ao ar, desenhando uma fonte circular no palco? Quantas vezes os homens deixaram cair dos braços abertos, indiferentes, muitas dessas mulheres quando elas se lançavam nesse amparo? Quantas vezes?
Durante muitos anos, foram tantos os que a amaram, como os que a odiaram. Os que a rejeitavam, apontavam-lhe o dedo acusador de defesa de uma “estética da violência”. Havia essa visão da arte, ou do belo, como estando muito próximo do aterrador.
O circo humano de Pina revela a espessura desta insanidade que é estar vivo, com tudo o que esta humanidade tem de maravilhoso, eternamente infantil, ao mesmo tempo monstruoso, humilhante e injusto. O que nos surge como grotesco ou risível é, na verdade, parte de quem somos. E é esta ingénua cruel realidade que Pina dava a ver. Ao mesmo tempo, foi construindo uma estética de figurinos em que as mulheres apareciam muitas vezes em vestidos esvoaçantes, variavelmente de saltos altos ou descalças. Antes do tempo, no guarda-roupa, aquela comunidade de bailarinos representava um revival do vintage, dava nova vida às flores, em roupas muito femininas, de saias que iam até aos pés ou ficavam mesmo acima do joelho. Os acetinados transparentes, cintados, compunham a figura, complementada com os batons carregados, o cigarro pronto a lançar fumo, os cabelos compridos soltos e os homens de camisa e calças, normalmente com gravata, casaco e sapato de bico a condizer. Na aparência, todos os dias eram dias de baile. Na realidade, a compostura do que vestiam rapidamente se desmontava e denunciava o quão somos patéticos. Às vezes, assustadores. Em Kontakthof (1978), por exemplo, que apresentou em Lisboa em 1994, no âmbito de Lisboa Capital Europeia da Cultura, toda a ação se passa numa espécie de salão de baile de coletividade, onde se desenrolam jogos sociais, de relação entre homens e mulheres (um dos seus temas recorrentes), mas tratado até ao ponto em que não há filtros. As interações expõem a sua natural animalidade primitiva, como é o caso do desfile dançado de mulheres a ajeitar a roupa interior, sendo que os gestos de composição da pose, de acerto do soutien ou das cuecas, constam da composição dos movimentos dançados. Durante muitos anos, foram tantos os que a amaram, como os que a odiaram. Os que a rejeitavam, apontavam-lhe o dedo acusador de defesa de uma “estética da violência”. Havia essa visão da arte, ou do belo, como estando muito próximo do aterrador. E não é por acaso que algumas brincadeiras entre bailarinos tinham uma expressão quase... Macabra. Tudo participa do mesmo mundo, alastrando para fora do palco. Tomemos como exemplo 1979, quando estavam a ensaiar Lenda de Castidade. Rolf Borzik (primeiro cenógrafo de Pina Bausch e seu primeiro companheiro, falecido em 1980) partilha com a então bailarina Meryl Tankard que Pina Bausch a queria pôr a arder e atirá-la para público. O aparente absurdo na verdade contém todos os ingredientes da realidade que expõe em cena. Já por essa altura, Pina xara um processo de criação que passava por colocar questões ou dar frases aos bailarinos para que estes compusessem uma improvisação, que lhe mostravam, enquanto ela se deixava car, cigarro na mão, a observar. A sugestão podia ir de algo como “magoar-se um bocadinho a si próprio(a)” a “o que fazes quando sentes ternura relativamente a alguém?” Não terá ido tão longe ao ponto de pegar fogo a um bailarino e atirá-lo à plateia, mas há muitos atos de malícia nesta dança e era frequente a ação sair da moldura do palco e invadir o público, fazendo-o participar do que estava a acontecer. Em tudo, disparam as emoções e vibram os sentidos.
A relação que Pina foi construindo com Lisboa foi intensa. Por aqui, acompanhámos uma mulher que se recolhia em silêncio e em muitas hesitações perante as perguntas dos jornalistas, no “não sei” repetido várias vezes, na procura de aceder à fonte da sua imaginação. Com o passar dos anos, tudo pareceu transformar-se e Pina tornou-se comunicativa, o sorriso foi surgindo no rosto e, muito tarde, pareceu estar a viver uma espécie de felicidade. Nesta história, há um encontro único, em 1998, com a estreia de Masurca Fogo, por ocasião de Expo 98 (Lisboa Exposição Mundial). A peça resulta de uma encomenda feita à coreógrafa para criar um espetáculo em residência na cidade de Lisboa e inspirado por esta. Em 1986, Viktor (coproduzida com o Teatro Argentina) inaugura essa vertente de criação de Pina Bausch em que habita uma cidade com os seus bailarinos durante algumas semanas, naquele caso, Roma, e, dessa vivência pessoal, constrói as suas danças. Depois de Roma, houve outras até que, em 1998, Lisboa acolhe a estreia do espetáculo de Pina Bausch criado em residência na capital. A receção de Masurca Fogo não foi consensual, como raramente eram as suas peças. Desde logo porque instalou nos corpos dos bailarinos um compasso quente, sensual, muito contaminado pelos ares africanos que estão tão presentes na arquitetura humana da cidade, mas que muitos teimavam em não ver. De qualquer modo, nunca foi intenção da coreógrafa reduzir a uma imagem simples a realidade complexa do que encontravam nestas residências. As associações que faz no espetáculo são da ordem de um pulsar profundo, afetado em todos os poros por uma vitalidade urgente que circula por vezes escondida, tanto por baixo da pele, como nas ruelas. Nem sempre surge coerente, raramente faz sentido. Afinal, a dança é, para ela, uma urgência de que precisamos para não nos perdemos e, no entanto, importa dançar quando estamos perdidos. Para fazer atravessar os corpos e os comportamentos dos bailarinos de um tom lisboeta, Pina e os seus intérpretes passaram cerca de três semanas na capital, tendo como quartel-general as antigas instalações da Companhia Nacional de Bailado, na Rua Vítor Cordon, no Chiado. Todos os dias saíam para a rua, em grupo ou separados. Foram visitar cavalos e touros na herdade de Fernando Palha (em Vila Franca de Xira), foram ao Mercado da Ribeira, foram ao fado... Pina foi ao B.Leza ouvir e ver os ritmos africanos, e todo um concentrado urbano inclinado sobre o calor que dá dengosidade aos corpos, que respira a mesma multiculturalidade da cidade. Por isso, também surge esse gingar da anca na reapropriação da dança cabo-verdiana mazurca, com tanto de doce e comovente, como de trauma de uma descolonização ainda não resolvida. Com esta peça, Pina levou Lisboa a muitas cidades. Em Paris, um crítico escreveu, sobre o espetáculo, que era “um orgasmo metafísico ao gosto do fado”.
*Artigo originalmente publicado na edição de outubro 2017 da Vogue Portugal.
Most popular

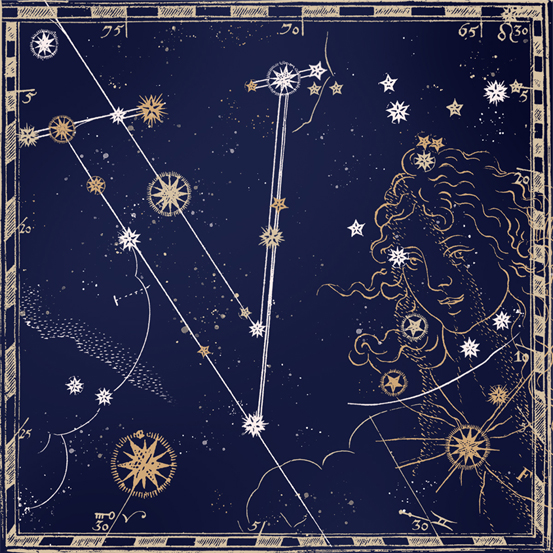
Relacionados
.jpg)
Alice Trewinnard prepara-se para a GQ Night of the Year | Beauty Confessions
23 Nov 2024

.jpg)