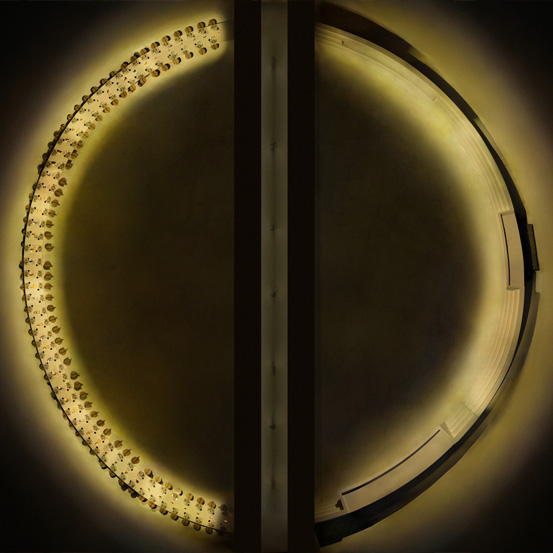Os poemas amontoam-se como recados à atrocidade do esquecimento e têm na voz o pulsar dos dias. Do peito à página, há um coração de fogos cuidadosamente ateados onde as palavras ganham cor, onde os sons são heranças de amor insubstituível e onde Isaura há muito fez casa.
Os poemas amontoam-se como recados à atrocidade do esquecimento e têm na voz o pulsar dos dias. Do peito à página, há um coração de fogos cuidadosamente ateados onde as palavras ganham cor, onde os sons são heranças de amor insubstituível e onde Isaura há muito fez casa.
Não tem um diário. A escrita como processo de fossilização do presente requer concentração mas a tarefa sempre foi vã, diz. “Notas, bocadinhos”, a humanidade vai acontecendo como um suave cometa de lembranças transcritas para o papel na forma de melodias, e a desordem combate-se assim, num longo e continuo processo de cura onde as aflições escoam.
Saramago trouxe-lhe paz pela impossibilidade de inquietude, como se tudo houvesse sido provado e nada mais devido. Pedro Paixão serviu o corpo quando o assunto era caos, “Gabo” será sempre o abraço de conforto na escrita, e José Luis Peixoto deitou-a por terra com o seu “Morreste-me”, mas a leitura subsiste em atropelos, “quando leio um livro é irritante porque estou constantemente a parar para apontar qualquer coisa (…) Não gosto muito de ler mas adoro escrever, é um traço meu.”
As razões estendem-se por um mecanismo de processo criativo onde escrita e sonoridade florescem quase simultaneamente. “Escrever acaba por fazer mais sentido porque os sons instantaneamente levam-me a palavras.Como aquelas pessoas para quem as palavras têm cor. E é engraçado porque, se daqui a três, quatro meses ouvir a mesma melodia, posso dizer as mesmas palavras mais ou menos. Acabo por escrever a letra ao mesmo tempo da melodia, sempre, porque uma coisa vive com a outra. É a minha terapia, mais depressa consigo escrever do que falar com alguém”.
O processo é solitário, catártico, como se num quarto privado coubesse toda a existência. O trabalho deve amadurecer sem que antes conheça qualquer outro ouvido, lido ou cantado. “O Jardim”, por exemplo, foi uma canção que mostrei precocemente e isso magoou-me um bocadinho” - lembra. “Uma canção é pessoal e há o momento em que mudas o chip e ela deixa de o ser, é só uma canção. Eu preciso de tempo para esse processo. Mas como havia a questão dos prazos do Festival da Canção, tive de mostrar e desatei a chorar na reunião porque ainda não o tinha feito”.
A faixa, vencedora da 52ª edição do certame que dá acesso ao palco maior, a Eurovisão, faz parte de um universo de intermissões da criação. Lados B, de raiz torcida nas limalhas da saudade, de desamores. Escritos que, na profundidade da carne, se materializaram numa divisão do novo disco em duas metades. “Há um ano a minha avó fica doente e, no espaço de um mês, desaparece. Isso foi uma mudança completa de assunto. Tenho saudades de uma pessoa e estou a digerir o facto de alguém tão importante para mim se ter ido embora”.
“A minha melhor amiga”, como a descreve, inunda cada pedaço da paisagem. Um amor de face para o infinito num inabalável diálogo muito para além daquilo que qualquer morte permitiria. “É uma relação que não encontro em mais ninguém, é insubstituível (…) a “The Crossover”, que é uma intermissão, é possivelmente a [faixa] mais pesada. A minha avó estava sempre a fazer um som nas tarefas dela e eu comecei a fazer uma canção com essa melodia. É daí que vem o “take my hand don’t let me fall…”. Eu ouço isso e ouço a minha avó. É muito literal, como se fosse a minha avó a cantar aquilo”.
É este o mote para que Human, o seu primeiro disco, inverta o rumo. O rítmico lado A, esculpido pela gestão do tempo - “queria falar de assuntos que me preocupavam mas não necessariamente um desgosto de amor gigante (…) Gosto de fazer tantas coisas e de estar com tantas pessoas que, às vezes, é preciso saber gerir prioridades” - acaba a verter noutra paisagem biográfica, mais crua. “Tentei continuar a fazer canções sobre o mesmo assunto mas já não estavam a ser verdade, não era o que estava a sentir. Nesse momento tive de tomar uma opção e pensei ‘ok, o álbum já não vai ser o que eu tinha imaginado, vai ser o que é verdade’. Não deitei o lado A fora mas iniciei um lado B, que são canções que ainda não apresentei mas são da ordem de ideias de “O Jardim”, sobre sentir muito a falta da minha avó, sobre coisas que ela fazia, sobre não encontrar determinadas coisas noutras pessoas”.
A escrita tornou-se assim uma forma de dosagem da realidade sem nunca perder a limpidez. Por entre as fendas, a queda no melancólico como alimento das canções seria expectável. Já o foi. Não é mais. “Percebi que era horrível. Na altura da Operação Triunfo, quando era mais miúda, parecia que puxava o botão da tristeza mais vezes para fazer canções. Depois percebi que isso era uma violência, que não faz sentido. Não tento estar triste ou nostálgica para escrever, isso é terrível. Se me apetece escrever uma canção sobre uma coisa que me magoa, tento não camuflar isso e escrevo”.
Vulnerabilidade, doçura. O produto da folha terá sempre a capacidade de estremecer o peito, mas no palco, a permeabilidade é voraz. As imagens e os suspiros combinam-se num incêndio profundo para os que estão do lado de cá, a ouvir. Mas é importante que a carga seja repartida. Foi essa a razão que a levou a respirar na música e não unicamente na escrita. “Eu tenho coisas, tenho contos. Mas nunca consegui escrever mais porque não tenho disciplina (…) se escrevesse um livro, era provável que ficasse muito desprotegida porque ia pôr tudo o que tenho lá dentro e isso deixa-me muito desconfortável”.
A imunidade do artista, diz, surge naturalmente à medida que a temporalidade aumenta. “Fiz agora dois concertos com músicas novas e parece que a carga emocional está toda lá (…) mas o álbum foi feito há tão pouco tempo que há canções que ainda são muito reais para mim. E isso é sinal de verdade”, explica, “uma pessoa vai aprendendo a distanciar-se, a conseguir transmitir as canções da forma certa mas sem nos martirizarmos (…) tenho vindo a perceber é que as pessoas percebem mesmo quando estás a dizer uma coisa que é verdade, que tu sentes de alguma forma, ou quando estás a só a contar uma balela qualquer porque fica bem na canção.”
Em rodagem a partir de junho, o álbum é um lençol de envolvência a todos estes temas. Uma tradução de vida engolfada na assimetria humana, trazida como história, para nos mostrar como somos “nada”, como “não comandas nada e tens de pura e simplesmente fazer o melhor que conseguires com o que te acontece. Esse foi o meu conceito, assumir isso e dar-lhe esse nome. É sermos pessoas.”
*Artigo originalmente publicado na edição de abril da Vogue Portugal
Most popular

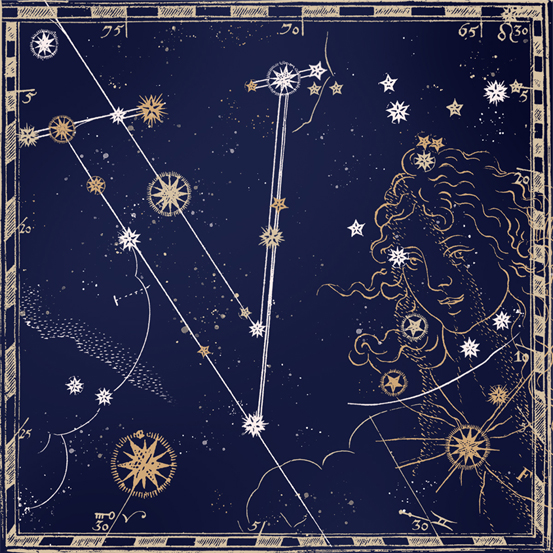
Relacionados
.jpg)
Alice Trewinnard prepara-se para a GQ Night of the Year | Beauty Confessions
23 Nov 2024

.jpg)