Love & Hope Issue | © Mirrorpix / Getty Images
Tenho quarenta e oito anos. Dezoito deles sem cão. Não fossem esses tempos profanos, desalentados, desanimais, desumanos, ainda hoje não saberia o que é a solidão.
Não pensem que tenho o génio que chegue para chegar à frase supra. É inspirada em algo remotamente parecido, mais no sentido do que na forma, a um escrito do grande Manuel António Pina, que teria feito 80 anos no passado dia 18 de novembro. Está no livro Nenhuma Palavra e Nenhuma Lembrança (1999), “capítulo” Em Prosa Provavelmente, num poema (em prosa, lá está), intitulado Lembranças. Fala de se ter encontrado, um dia, olhando-se por fora, numa cidade estrangeira. E da mãe (com aquelas que serão, arrisco a aventar, algumas das frases mais ternurentas de sempre). E do cão. Que se chamava Coq (ou Coque?). E era velho. Um dia desapareceu. Colocou-se a hipótese de ter partido com os homens que tinham estado vários dias a caiar a casa, durante os quais o mais novo fizera grande amizade com o bicho, partilhando com ele o conteúdo da lancheira. Mas poucos dias depois, chegou a notícia... Coq tinha sido enforcado com um arame por um vizinho. Porque, durante a noite, lhe assaltava a coelheira. Na semana seguinte, os caiadores regressaram para receber o dinheiro. O mais novo perguntou pelo cão. “Enforcaram-no”, respondeu o pequeno Pina. Que, no final do dia, soube que o caiador tinha entrado na casa do vizinho e, pegando num sacho, o matara, sem proferir uma palavra. Conseguirá alguém entrar na mente de alguém que mata para vin- gar um animal? Para além de mim? Matar por amor é, sequer, amor? Um crime passional ainda o é? Ou limita-se a uma parangona no jornal? Quando eu tinha não mais que uma dezena de anos, porque me lembro dos berlindes (“guelas”), do pião que nunca dominei e das calças de bombazina com joelheiras, o nosso cão (Terry) também desapareceu. Foram os dias mais sufocantes de que me lembro até ver a minha primeira namorada “a sério” beijar outro moço na pista da Discoteca Visage, naquela fatídica matiné de domingo, só porque ele era “vanguarda” e eu um “surfista” que ajudava os meus pais no café – a minha mãe com os braços queimados de fritar choco, o meu pai a envelhecer a olhos vistos, eu sem tempo para ir a essa mítica discoteca caparicana. Encontrámo-lo muitos dias depois, no trilho que usava para regressar a casa das suas desventuras com cadelas “saídas” na vizinhança e mais além, qual Dom Juan da Cereeira, Sobreda da Caparica (seria porém ultrapassado muitos anos depois pelo Óscar Tobias JB Adolfo Dias, rafeiro musculado e inteligentíssimo, cão de circo capaz de fazer qualquer “truque” que se lhe ensinasse, com um ligeiro estrabismo que lhe dava um ar encantador, o preferido de todas as fêmeas da vizinhança, semeando descendência que ainda hoje é notória). Terry estava inchado, tinha uns olhos vítreos como aqueles peluches “do chenês” e a perplexidade e apatia que se me seguiram durante semanas mostraram-se incapazes de lidar com o desgosto da minha mãe e da minha irmã. Pus na cabeça que o culpado era o Zé Luís e, durante a “construção” da barraquinha onde nós, os putos lá da rua, vendíamos carrinhos da Majorette que já não queríamos (o Mercedes 190d que eu adorava afinal era todos os táxis de Portugal), na Noite de São João, dei-lhe uma sacholada na tola (true story). A caminho do hospital, ninguém acreditou que fora sem querer, porque o sacana decidira apanhar as ervas do chão enquanto eu estava a cavar. Entretanto, tornámo-nos compinchas. E só muitos anos mais tarde soube que, numa vivenda não muito distante, dois manos faziam esperas aos cães de menor porte, que conseguiam passar pelas grades do portão em busca da caniche “saída”, para os espancarem com paus e barras de ferro. Terry escapara, seguira o trilho para casa, mas ficou pelo caminho. Eram outros tempos. Quando as paisagens deste país eram uma cadência entre belas vistas e casas com um terreiro onde os cães, presos por uma corrente de poucos metros, se abrigavam num bidão e comiam restos, quando não pão embebido em água. Hoje, ocorrências destas dariam direito a criminalização. Porque, neste âmbito, Portugal progrediu a ponto de se tornarem exceção, condenadas por todos nós ainda antes de chegarem à barra do tribunal. Mas é precisamente isso que faz com que, no tempo em que os maus-tratos animais eram prato do dia, as excepções fossem um incomensurável amor.
Sobreiros, vacas beges, rebanhos, vinho, enchidos, migas e, mais hodiernamente, infinity pools sobre o montado rodeadas de espreguiçadeiras ou lounge beds com mosquiteiros esvoaçando, é esta a imagem que a maioria tem do Alentejo. A minha é a taberna, ao lado da porta, onde existe uma espécie de degrau “esculpido” na própria parede e que serve de banco. Sentados neste estão sempre meia dezena de velhotes, cada um com o seu “canito” aos pés. O canito Alentejano é uma instituição. Rafeiro, pequeno, atarracado, pata curta, passeia-se durante o dia pela aldeia ou queda-se nos degraus da porta de casa. Mas só quando os seus donos não saem. Aí, é inseparável companheirão. Na ida ao “panito” bem cedo, à mercearia pela manhã, à taberna para um branquinho antes do almoço. É recolhido à hora da escalda no verão e nos gélidos e chuvosos dias de inverno e, claro, todas as noites, por volta da hora do Preço Certo. Ao jantar fica ali ao lado, junto ao braseiro, come à mão um coirato da entremeada ou uma cartilagem do entrecosto e depois recolhe-se para a sua “caminha.” A dona é a sua heroína, para a qual olha com os olhos semicerrados, encanto estampado no focinho, até que ela se lhe dirige com alguma frase, aí é orelhas para trás, uma passagem de língua pelas beiças e o amor estampa-se-lhe naquela cauda-abanico. Menos bucólico, mas nem por isso menos assinalável, está o cão da cidade. Aquele que está habituado a todas as mordomias, que é alimentado a ração da sua preferência, que sobe para o sofá, que é passeado pelos jardins urbanos a determinadas horas mas que, na esmagadora maioria dos casos, passa o dia sozinho, enquanto os seus donos estão no trabalho (abençoada pandemia, que lhes deu tudo aquilo que desejam). E, nesse caso, há algo que determina tudo aquilo que se pretende explícito neste texto. Há o momento em que seguramos, pela primeira vez, o nosso filho nos braços. Há a memória da nossa mãe a dar-nos um beijo na testa para ver se tínhamos febre. No meu caso, há o abraço do meu pai chegado de meses de viagem. Mas há, todos os dias, todo o reboliço que se segue ao ato de colocarmos a chave na fechadura da porta e entrarmos em casa. Não é uma mera “receção.” Não é só contentamento. Não é apenas incredulidade. É a mais emotiva, festiva e sincera demonstração de puro amor. Incondicional, dadivoso e absoluto. Nós, os humanos, queremos muita coisa durante a vida. Os cães só desejam que os seus donos não se afastem mais que um metro, mais que uma hora, mais que uma vida inteira. E a deles é tão curta.
Estamos carecas (por acaso a esse nível não me posso queixar) de ler sobre as diferenças entre cães e gatos. Talvez seja tempo de distinguir os donos de uns e outros. E talvez começar pelo facto de os gatos não terem donos. Quando muito, é o bichano que rege o humano que anda ali, pela casa que é sua (que desplante), que lhe dá aquele patê que ele adora (e ai dele que mude de marca), que lhe limpa a latrina e que lhe dá festas quando ele está para aí virado (de contrário é unhacas para que te quero) e nunca na barriga. Por outro lado, o dono do cão é o seu ídolo. Contam-se pelos dedos de uma mão quem alguma vez obteve, de outro humano, metade do amor que o seu canídeo nutre por si. Isto coloca um problema sociológico. Se não encontramos o amor, obtemos um cão. É tão certo como, se não conseguirmos sequer “meter conversa” com aquela moça que passeia todos os dias o seu buldogue francês à mesma hora que damos uma volta com o nosso dálmata, podendo daí resultar uma relação amorosa intensa, duradoura e sem percalços de maior à exceção das meias espalhadas pela casa e do tampo da sanita aberto, basta chegar a casa e chamar o bicho para a cama para ver o amor a acontecer. Nesse âmbito, os donos de felídeos são mais sinceros no seu amor. Assim como um canídeo nos ama pelo que nós somos, também os donos de gatos, com os seus braços e pernas esgatanhados, sofás descarnados e bibelôs partidos amam o seu bicho pelo que ele é: por vezes um doce, por vezes um monstro. Mas é o amor, fazer o quê? Eu respondo: ter animais! Só quem tem esse privilégio sabe que é muito mais do que apenas isso. Pode não jantar connosco à mesa (também não o faz um filho adolescente), pode não falar (quantas vezes imploramos por silêncio?), pode não perceber, com toda a exatidão, quando nos queixamos do trabalho, mas é garantido que um animal faz de nós um humano melhor. Quem tem animais não os distingue da restante família, mesmo que não o saiba. Há uma fronteira que cai, qual espaço Schengen nos anos 90, quando passámos a poder descobrir, ao volante e Europa fora, um outro mundo. Falamos com os nossos animais como falamos com os nossos filhos, só não sobre as notas na escola. E só parece ridículo a quem não os tem. Fazemos-lhes as vontades, cuida- mo-los na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. E o que é que recebemos em troca? Tudo!
Nisto do amor pelos animais, uma chamada de atenção para aquilo que eu considero ser uma exceção (que incluirá exceções dentro da própria) e que nem sequer está nos criadores. A busca por lucro à custa de animais não é para aqui chamada, pelo menos com respeito. Mas existe por uma razão: há quem os compre. Adquiriríamos um amigo para ter lá em casa? Um filho, uma mãe? Dar dinheiro por um animal não é amor. Dar centenas de euros porque é de determinada raça é pura ostentação. Um cão não é um Porsche Cayenne. E os abrigos de animais estão pejados de bichos enjaulados suplicando por atenção. Eu “tive” seis cães durante a vida. Todos rafeiros. Deram-mos em cria. Uma coisa é “criar” um canídeo desde que nasce, há fascínio, há amor para além do calçado roído e da urina em casa. Mas o meu último cão foi acolhido das ruas quando ele tinha seis anos, segundo o veterinário. Neste caso, ocorre aquilo que se pode chamar de pura magia. De magro, temeroso e olhos tristíssimos, Caleb evoluiu para um gigante gentil. Todo gratidão ele, todo eu o que nunca fui, um “educador” de um cão que reaprendeu a não temer humanos, a brincar e a comunicar. Enorme, preto e de ar assustador, tinha uma alma tão grande que, à presença de pessoas que temem cães (sim, há-as), pousava a cabeça sobre as suas pernas quando estavam sentadas ou, se em pé, assomava a um metro e erguia a pata, como quem declara, como me viu declarar-lhe tantas vezes: “Nada temas, meu pequeno.” Isto não é aquilo que temos como sendo “comportamento animal.” Isto é outra coisa. Na minha tendenciosíssima opinião, os cães são presença assídua nas nossas sociedades há tanto tempo que, convenhamos, conhecem-nos melhor e sabem lidar muito melhor connosco do que tantos (e cada vez mais) humanos. Da humanidade que vemos, diariamente, esvair-se-nos por entre os dedos, chamemos-lhe, justamente, canicidade. Faria deste mundo um lugar melhor.
“Eu tenho um melro”, cantava-se na Deolinda. Pois bem, eu ganhei, Ana Bacalhau... Eu tive um Gaio (Garrulus glandarius) chamado Valdemar. Caiu do ninho atacado por um gato (caros donos de felídeos, por favor fechem os vossos bichanos porque representam grande perigo para a avifauna) e eu não tive outra hipótese senão trazê-lo, alimentá-lo, ensiná-lo a voar, tê-lo ao ombro durante todo o dia de trabalho (estávamos em plena pandemia) e dormir sestas com ele deitado no meu peito. Até que, alguns meses depois, já bicho completamente independente (e ao invés de soltá-lo queria ter a certeza de que estava preparado para isso), o entreguei no Centro de Recuperação de Aves de Monsanto. De onde recebi, uma semana mais tarde, um email transmitindo que Valdemar não havia sobrevivido. Ao quê? A uma gaiola cheia de outros exemplares altamente territoriais? À falta de alimento e água que já conseguia encontrar sozinho? Não perguntei. A choradeira aqui em casa (e que regressa a cada vez que se refere o animal) já era pesada que bastasse. Entretanto, acho que subi uns pontos na escala dos Animais de Estimação Invulgares quando, há uns meses, e também ele caído do ninho para o meio da estrada, encharcado, pouquíssimas penas e “semeadas em dia de tempestade”, trouxe aquele que agora é já um “homem feito”, vive aqui em casa e, não obstante as janelas estarem todo o dia abertas (em nome de toda a liberdade que merece para ser feliz), não sai. É o Dr. Fernando (Fanã para os amigos) e é um pombo. Sim, um pombo. Podem fazer “blergh” à vontade, podem chamar-lhe “um rato com asas” mas os factos são que Dr. Fernando responde pelo nome, arrulha quando eu chego, gosta de sementes de girassol, de broa de milho esfarelada, de festas nos ouvidos e de brincar às escondidas. Porque, garanto-vos, essa coisa de “Ah e tal eu sou mais de cães” ou “Ai eu cá sou mais dos gatos porque têm personalidade” não pega comigo. Ou se gosta de animais ou se anda cá a ver o mundo a passar-nos por fora.
Originalmente publicado no Live & Hope Issue, de dezembro 2023/janeiro 2024, disponível aqui.
Most popular
.png)
.png)
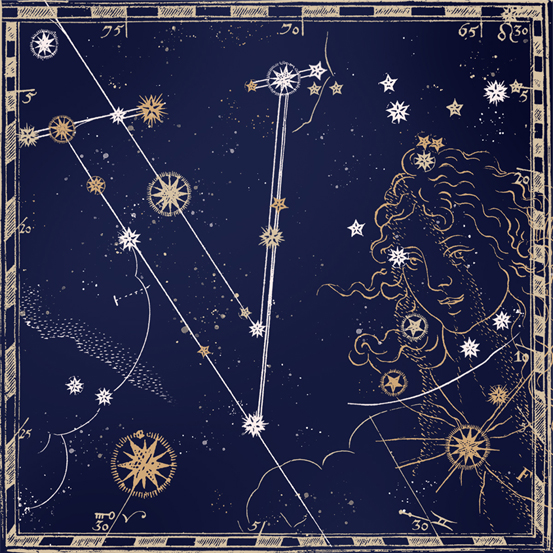
Relacionados


.jpg)

Como escolher joias para iluminar o rosto? A regra de “ouro” e 5 dicas para brilhar
16 Apr 2025



