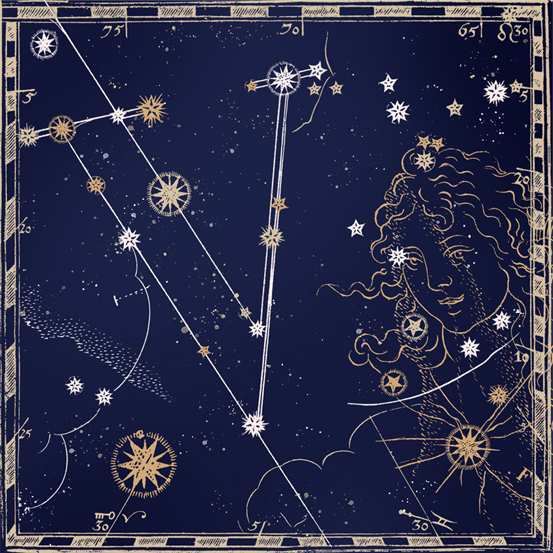Numa era em que cada vez é mais urgente viver, faz sentido continuarmos a ver o amor como uma viagem só de ida, sem escalas nem paragens pelo caminho? Se em 2015 os Unknown Mortal Orchestra cantavam sobre a relação poliamorosa do seu frontman, Ruban Nielson, agora voltamos às aulas para perceber qual é a fórmula certa para amar — ou se há sequer apenas uma.
Numa era em que cada vez é mais urgente viver, faz sentido continuarmos a ver o amor como uma viagem só de ida, sem escalas nem paragens pelo caminho? Se em 2015 os Unknown Mortal Orchestra cantavam sobre a relação poliamorosa do seu frontman, Ruban Nielson, agora voltamos às aulas para perceber qual é a fórmula certa para amar — ou se há sequer apenas uma.

© Karén Khachaturov
© Karén Khachaturov
Antes de começar, tenho de me declarar um fã hardcore da Marvel e — prometo que isto vai ao encontro do que quero falar — um fã em crescendo da Tessa Thompson, desde que a descobri no videoclipe de Pink, de Janelle Monet. Essa admiração cresceu ainda mais quando a vi protagonizar Valkyrie no terceiro filme a solo de Thor, Thor: Ragnarok (2017), e o meu favorito da trilogia a solo do herói. E, spoiler alert: supõe-se que a personagem seja queer. Se tudo isto lhe parece estranho, e está a matutar algo do género “afinal onde é que ele quer chegar?”, então continue a ler. A verdade é que, quando recentemente me deparei com a notícia de uma possível relação a três de Tessa Thompson, ou throuple, conceito que descobri apenas na série The Politician (2019), em que existe uma relação desta natureza e um dos intervenientes é uma figura pública, razão pela qual seria um escândalo se se descobrisse, de repente, que eu era uma dessas pessoas escandalizadas. “Estou em choque”, pensei, para logo de seguida concluir: “Mas estou em choque porquê?” É este o pontapé de saída para a interpretação, boa ou má, da regra empírica, e implícita, do que deve ser um relacionamento. Será que devemos colocar limites ao amor, quando este funciona numa base ética e consentida? Inês, de 30 anos, é uma amiga próxima. Assume-se como solo polyamory (alguém que mantém múltiplas relações íntimas, mas que vive de forma independente, ou solteira, para o caso) e diz-me que não, “que é curioso que ninguém questione se um pai ou mãe tem capacidade de amar mais um filho, mas que o inverso acontece quando se fala na capacidade de multiplicar o amor romântico.” São amores diferentes, claro, mas será que esta multiplicação não é, também ela, transversal aos vários tipos de relacionamento? Também multiplicamos o coração pelas amizades e, de repente, um T1 passa a uma mansão à la MTV Cribs com 83 quartos, piscina e court de ténis. Porque é que esse amor não é bem visto se se multiplicar, também ele, nos nossos relacionamentos amorosos?
É nesta equação complexa, sem fórmula certa à vista, que encontramos um preconceito que nos parece mais difícil do que a soma de um mais um. E é isso que é preciso normalizar. A matemática não se faz apenas de somas, mas de multiplicações, divisões, números primos e tanto mais. Existe todo um espectro matemático, como um relacional, a que é preciso dar palco. Para se ouvir e se perceber. Antes de continuar, quero apenas fazer um parêntesis. Não sou poligâmico. Não acho que me reveja nessa forma de amar, mas vejo-a e aceito-a como válida e normal. E não como “uma estupidez” como é possível ler nas infinitas caixas de comentários a artigos relacionados com o tema. Acho importante, como homem cis gay, que se esforça todos os dias para ir contra os preconceitos e julgamentos a que é sujeito, que se abra e dê espaço a esta revolução sexual ética e consentida do século XXI. Porque também ela é uma forma de amar. A ser totalmente honesto, já eu tive vontade de romper com o paradigma e saltar a cerca. Calma, não estou a falar de traição, antes desse malabarismo que são os relacionamentos entre duas pessoas. Onde? Nos meus encontros através de dating apps que, não só intensificam a urgência de querer tudo ao mesmo tempo, como a facilitam. Se num dia tinha um encontro com um rapaz por quem nutria algum tesão, no dia seguinte marcava outro encontro, e semelhante efeito acontecia. E a dúvida permanecia: será assim tão mau um test drive com pessoas diferentes, em simultâneo? Se por um lado pensava na trabalheira que dá uma relação monogâmica, então uma poligâmica deve ser o dobro, ou o triplo. Porém, também existe o lado curioso e platónico que me deixava a pergunta na cabeça: “E se?” A verdade é que também me perguntava se seria natural ou não. Natural a mim, aos meus valores, à minha personalidade e ao que conseguiria ou não aceitar. O medo de ser corrompido por ciúmes era constante — por já ter sido corrompido pelo mesmo no passado — e não me deixava aprofundar muito o tema nem sequer colocá-lo como hipótese a considerar.
Segundo um estudo realizado por Rui Diogo, especialista em biologia evolutiva e antropologia, investigador e professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Howard, em Washington, nos Estados Unidos, “se a monogamia fosse natural não tínhamos de fazer leis e matar pessoas por causa da poligamia. Não se fazem leis para dormir ou para beber. Mas matam-se pessoas por não serem monogâmicas.” Há quem tenha sorte, como Inês, “de encontrar pessoas que me exigiram um maior questionamento sobre todas estas questões — sobretudo na verdade — e que me levavam a perguntar, a mim mesma, sobre todas as ideias e pensamentos que surgiam na minha cabeça: de onde é que isto vem?” E a verdade é que não se pensa bem de onde é que vem este condicionamento, sem que se conheça a história. O conceito de monogamia está intimamente ligado com o de propriedade privada, conta Rui Diogo no seu estudo, na altura em que “a agricultura trouxe a ideia de propriedade privada e esta criou o conceito de herança. Nessa altura o homem quis garantir que a sua herança ficava para o seu filho e não para o de outro homem e aí impôs a monogamia à mulher.” Sem querer tornar isto numa aula de história é importante percebermos como começou e, o que conhecemos hoje como a aliança de casamento era antes um anel colocado à força na mulher, quase que como um cinto de castidade para o qual não havia chave, para mostrar que esta já era propriedade de alguém. Mas não é só na poligamia que encontramos um desvirtuamento daquilo que é considerado normal. Também as relações que fogem à heteronormatividade, por mais monogâmicas que sejam, são alvo de preconceito com as quais temos de viver e batalhar — não fossem o Pride e todas as marchas do género cada vez mais necessárias. Continua a ser estúpido não validar qualquer forma de amor que exista, desde que ética e consentida.
Não me interpretem mal. Não estou a levar avante uma campanha de promoção à abolição da monogamia, nem querer incendiar uma guerra entre monogamia versus poligamia. Também não quero provar que uma é mais válida do que a outra, ou que as relações alternativas, como gold standard, são o futuro. Mas a verdade é que é tanto o progresso da sociedade, e a consequente evolução de mentalidades que lhe está associado, como a própria pandemia, que obriga cada um de nós a realizar uma introspeção mais aguda e a perceber, e valorizar, o conceito de individualidade — é impossível não colocar estas questões. É normal que daí advenha uma necessidade de nos questionarmos sobre o que é ou não certo para nós. E para os outros. “Será a monogamia o que funciona melhor comigo e com as minhas necessidades?” É importante que nos questionemos a fundo e percebamos o que é que nos satisfaz realmente. Existe um medo tacanho de explorar tudo o que está fora da nossa zona de conforto e cada vez mais criamos uma aversão a qualquer tipo de mudança. Não será também válida uma relação em que o que entendemos como amor passa por multiplicá-lo com outros, ao mesmo tempo, ou até mesmo partilhá-lo com quem também já partilha o mesmo sexo, ou género, que nós, sem que isso pareça estranho aos olhos de quem está de fora? Quando o amor assume todas as formas e feitios, transcende-nos ao ponto de nos levar a cometer loucuras — quem nunca fez uma estupidez por amor, que atire o primeiro coração partido — pelo que me parece uma estupidez limitá-lo e conduzi-lo numa estrada de um só sentido, sem estações de serviço ou saídas tipo: “Veja aqui as maiores abóboras biológicas com 30kg do país.”
Mas afinal, o que é preciso para começarmos a ver como opções válidas todas estas variantes do amor? “Uma questão na qual sei que me desvio da norma (ou se calhar nem tanto, talvez pareça mais por uma questão de forma) é ver a sexualidade de uma maneira mais livre, no sentido em que gosto de a ter com várias pessoas” diz-nos Inês. “Experienciar a vida dessa forma obrigou-me a pensar estas questões das relações amorosas. O que é que separa uma relação amorosa de uma grande amizade? É a questão sexual? E se não for — se todas estas amizades coloridas esbaterem esta fronteira, como é que posso definir o amor romântico?” Não existe uma resposta universal. Se por um lado Inês vê no amor romântico infinitas possibilidades de relacionamento com várias pessoas, por outro temos José, para quem “uma relação amorosa é uma ligação entre duas pessoas que se inicia por um desejo anatómico e que depois existe e se perpetua pela construção diária dos dois, numa procura de ambos de se alinharem e encontrarem em cada um algo que os vai fazendo crescer diariamente.” Contudo, independentemente do número, género ou sexo das pessoas envolvidas, apenas uma coisa parece ser universal para o bom funcionamento da relação — seja ela de que tipo for: a comunicação. “Acho que para qualquer relação funcionar todas as partes têm de estar disponíveis para esse trabalho interior, sem tentativas de escape, de não lidar com o que surge. É na relação com o outro que nos encontramos”, sublinha Inês. “Se tivermos medo ou não nos quisermos encontrar — ou se acharmos que nos conhecemos tão bem que nada disso é necessário — não vamos muito longe. Nem connosco nem com ninguém. Não digo longe na conceção típica — casamento, filhos, longevidade. Isso até pode acontecer. Mas longe em nós, no indivíduo e no conjunto.” É esta comunicação, o chegar a um acordo e perceber o que funciona para cada uma das partes, que devemos ter com quem quer que estejamos numa relação a um, dois ou três. Numa relação heterossexual ou homossexual. Mas sempre numa relação com uma base ética e consentida.
A heteronormatividade já não é a única opção. Temos ao nosso dispor um vasto espectro de possibilidades só que, infelizmente, ainda são condicionadas por restrições mesquinhas e regras datadas, impostas pela sociedade, que não permitem explorar outros caminhos. Ou permitem, mas não é de bem. Nem toda a gente quer casar, ter filhos e viver com a mesma pessoa que conheceu no liceu para o resto da vida. É muito, muito, bonito que isso aconteça. Prova que o amor é resiliente e duradouro. Mas não invalida outros tipos de amor que, por não serem duradouros ou monogâmicos, não sejam também eles válidos, resilientes ou especiais. O amor entre duas pessoas do sexo oposto pode ser a coisa mais bonita do mundo. Como o amor de duas pessoas do mesmo sexo. Ou três. Ou quatro. Existem infinitas possibilidades. E existem inúmeras aprendizagens de cada lado da barricada. “A única objeção que temos contra a monogamia não é a prática em si, mas sim a crença universal que é a única escolha aceitável”, lê-se em The Ethical Slut (2017), de Janet W. Hardy, autora e coautora de 12 livros especializados em aventuras sexuais, e Dossie Easton, psicoterapeuta, conselheira de relacionamentos e educadora, que tem trabalhado desde 1969 com culturas de minorias sexuais. Por recomendação de Inês, foi neste livro que desvendámos muitos mitos e realidades do variadíssimo espectro relacional que existe. E que aprendemos a assimilar os vários relacionamentos conscientes, sejam eles poliamorosos, abertos, alternativos ou monogâmicos.
Não existe fórmula universal, mas sim uma que é criada por nós e para cada um de nós. O que nos é ensinado na escola e pela cultura presente não vive de forma imutável na atmosfera e, apenas por isso, não a devemos tomar como regra. Não quando, hoje em dia, se vive uma revolução a todos os níveis, emocionais e psicológicos, do ser humano. Se algo de bom surgir desta crise pandémica que ainda vivemos, que nos obrigou a confinar e a dar mais valor às liberdades que antes dávamos como adquiridas, é que existe uma urgência em amar. E essa urgência transpõe-se, também ela, numa urgência em viver tudo ao mesmo tempo com toda a intensidade que nos é possível. “Seria bom termos muitas histórias diferentes, uma pluralidade de visões partilhadas que xs façam pensar, refletir e explorar, descobrindo-se a si próprixs pelo caminho”, conta-nos Inês. E essas histórias vemo-las cada vez mais presentes no mundo e cada vez mais normalizadas na sociedade. É por isso que digo que é urgente normalizar o amor, em todas as suas formas, pois se há algo sobre o qual não temos controlo, ou poder nenhum, é isso mesmo.
Artigo publicado da edição Nonsense da Vogue Portugal, de julho/agosto de 2021
Most popular
.jpg)

Sapatos de noiva confortáveis e elegantes: eis os modelos a ter em conta nesta primavera/verão
24 Apr 2025

Relacionados

Os benefícios de caminhar durante as primeiras 3 horas do dia para produzir vitamina D e dormir melhor
29 Apr 2025