Sob o manto de Álvaro de Campos, desabafou Pessoa em tempos que já lá vão: “Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. / Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. / As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. / Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas.” Muitas décadas depois, recuperamos as suas palavras para introduzir um tema que não deixa ninguém, nem os mais céticos, indiferente - as maiores histórias de amor de que há memória.
Sob o manto de Álvaro de Campos, desabafou Pessoa em tempos que já lá vão: “Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. / Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. / As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. / Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas.” Muitas décadas depois, recuperamos as suas palavras para introduzir um tema que não deixa ninguém, nem os mais céticos, indiferente - as maiores histórias de amor de que há memória.

'To Dust', de Jonathan Schipper. Duas esculturas suspensas num mecanismo, que as aproxima. As esculturas deslizarão uma em direção à outra, criando uma nova forma.
'To Dust', de Jonathan Schipper. Duas esculturas suspensas num mecanismo, que as aproxima. As esculturas deslizarão uma em direção à outra, criando uma nova forma.
Todos os homens vivem, morrem, e pelo meio, se tiverem sorte, encontram alguém que faz o seu coração parar. Não é preciso ser filósofo para saber isto. Não é preciso ser poeta para escrever isto. Basta cruzar os olhos com alguém, por instantes, e sentir um desfalecimento nas pernas ou um arrepio na espinha (“no momento em que te vi pela primeira vez, perdi-me”, dirão centenas de apaixonados, dia após dia). A-M-O-R. Mais do que borboletas, é um tornado que leva tudo à frente, sem pudores. “E é amar-te, assim, perdidamente. É seres alma, e sangue, e vida em mim.” Passamos milhares de horas num planeta azul, perdido numa galáxia escura, mas assim que encontramos o sinal mais para o nosso menos enchemos o universo de todas as cores. “E dizê-lo, cantando, a toda a gente!” Claro que nem todos podemos beber dessa poção mágica, cavalgar essa montanha-russa de emoções, porque o amor que se canta desde o início dos tempos, o amor com A maiúsculo, é mais suor e lágrimas do que campos verdejantes e manhãs de sol. De outra forma, os contos de fadas nunca passariam de um projeto frustrado dos deuses que, lá do alto, controlam o coração dos homens. E é por isso, só por isso, que há estórias de amor que ficam para a História, ultrapassando limites de geografia e prazos de validade. No meio de triliões de desencontros que correram bem, há alguns que correram tão, mas tão bem (independentemente de terem, depois, vivido “felizes para sempre”) que ainda hoje falamos neles como se fosse a primeira vez que um homem olhasse para uma mulher e dissesse, em todas as línguas possíveis, “Eu amo-te.”
No universo das artes, onde tudo acontece a uma velocidade ensurdecedora, é habitual que duas mentes criativas tropecem uma na outra e descubram que, afinal, as suas sensibilidades são farinha do mesmo saco. Frida Kahlo e Diego Rivera. Leonard Cohen e Marianne Faithfull. John Lennon e Yoko Ono. Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Por onde começar? “O Robert e eu éramos sempre nós próprios - até ao dia em que ele morreu, éramos exatamente como quando nos conhecemos. E amávamo-nos. Toda a gente quer definir tudo. Será necessário definir o amor?” O mundo está farto de partilhar excertos da história de amor romântico entre a cantora Patti Smith e o fotógrafo Robert Mapplethorpe, duas almas perdidas que se encontraram em Nova Iorque no final dos anos 60 para começar um entendimento invulgar entre seres humanos. “Foi como se ficarmos juntos fosse a coisa mais natural do mundo, não deixarmos o lado um do outro, exceto para ir trabalhar. Nada foi dito; foi apenas entendido mutuamente. Para mim, eu e o Robert estávamos irrevogavelmente entrelaçados.” É assim que a autora de “Because The Night” conta em Just Kids, o livro onde relata as aventuras de dois jovens adultos numa metrópole em permanente mudança. Nada significou se, anos depois, o homem com caracóis de anjo e olhos azuis despertou para uma homossexualidade feroz - a deles era uma relação de devoção pura. Este era um amor para desafiar as noções de eternidade. E assim foi.
“Polly Jean, I love you. I love the texture of your skin, the taste of your saliva, the softness of your ears.” Em meados dos anos 90, quando o grunge subia pelas paredes dos quartos de (quase) todos nós, e quando To Bring You My Love era um hino dos amantes inquietos, PJ Harvey e Nick Cave cruzaram-se na estratosfera dos desalinhados e mergulharam nas profundezas um do outro. O público vibrou com a união. Estava feita a dupla mais imperfeita, mas totalmente certa, da cena musical. “I love every inch and every part of your entire body”, escrevia Cave numa carta que haveria de se tornar pública, e que termina de forma sublime: “I need you in my life, I hope you need me too.” É sabido que, apesar das semelhanças entre os dois (em 1995 a revista Rolling Stone sentenciava: “Harvey canta blues como Nick Cave canta gospel: com mais distorção, sexo e sangue do que se pode imaginar”), o destino preparou-lhe caminhos diferentes. Ou então foi apenas uma questão de timing. Foi o próprio Cave quem contou, em agosto deste ano, que o final da relação não foi decisão sua. “A verdade é que eu não desisti da PJ Harvey, a PJ Harvey desistiu de mim. Ali estava eu, sentado no chão do meu apartamento de Notting Hill, com o sol a entrar pela janela (talvez), a sentir-me bem, com uma talentosa e linda cantora como namorada, quando o telefone toca. Pego o telefone, e é a Polly. ‘Olá’, digo, ‘Quero acabar contigo’, ‘Porquê?’, pergunto, ‘Acabou, é isso.’ Fiquei tão estupefacto que quase deixei cair a minha seringa.” Às vezes, o para sempre não dura mais que uma canção de amor. E não faz mal.
A-M-O-R. O dicionário tem um sem fim de significados para esse nome masculino que repetimos até à exaustão. Na Infopédia, encontramos algumas hipóteses: a) sentimento que predispõe a desejar o bem de alguém; b) sentimento de afeto ou extrema dedicação; apego; c) sentimento que nos impele para o objeto dos nossos desejos; atração; paixão; d) afeto; inclinação; e) relação amorosa; aventura; f) objeto da afeição; g) adoração; veneração; devoção. Mas estará por aqui isso a que chamamos de amor? Ou será que ele é mais que tudo isto, nada disto, e tudo para além disto? Há vários tipos de amor, dizem os sábios. Amor por um olhar, por um toque, por uma voz, por uma memória, por um rosto. E há amores que nunca se materializam, e que mesmo assim podem ser mais fortes do que cem anos de solidão. Jean de la Bruyère tinha uma visão precisa do enamoramento. O pensador francês, que relatou como poucos o espírito do século XVII, não tinha dúvidas sobre as valências do (nosso) coração. “Só amamos bem uma única vez na vida - a primeira. Os amores que vêm depois são menos involuntários.” E por vezes acontece que não há outros amores. Esse foi claramente o caso da Rainha Vitória de Inglaterra, que após a morte do marido, o príncipe Alberto, em 1861, se isolou durante mais de dez anos. “Sem ele, todas as coisas perdem interesse”, escreveu no seu diário a monarca, que lhe sobreviveu por 42 anos, durante os quais usou preto total como forma de luto. Tentemos traduzir uma estrofe do poema de Charles Baudelaire, “À une passante”, incluído no livro Les Fleurs do Mal, de 1855, que reflete esta impotência perante o desaparecimento de uma alma gémea, de um outro eu: “Brilho... e a noite depois! / - Fugitiva beldade / De um olhar que me fez nascer segunda vez, / Não mais te hei de rever senão na eternidade?” E depois do adeus, adeus.
“Só amamos bem uma única vez na vida - a primeira. Os amores que vêm depois são menos involuntários.”
Se Eva seduziu Adão para comer a maçã, e se tiver sido esse o princípio e o fim do mundo como o conhecemos, a atração fatal deveria ficar de fora destas memórias. Mas como evitar o encontro de Bonnie Parker e Clyde Barrow em 1930 (que o cinema imortalizou em Bonnie & Clyde, de 1967), quando ela tinha 19 anos, um marido na prisão, e se perdeu de amores pelo fora-da-lei com quem haveria de partir para a imortalidade? Não serão certamente um exemplo a seguir, já que foram responsáveis por diversos roubos e pela morte de vários polícias e, no entanto, aqui estão, a química surreal que transparecia enquanto estavam juntos, a alegria das fotografias que tiraram (sim, há fotografias), a loucura de amor que viveram até serem mortos, juntos, numa emboscada. E como evitar não sentir admiração pela demência que atacou Eduardo VIII, que pelos olhos penetrantes da divorciada Wallis Simpson preferiu abdicar ao trono de Inglaterra? Haverá maior declaração do que a de um homem, de um rei, que afirma perante o seu país: “Achei impossível carregar o pesado fardo da responsabilidade e cumprir os meus deveres como rei, como gostaria de fazer, sem a ajuda e o apoio da mulher que amo”? E já que caminhamos em águas pantanosas, como não sucumbir a esse enorme poema que foi a relação entre Elizabeth Taylor e Richard Burton? Dois casamentos, dois divórcios, e uma paixão que só não moveu montanhas porque, até à data, as montanhas ainda não se desabam à custa de um grande amor. O que começou como um affair escaldante no set de Cleopatra, em 1963 (na altura, os dois estavam comprometidos), tornou-se num dos romances mais famosos do século passado. A premissa “sexo, drogas e rock and roll” está quase certa para resumir esses anos em que Taylor e Burton fizeram as delícias dos paparazzi, tantas eram as idas-e-vindas, as viagens, os diamantes, as brigas, os abraços. “A Elizabeth e eu vivíamos como se estivéssemos ao pé de um vulcão pronto a explodir. Não sou uma pessoa fácil para casar ou para viver. Explodi violentamente duas vezes por ano com Elizabeth. Ela também explodia. Era maravilhoso. Mas podia ser fatal.” E, já se sabe, foi.

Façamos rewind, até uma altura em que não havia imagens em movimento nem retratos do nosso descontentamento. “O Taj Mahal parece a encarnação de todas as coisas puras, de todas as coisas sagradas e de todas as coisas infelizes. Este é o mistério do edifício”. Assim escreveu Rudyard Kipling a propósito do monumento que domina a cidade de Agra, na Índia. Tal como tantos outros viajantes, o romancista inglês não ficou indiferente à imponência do mausoléu, que além de ser considerado Património da Humanidade e uma das sete maravilhas do mundo moderno, é amplamente conhecido como a maior prova de amor de todos os tempos. E, se não for, porque nisto do amor é tudo relativo, é com certeza a maior demonstração de devoção de que há memória. Em meados do século XVII, o imperador Shah Jahan perdeu a sua terceira esposa, Mumtaz Mahal (em português, “joia do palácio”), que era também a sua preferida, devido a complicações no nascimento do 14º filho de ambos. Vergado pela dor, teve a ideia de mandar construir um monumento em sua homenagem. O edifício, que ficaria conhecido como o Taj Mahal, demorou 23 anos a ser concluído, e envolveu o esforço de 20 mil homens, contratados em diversas regiões do Oriente. A sumptuosa construção em mármore branco, um dos ex-líbris da Índia, é um símbolo de como a paixão pode, por vezes, vencer a morte.
É uma história que, pela intensidade, encontra paralelos com a de Inês de Castro, a dama de companhia da princesa Constança, por quem Pedro I, seu marido e herdeiro do trono português, se perdeu de amores. À revelia da Corte, a relação desenrolou-se durante anos, às escondidas, na antiga Vila do Jarmelo, na Guarda, até que o rei D. Afonso IV mandou exilar D. Inês no castelo de Albuquerque, na fronteira castelhana. Mas após a morte de Constança, em 1939, D. Pedro mandou regressar a sua eterna amante, com quem já tinha três filhos, e tentou casar com ela. Mudaram-se para Coimbra e instalaram-se no Paço de Santa Clara, decididos a começar uma nova vida. Corriam boatos de que o casamento já era uma realidade. Pressionado pelos fidalgos que o rodeavam, D. Afonso IV aproveitou uma ausência do filhou e, em 1355, mandou executar Inês de Castro. A lenda diz que as lágrimas derramadas no rio Mondego teriam criado a Fonte das Lágrimas, e que algumas algas avermelhadas que ali nasceram seriam o seu sangue derramado. Mito ou realidade, a verdade é que esta morte provocou a revolta de D. Pedro, que se revoltou contra o pai, e depois de uma guerra civil, ganha pelo primeiro, o povo português jurou obediência à rainha D. Inês. E os seus assassinos foram executados, como merecem ser todos os que curtam abruptamente a vida de um grande amor.
F. Scott Fitzgerald ainda não era o maior escritor dos loucos anos 20. Zelda Sayre era uma rapariga com má reputação - o que nos roaring twenties é bastante relativo. Em plena Primeira Guerra Mundial, encontraram-se em Camp Sheridan, Alabama, onde ele estava estacionado, e dançaram. Um mês depois o autor de The Great Gatsby dizia a toda a gente que estava irremediavelmente apaixonado. Mas Zelda recusava-se a casar com ele, à custa das suas poucas posses. Quando o seu primeiro livro foi aceite por uma editora, Fitzgerald enviou-lhe as boas novas e a rapariga finalmente aceitou casar-se com ele. Estávamos em 1920. A loucura dessa década dava os primeiros passos, e eles inauguraram-na da melhor maneira, com uma lua de mel que foi passada a saltar de hotel de luxo em hotel de luxo e de festa em festa. Ah, the high life. Os Fitzgerald nunca tinham dinheiro suficiente porque viviam no fio da navalha, como se o mundo acabasse ontem à noite. Tinham um amor louco, furioso, ao ponto de ela se por à frente do carro que ele conduzia... e ele avançar. O tempo para escrever era engolido pelo álcool, pelos vícios, pelas discussões, pelos ciúmes. Era uma relação com os dias contados. Depois de 14 anos juntos, Zelda foi internada numa clínica de reabilitação, de onde nunca saiu; Scott viveu angustiado por não ter conseguido salvar a mulher que encarava como sua igual. Os seus livros, esses, ficaram ainda maiores à distância de um século.
A-M-O-R. Terá sempre que ser assim impossível, belo, desconfortável, incontrolável? Tomemos como exemplo a resposta de Jonnny Cash, questionado sobre a sua definição de paraíso. Ao que consta, terá respondido: “This morning, with her, having coffee” - uma frase que na sua simplicidade alarga para lá do óbvio o conceito habitual de amor. Se tomar café com alguém, pela manhã, se pode igualar ao sítio dos bem-aventurados, então o amor terá de ser a melhor coisa do mundo. E foi, a julgar pelos 35 maravilhosos anos que o cantor norte-americano passou ao lado de June Carter, assim é. E assim foi. Fim.
Artigo originalmente publicado na edição de novembro da Vogue Portugal.
Most popular

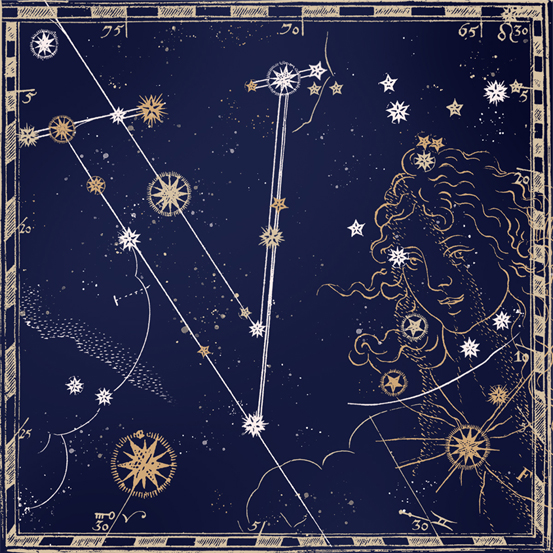
Relacionados





