Joan Didion entrevistou Jim Morrison, descreveu o lado negro do Verão do Amor e pôs a nu os horrores da guerra civil salvadorenha. Começou na Vogue e tornou-se famosa com um artigo sobre autoestima. Obama deu-lhe uma medalha.
Joan Didion entrevistou Jim Morrison, descreveu o lado negro do Verão do Amor e pôs a nu os horrores da guerra civil salvadorenha. Começou na Vogue e tornou-se famosa com um artigo sobre autoestima. Obama deu-lhe uma medalha.
O que é que leva uma criança de cinco anos a escrever a história de uma rapariga que acorda em pânico na Antártida, com medo de não sobreviver ao frio, para perceber, em segundos, que, afinal, está no deserto e vai morrer de calor antes da hora do almoço? Extravagante, não? Assustador? Também. E revelador de uma personalidade com atração pelos extremos, facto sublinhado pela própria autora no documentário que lhe é dedicado, Joan Didion – The Center Will Not Hold, lançado no final de outubro de 2017 pela Netflix e realizado pelo ator e seu sobrinho Griffin Dunne.
Tudo terá começado no longínquo ano de 1938, quando a mãe de Joan lhe ofereceu um caderno de capa azul para anotar os seus pensamentos e peripécias, ao invés de andar a lamuriar-se pela casa. Foi lá que Didion, nascida a 5 de dezembro de 1934 em Sacramento, na Califórnia, anotou a história da rapariga primeiro e muitas outras depois.
Era mais observadora do que faladora e nunca lhe faltaram episódios para descrever, sendo considerada uma das escritoras e ensaístas que melhor retrataram a vida norte-americana, especialmente nas décadas de 60 e 70.
Ia ao cinema três a quatro tardes por semana e foi lá que ouviu John Wayne dizer à heroína de um dos seus westerns “vou construir-te uma casa na curva do rio, lá, onde nascem os choupos”. A frase havia de definir uma certa ideia de amor que não se replicou na sua vida real. “Nunca vim a ser esse tipo de mulher e nenhum homem me levou a viver na curva do rio.”
O primeiro homem da sua vida, o pai, “era dono de uma tristeza profunda. Mesmo nos momentos em que era suposto estar divertido transmitia uma tensão tão grande que, muitas vezes, tinha de ir para o meu quarto e fechar a porta. Era profundamente deprimido, mas, na altura, eu não sabia dar um nome a isso”, confessa a autora no documentário.
A mãe tinha uma confiança inabalável no seu talento. Numas férias, deu-lhe vários exemplares antigos da Vogue e desafiou-a a entrar num concurso de escrita no qual a vencedora ganharia um emprego na redação da revista em Paris ou em Nova Iorque.
Joan acabou por fazê-lo quando era finalista universitária em Berkeley e, no verão de 1954, com vinte anos, aterrou na cidade febril, ansiosa por começar a escrever o seu primeiro livro. Só não sabia sobre o quê e, por isso, passava longas noites a datilografar páginas soltas que, depois, colava nas paredes do seu pequeno apartamento. Essa tarefa resultou na novela Run River, que a própria diz, ironicamente, ter sido lida por uma dezena de pessoas.
Foi na Vogue que se tornou conhecida ao assinar um artigo muito sui generis para a época: Autoestima – fonte e poder. A peça, que só foi parar às suas mãos porque o escritor que a devia ter redigido falhou, teve direito a chamada de capa e foi republicada em 2014.
Didion via este traço de personalidade, hoje tão badalado, como uma espécie de “audácia moral”; a capacidade de qualquer um fazer a própria cama e arcar com as consequências. “Quando vamos deitar-nos, à noite, se dormimos ou não, é um problema nosso, depende de como fizemos essa cama.”
Tinha 27 anos quando se casou com o jornalista e também escritor John Gregory Dunne, “um cabeça-quente com mau feitio”, que trabalhava na Time. E se, no século XIX, a família de Joan tinha atravessado com sucesso o Illinois atrás de uma vida melhor, rumo à última fronteira dos Estados Unidos, a Califórnia*, a do seu futuro marido fez o mesmo, vinda do Velho Continente, no caso, da Irlanda. O avô de John Dunne, um homem com a terceira classe e um fascínio enorme por histórias, dava 25 cêntimos (uma fortuna) a cada neto que recitasse Shakespeare. Não por acaso, além de John, que escreveu treze livros, entre romances e ensaios, também Dominic, o seu irmão mais velho, fez vida na escrita. Joan diz que adorou a família do marido, que quis casar com ela e, também por isso, casou com John.
“Nunca entendi o que é a paixão, mas queria que aquilo [a relação] continuasse; gostava de ser um casal, de ter sempre alguém por perto”, admite. E “só podia casar-me com um escritor, nenhum outro homem teria paciência para me aturar”.
Aos 28 anos, entrou numa espiral de saturação. Tudo em volta lhe parecia gasto, sem sentido. “Chorava dia e noite, em elevadores, táxis e lavandarias chinesas. Comecei a perceber claramente a lição: é possível ficar tempo demais na feira popular.”
A feira popular de Nova Iorque estava, pois, esgotada para ela. O casal decidiu mudar-se durante seis meses (que duplicariam e triplicariam) para Los Angeles, instalando-se numa casa com vista para o Pacífico, em Portuguese Bend.
Ele escrevia, ela ajudava-o com a pesquisa e, para pagar as contas, os dois assinavam artigos no Saturday Evening Post e nas revistas Life e Esquire.
Apesar das diferenças de estilos e de pontos de vista, foram sempre os primeiros editores um do outro. E nunca se autocensuraram. Nem mesmo quando, nos últimos anos da década de 60, a viverem uma crise matrimonial e instalados num hotel em Honululu, ela escreveu uma crónica pornograficamente intimista. “Aqui estamos, no meio do Pacífico, a observar as ondas e a tentar repor as coisas em vez de pedirmos o divórcio.”
Foi na casa de Portuguese Bend que o casal, que não podia ter filhos, recebeu um telefonema que mudaria as suas vidas. “Eu estava a tomar duche, o telefone tocou, era do hospital e rebentei em lágrimas quando o John me disse que tínhamos uma bebé à nossa espera em Saint John”, conta Joan.
A criança, Quintana Roo, que, em muitas fotografias, revela traços similares aos da mãe adotiva, fê-los mudar para Hollywood, mais concretamente para Park Avenue, zona que, outrora, fora da classe alta e que era então “um bairro de matança sem sentido”, cheio de produtoras de cinema pornográfico e assaltantes. “Eram 28 assoalhadas, sem mobília, numa zona onde viviam bandas rock, grupos de terapia e nós”, descreve a escritora.
Joan acordava tarde e todos os dias se entregava ao mesmo ritual: descia rumo ao frigorífico, de onde tirava uma Coca-Cola gelada e sentava-se num sofá, a bebê-la e a comer amêndoas, de óculos de sol, sem proferir palavra. A máquina de fazer frio tinha uma outra utilidade mais insólita: quando tinha crises de inspiração, punha os manuscritos no congelador, dentro de um saco de plástico.
Adorava os Doors e escreveu sobre Jim Morrison. Costumava dizer que os músicos de rock eram as melhores personagens para descrever porque viviam à frente de todos. Também escreveu sobre Haight Ashbury, mítico bairro de San Francisco que acolheu milhares de jovens hippies provenientes de todos os estados da América no verão de 1967, mas, onde outros viam a celebração do amor, da paz e da liberdade sexual, ela encontrou caos e gente sem rumo. Foi aí que assistiu a uma das cenas mais chocantes da sua vida, uma criança de cinco anos em plena trip de LSD.
A forma que tinha de descrever uma realidade tantas vezes irreal, como se estivesse a compor um romance, mas sem lirismo, nem julgamentos antecipados, dava força aos seus ensaios. Em The Center Will Not Hold (algo como o centro vai ceder, numa tradução livre) descreve o lado negro de um país de “vândalos que não sabiam escrever, adolescentes deambulando de cidade em cidade, famílias que desapareciam, deixando para trás casas hipotecadas e cheques sem cobertura”. Em suma, uma geração de zombies.
Não se julgue, porém, que era uma eremita ou que passou desdenhosamente à margem dos loucos anos 60. A própria conta como se divertiu numa festa que ela e o marido deram em Park Avenue e onde estiveram Janis Joplin e Rod Stweart. Foi quando subiu ao quarto da filha para ver se esta estava bem e encontrou droga no chão. “As pessoas estavam loucas por drogas, todos as consumiam.”
E, então, subitamente, a 9 de agosto de 1969, essa loucura terminou com o assassinato bárbaro de cinco pessoas, entre elas a mulher do cineasta Roman Polanski, Sharon Tate, grávida de oito meses, perpetrado por Charles Manson e o seu gangue. “Foi como uma bomba, tudo pareceu deixar de fazer sentido”, recorda Joan no documentário, relatando a experiência de ter entrevistado uma das mulheres de Manson, Linda Kasabian, que se declarou inocente. Dessa época, ficou um dos seus ensaios mais aclamados, White Album, nome de um álbum dos Beatles que Manson evocou em tribunal.
“O pesar é um lugar que nenhum de nós conhece até lá chegar. Sabemos que alguém próximo pode morrer, podemos esperar sentir choque, mas não sabemos que este choque será obliterante."
Tempos felizes foram os de Malibu Beach, na casa virada para o mar que depressa se tornou ponto de encontro de inúmeras mentes criativas da época. Os jovens Brian de Palma, Spielberg, Martin Scorcese e Harren Beatty, que tinha uma paixão assolapada por Joan, eram presença constante, além de Harrison Ford, na qualidade de empregado — o ator foi contratado como carpinteiro e, no documentário da Netflix, conta como passava quase tanto tempo a fazer as remodelações, como a discuti-las com os donos da casa, de quem ficou amigo.
Essa intimidade com realizadores trouxe uma nova ocupação ao casal. Começaram a trabalhar em argumentos, que era uma forma de angariar dinheiro para os seus projectos pessoais. Panic in Needle Park foi o primeiro argumento de Didion e Dunne, mas, a ela, faltava ainda arriscar num género específico de reportagem. Com as costas aquecidas por Robert (Bob) Silvers, histórico editor da New York Review of Books, começa a escrever sobre temas políticos, nomeadamente a guerra civil de Salvador (os E.U.A. apoiavam o ditador Carlos Humberto Romero), a Casa Branca, a disputa das presidenciais entre Bush e Clinton, e Dick Chenney, que retratou de forma impiedosa como “um cínico intimidador, brilhantemente maldoso”.
Os problemas cardíacos de John ditaram o regresso a Nova Iorque para uma segunda parte da vida menos feliz. Quintana adoeceu na véspera do Natal de 2003 e foi internada nos cuidados intensivos, John morreu de ataque cardíaco uma semana depois, à mesa, enquanto Joan temperava a salada do jantar. Meses mais tarde, nova tragédia: Quintana cai à saída de um avião que a levava para Malibu e entra em coma. Após meses de reabilitação, morre em agosto de 2005.
“Adotei-a, era suposto ter tomado conta dela e não o fiz bem.”
Joan colapsa fisicamente, recusa-se a comer e chega a pesar 34 quilos. Entrega-se à escrita daquele que será um dos seus livros mais intimistas, O Ano do Pensamento Mágico, uma espécie de relato pioneiro sobre a mágoa escrito por um não-crente.
“O pesar é um lugar que nenhum de nós conhece até lá chegar. Sabemos que alguém próximo pode morrer, podemos esperar sentir choque, mas não sabemos que este choque será obliterante. Esperamos ficar prostrados, loucos com a perda, mas não exatamente loucos a ponto de achar que o marido pode chegar e precisar dos seus sapatos”, escreve.
Blue Nights, o livro seguinte, é dedicado à filha, e mitiga alguma redenção. Joan sentia-se terrivelmente culpada por tê-la incentivado a ir a Malibu à procura das memórias da juventude, na fatídica viagem que a atirou para o coma. “Adotei-a, era suposto ter tomado conta dela e não o fiz bem.”
O livro transforma-se numa peça de teatro com a ajuda do guionista, dramaturgo e realizador inglês David Haire, com Vanessa Redgrave, que também perdeu uma filha, a interpreta o papel da escritora.
No documentário, David Haire descreve a mulher que encontrou nessa altura como um pequeno pássaro ferido. “Pesava 34 quilos e eu disse: ‘Se fizer esta peça, vou pôr-lhe carne nos ossos.’” Instalaram uma mesa atrás do palco do Teatro Avalon, com uma toalha de xadrez vermelha e uma tabuleta onde podia ler-se “Café da Joan”. “Quando ela chegava, dávamos-lhe sopa, croissants, geleia. Eu só comia a minha sanduíche se ela comesse a dela”, recorda Haire. A peça foi um sucesso. Joan ganhou algum peso e pôs a cabeça fora do poço escuro do luto.
Em 2013, Barack Obama distinguiu-a como uma das mais notáveis escritoras norte-americanas do século XX. É comovente vê-la subir ao palco para receber a condecoração, terrivelmente frágil, mas dona de uma dignidade gigante.
Curiosamente, em todo o documentário, nem uma vez lhe vemos as lágrimas. Talvez tenha seguido um conselho que lhe deram há muito tempo: “Sugeriram-me que, em vez de chorar, pusesse o meu coração num saco de papel”, contou, numa conversa com a Vogue.
Continua a escrever para tentar entender o que vê e o que sente. E a imensa lucidez com que o faz não lhe facilita a existência. “Todos sabemos que, para continuar a viver, precisamos de abdicar dos nossos mortos, deixá-los ir na água, ser a fotografia na mesa, mas saber isso não torna as coisas simples.” Por outro lado, no fim, a solidão pode ser o antídoto perfeito para o medo. “Uma das coisas que nos preocupa em relação à morte e em deixar para trás pessoas que amamos e que podem não saber tomar conta de si. Já não tenho nada a temer, não vou deixar ninguém para trás.”
* Joan Didion ouviu inúmeras vezes a história da expedição Donner, na qual os seus antepassados participaram. O episódio, famoso e dramático, relata a viagem de um grupo de pioneiros a caminho da Califórnia que, a certa altura, decide improvisar o caminho, seguindo por um atalho, e fica preso nas montanhas do deserto do Nevada. Mais de metade dessas pessoas morreu, o resto sobreviveu, comendo cadáveres. A família de Didion não se desviou da rota. Ela acredita ter herdado essa firmeza de intenções.
Um ícone de Moda
Com o seu cabelo liso pelo pescoço, o semblante grave, um cigarro na mão e um Corvette Stingray por trás, Joan Didion sempre foi um exemplo de estilo. Ainda assim, é notável que tenha sido escolhida pela Céline para a sua campanha de verão de 2015. Joan, na altura com oitenta anos, disse não ter ideia de como a escolheram, sabendo apenas que recebeu um telefonema da diretora criativa da marca, Phoebe Philo, a convidá-la. A fotografia onde aparece com uns óculos de sol da marca foi tirada por Juergen Teller na Madison Avenue, em Nova Iorque, onde vive. Recorde-se que não é a primeira vez que a escritora serve de modelo. Em 1991, participou numa campanha da GAP ao lado da filha, Quintana.
Artigo originalmente publicado na edição de dezembro 2017 da Vogue Portugal.
Most popular

.png)
.png)
Relacionados

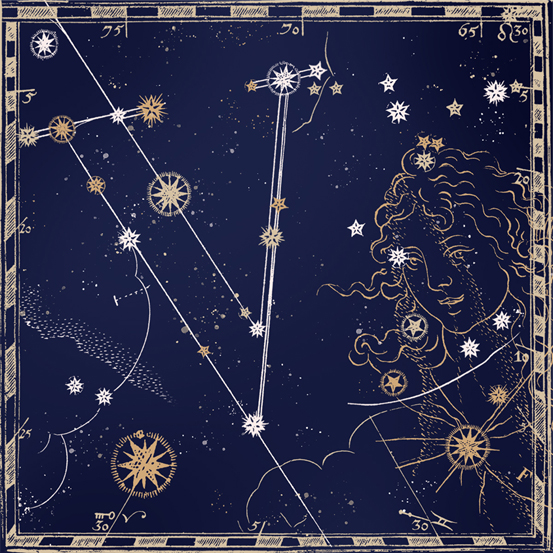


.jpg)
