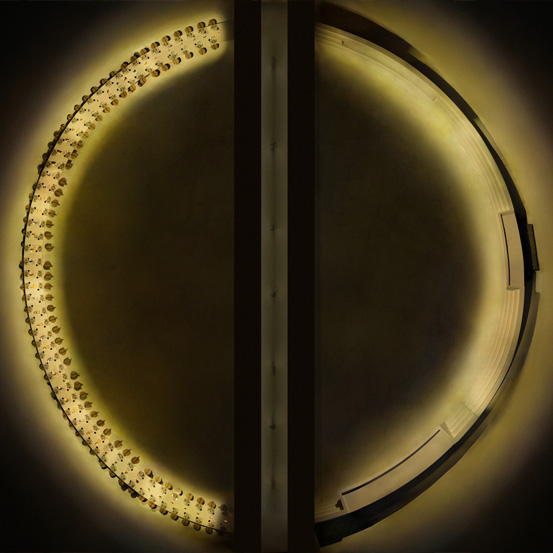No dia em que Adolf Hitler se suicidava, Lee Miller expurgava os horrores de uma guerra cruel e sangrenta na banheira do ditador alemão. O momento foi captado pelo seu companheiro, David Scherman, e a imagem tornar-se-ia um símbolo da libertação. Mas, por essa altura, há muito que a americana tinha renunciado ao simples papel de modelo. Miller era, acima de tudo, uma contadora de histórias.
No dia em que Adolf Hitler se suicidava, Lee Miller expurgava os horrores de uma guerra cruel e sangrenta na banheira do ditador alemão. O momento foi captado pelo seu companheiro, David Scherman, e a imagem tornar-se-ia um símbolo da libertação. Mas, por essa altura, há muito que a americana tinha renunciado ao simples papel de modelo. Miller era, acima de tudo, uma contadora de histórias.

"Prefiro tirar fotografias em vez de aparecer numa.” Foi assim que Elizabeth Miller (1907-1977) respondeu ao decreto do jornal New York World Telegram, que a considerava “uma das raparigas mais fotografadas de Manhattan.” Um elogio, aparentemente, não fosse ela uma das almas mais livres do seu tempo, e de todos os tempos, cuja tenacidade voraz ultrapassou barreiras e preconceitos de género. Tivesse nascido homem, sem o peso que acarreta o rótulo de beleza hipnotizante, e por certo Lee Miller, natural de Poughkeepsie, Nova Iorque, estaria agora no panteão dos artistas maiores do século XX, como comprova o seu trajeto fulgurante: modelo, fotógrafa, correspondente de guerra, surrealista, chef.
Em todas as áreas se revelou sublime, arrojada, diferente. Apesar de ter dado os primeiros passos à frente das câmaras, foi atrás delas que se destacou, devido ao seu olhar preciso e acutilante. “A fotografia, enquanto profissão, é ideal para as mulheres, porque são mais rápidas e adaptáveis que os homens. E acho que elas têm uma intuição que as ajuda a entender as personalidades mais rapidamente do que os homens”, afirmou. Foi essa intuição que acabou por lhe valer de escudo quando, durante a Segunda Guerra Mundial, se tornou na voz e nos olhos da Vogue no conflito.
Um encontro casual com Condé Montrose Nast precipitou a carreira de Miller. Um encontro que poderia ter saído de um filme: o magnata dos media salvou-a de ser atingida por um carro, em Nova Iorque, e logo a convidou para trabalhar na Vogue. Lee aceitou e, em 1927, com apenas 19 anos, era capa da publicação - numa das edições mais importantes do período art déco, orquestrada por Georges Lepape. Rapidamente se tornou uma das modelos mais bem-sucedidas da época, colaborando com fotógrafos de renome como Edward Steichen ou Nickolas Muray, e dando a cara por criadores como Lanvin ou Chanel.
Mas a personalidade lúcida de Lee não se contentava com essa vida mundana de flashes e glamour. Em vez de vibrar com os louros por se pavonear nas soirées mais concorridas da alta sociedade local, preferia organizar as suas próprias sessões de fotos e conhecer os truques da câmara escura. Um incidente com um anúncio de pensos higiénicos, que usou a sua imagem sem permissão, acabou por precipitar a reviravolta na vida de Miller. A vontade de vingar como fotógrafa levou-a à Paris boémia dos loucos anos 20, embriagada pelo trabalho de Man Ray, de quem se tornou musa, amante e colaboradora. “Ele disse-me que não aceitava estudantes, e que em todo o caso estava de saída de Paris, para férias”, acabou por contar, mais tarde, sobre a primeira reunião com o surrealista. “Eu respondi-lhe ‘Eu sei, eu vou contigo’ - e fui.”
Incansável nessa busca por uma estética própria, sua, soube beber da influência do seu círculo próximo, onde se juntava o génio de Picasso e a imaginação infinita de Jean Cocteau. Era uma segunda encarnação da belle époque - a cultura fervilhava em cada esquina, não havia impossíveis. De regresso aos Estados Unidos, no início dos anos 30, Lee montou um estúdio de fotografia que gozou de uma popularidade ímpar: imortalizou personagens como Charles Chaplin e Gertrude Lawrence, trabalhou com a BBDO e para marcas como a Elizabeth Ardene a Saks Fifth Avenue.
Inquieta, mudou-se para o Cairo onde se casou com um diplomata. Foi no Egipto que ganhou o fascínio pela fotografia de cidades abandonadas e de desertos sem fim. Numa visita a Paris, em 1937, acabaria por conhecer Roland Penrose, que se tornou no seu segundo marido, com quem viajaria pela Grécia e pela Roménia, e com quem regressaria a Londres antes do começo da Segunda Guerra Mundial. Foi por essa altura que ignorou as ordens da embaixada americana, que a aconselhava a regressar ao seu país de origem, e aceitou ser fotógrafa freelancer para a edição inglesa da Vogue.
Era o auge da guerra. Em 1944, tornou-se correspondente acreditada com o exército americano e formou equipa com o fotógrafo da revista Life, David Scherman. Foi aí, nas primeiras linhas do conflito, que captou o lado negro da invasão: a luta contra o tempo das enfermeiras da Normandia que tentavam salvar vidas com poucos recursos, o cerco de St. Malo, a libertação de Buchenwald e Dachau. Ainda que, por norma, evitasse captar imagens chocantes ou atos de violência, Miller não hesitou em registar os sobreviventes dos campos de concentração nem os cadáveres dos membros das SS que cometeram suicídio. O horror do genocídio iria acompanhá-la até ao fim dos seus dias e entendeu que era preciso mostrá-lo ao mundo. Quando enviou as fotos para a Vogue, acrescentou uma nota: “Imploro-vos que acreditem que isto é verdade.” A revista não hesitou e publicou a reportagem, uma das mais impactantes à época, com a seguinte mensagem: “Acreditem.”
Catarse: depois de três meses a reportar os horrores do conflito, Miller e Scherman subiram ao apartamento do 16, Prinzregentenplatz, onde Hitler morava desde os anos 20. Inspecionaram a arte medíocre e os bibelots do ditador, e subiram à casa de banho. Estavam ambos exaustos, física e mentalmente, e nenhum dos dois se lavava há semanas. A ocasião, tão inesperada como simbólica, proporcionou uma das fotografias mais famosas do pós-guerra: Lee, enroscada na banheira do Führer, o seu olhar perdido num tempo ausente e as suas botas sujas em cima de um tapete encardido com a lama, e a dor, de Dachau. Era, de novo, Lee à frente da câmara, mas desta vez como símbolo de um mundo livre. De um mundo novo. A artista, que acabou por aplicar os seus ensinamentos surrealistas à culinária (estudou na famosa Le Cordon Bleu) morreu em 1977, na sua casa de Farleys, Inglaterra.
Artigo originalmente publicado na edição de outubro a Vogue Portugal.
Most popular

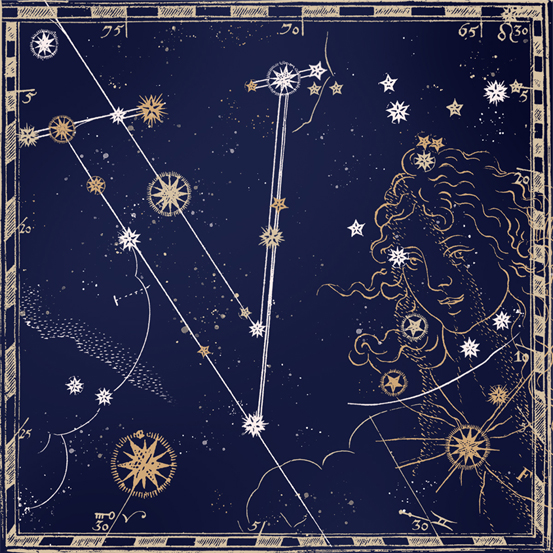
Relacionados
.jpg)
Alice Trewinnard prepara-se para a GQ Night of the Year | Beauty Confessions
23 Nov 2024

.jpg)