Quem tenha hoje menos de 56 anos – a maioria dos portugueses – não sabe o que é não ter liberdade, e, portanto, também não percebe o que é tê-la. É daquelas situações em que só entendemos o que vale quando sentimos a falta.
Quem tenha hoje menos de 56 anos – a maioria dos portugueses – não sabe o que é não ter liberdade, e, portanto, também não percebe o que é tê-la. É daquelas situações em que só entendemos o que vale quando sentimos a falta.
FOR THE ENGLISH VERSION CLICK HERE.

© Rebecca Reeve
© Rebecca Reeve
Porquê 56 anos? Porque uma pessoa com essa idade tinha apenas dez anos em 1975, e não se pode lembrar de um país completamente diferente do que temos agora. E não se trata apenas da mudança política. Porque, quando se fala em liberdade, geralmente pensa-se nos direitos de cidadania; mas há muitas liberdades, algumas mais importantes, outras menos toleráveis. Agora, por causa da pandemia, algumas liberdades foram retiradas, mas outras permanecem. Recuemos.
Viver em Portugal na década de 1960, era, digamos, viver num mundo com muito poucas liberdades, algumas das quais nem dá para perceber agora como são essenciais para uma vida sem sobressaltos. A situação não era apenas a ausência da liberdade política, aquela que geralmente se escreve com L maiúsculo. Essa, só por si, era a menos desgastante para quem não se interessava por esse assunto, como os poderes do Estado aconselhavam. Diziam-nos: “Não te metas em política”, ao que devíamos responder, obedientes, “A minha política é o trabalho”. Então, quem punha umas palas nos olhos, ou biombos no cérebro, e não se importava de não poder escolher os nossos dirigentes, nem sequer de os criticar, podia viver a sua vida abaixo do radar da polícia política, das polícias em geral e dos informadores disseminados no meio dos incautos.
Ao fim de décadas (desde 1933) de repressão do pensamento, e muito menos agir contra as pessoas que decidiam por nós os rumos do país, tinha-se entrado numa espécie de dormência intelectual. Esmagados os contestatários dos primeiros tempos, controlada a comunicação social, ignorado o que se passava no mundo – até jornais e revistas “lá de fora” eram apreendidos quando tinham alguma coisa que incomodava os poderes – as pessoas voavam baixo, sem olhar para o céu. Até nas ruas se sentia o ambiente constrangido, o ar pesado, os passantes recatados, olhos no chão, inibidos de algum sinal exterior do que pensavam. Ficaram conhecidos como os “anos de chumbo”, porque pesavam. Numa entrevista da época, o escritor beat norte-americano William Burroughs falava dos portugueses: “Quando vivi em Marrocos, conheci alguns. Reconheciam-se à distância, pelo peso que carregavam nos ombros.”
Mas essa era apenas uma das limitações, a mais abrangente, porque incluía muitas das outras, que incomodavam no dia a dia, mesmo para quem só pensava no trabalho. Havia outra grande barreira, que era a moral. A Igreja Católica, religião oficial do Estado, impunha normas de comportamento restritivas às quais hoje ninguém liga nenhuma, se é que sabe da sua existência. Desde 1821 que acabara a Inquisição, mas a “moral e os bons costumes”, considerados elementos essenciais da paz social, impunha inúmeros castigos mesquinhos – promoções, vantagens diversas, avaliação de probidade – que obrigavam as pessoas a “portar-se bem.” Não podiam namorar à vontade, beijar-se e abraçar-se em público, nem nos hotéis, onde era exigida prova de matrimónio para alugar um quarto duplo. Não se podia sair até muito tarde, porque os lugares noturnos fechavam às duas da manhã, nem se podia sair muito cedo com outra pessoa, porque era sinal de que tinham passado a noite juntos num esconderijo qualquer.
Todas estas proibições eram minuciosamente detalhadas, para reprimir a inventividade de quem queria viver a (sua) vida. O “parece mal” tinha a força de um decreto, aliás, existiam muitos decretos a regulamentar a vida íntima. Por exemplo, o casamento. O divórcio só era possível para os casamentos civis (uma minoria) ou para os casamentos religiosos antes de 1940 – a data da Concordata com a Santa Sé, que “teocratizou” as atividades civis. E os juízes tinham instruções para dificultar ao máximo os divórcios legalmente possíveis. O filho de uma mulher casada, mesmo que já não vivesse há anos com o marido, tinha de ser registado com o marido como pai. E as mulheres não podiam viajar sem autorização escrita e assinatura reconhecida desse marido, mesmo que separadas. Uma figura jurídica estranha, a “separação de pessoas e bens”, decidida em tribunal, permitia as partilhas entre os desavindos, mas nenhum deles se podia casar novamente, nem sequer pelo “civil”. A segunda mulher era assim uma “amante”, e o casal olhado com mau cariz.
Para os jovens, que ainda não pensavam em casamentos, havia limitações específicas. Namorados saiam juntos, quando podiam sair juntos, sempre com um chaperon, ou então em grupos que diluíam as relações amorosas perante os estranhos. Em casa, nunca ficavam sozinhos sem a supervisão dum adulto. Existiam muito poucos clubes noturnos (“boates”, na linguagem da altura) para dançar e conversar, e era normal os pais não permitirem aos filhos frequentar esses sítios onde sabia-se lá o que podia acontecer. Em casa, nas pequenas reuniões de amigos, podiam dançar, mas não muito encostados. Era aí que podíamos conhecer meninas – as irmãs dos nossos amigos e, talvez, as amigas delas. Porque não havia outra possibilidade de contactar o género oposto – talvez em clubes de bairro, na presença das famílias desconfiadas. Nas reuniões de verão, na praia ou na piscina, não se podia dançar de maneira nenhuma, a não ser mantendo uma distância… sanitária.
As escolas eram segregadas, e só na faculdade se permitia que eles e elas tivessem aulas juntos, mas os espaços comuns também eram separados. Tive uma namorada que foi das primeiras mulheres a entrar para o Instituto Superior Técnico; o problema é que não havia casas de banho femininas, nunca se tinha pensado nisso. De qualquer maneira, poucas mulheres seguiam a carreira universitária – não que fosse proibido, mas geralmente quando chegavam a essa idade casavam e tornavam-se domésticas e mães. Excepto as hospedeiras e enfermeiras, que não podiam casar. Ou as professoras, que podiam, mas investigava-se primeiro as ideias e a profissão do futuro marido, não fosse do “reviralho” [oposição] ou um malandro. Cavaleiro de Ferreia, o legislador que escreveu as leis de exceção que regulavam a polícia política e os tribunais plenários, dizia que uma mulher não devia trabalhar, mas, caso o fizesse, só em lugares subalternos: secretária, telefonista, funcionária menor.
Quem ia ao estrangeiro, viagens curtas de negócios ou de férias, trazia as novidades de mundos diferentes. Revistas que não chegavam cá. Um amigo meu tinha um contacto em Paris que lhe mandava pelo correio ou por portador a Interview e a Rolling Stone, duas revistas americanas com as últimas tendências. E a Vogue francesa, com uma moda impensável para nós. O colorido, a pujança, de quem pode criar à vontade e exibir o que lhe apetece. Ou discutir o que lhe passa pela cabeça. O século XX decorria alegremente, mas não por cá. Porque também não havia liberdade de vestir como se queria; não era propriamente proibido por lei, mas os pais e os professores velavam pela decência.
Elas seguiam códigos de vestuário bem definidos. Nada de saias muito curtas, decotes tentadores, gestos provocantes. Eles, calções e botins, e a partir dos 16 anos com o casaco e a gravata da praxe. Os jeans não existiam, apenas alguns pais muito americanizados os traziam para os filhos, para troça dos outros. Os ténis levavam-se num saco, para serem usados exclusivamente nas atividades desportivas. Os cabelos delas eram cortados a direito pelos ombros, com ou sem franja, os deles, curtos, “à homem”. Isto na década de 1960 quando, convém lembrar, no mundo exterior explodia o movimento hippie, cresciam os cabelos, coloriam-se as roupagens e fumavam-se charros. Por cá, uma abstrusa campanha do Governo encheu as ruas de cartazes com uma caveira: “Droga, loucura, morte”. Certamente que a maioria dos jovens nem sabia o que era “droga” e as loucuras, escassas e reprimidas, eram uns copos de tinto a mais, numa noite entre rapazes numa casa de fados. Mortes, só se fosse na Guerra Colonial que começou em 1961 em Angola, e que se espalhou rapidamente para as outras “Províncias Ultramarinas”.
A guerra, aliás, distante mas omnipresente, tornou-se o desespero de várias gerações. Quando um “mancebo” (o termo oficial) chegava aos 21 anos, era metido num quartel e treinado para matar. Depois, enviado com mais 120 (uma Companhia) para um lugar inóspito onde, diziam, tinha por missão defender a Civilização Ocidental contra o comunismo e os ingratos dos negros, que não estavam devidamente agradecidos por serem explorados pelos colonos e queriam ser independentes. Estes princípios, como quaisquer outros, são discutíveis; mas era uma traição discuti-los.
Para os descontentes e refratários havia batalhões disciplinares, enviados para os piores lugares, onde o clima e o inimigo não davam tréguas. As conversas dos rapazes, invariavelmente, andavam à volta desta equação: o enfrentar a guerra, o fugir do país e nunca mais voltar. Fugir, era “a salto”, sem documentos, porque o passaporte não se conseguia obter a partir dos 18 anos, já em preparação para o matadouro. A guerra tornou-se uma obsessão que condicionava as vidas e as carreiras. Ficar ou fugir? Casar, antes, ou depois? A passagem pela tropa era de cerca de três anos, dois deles nas colónias. Quem lhe escapava, por questões técnicas militares (boa pontuação na recruta, por exemplo), era chamado novamente para uma segunda volta de dois anos.
E a liberdade de criar, de escrever, de pintar, de dançar, de representar? Todas as atividades culturais eram controladas, e esse controle decorria há tanto tempo que estiolava a própria vontade de criar. A prova: no Congresso dos Escritores, ocorrido depois da Revolução, onde estiveram presentes os maiores nomes das letras, todos reconheceram que não tinham livros proibidos na gaveta, pois a impossibilidade de os publicar tinha feito com que não os escrevessem. A publicação de livros era estritamente controlada – não previamente, como acontecia com a imprensa, mas depois de estar nas livrarias. Quando um editor saía com um livro que não agradava, era apreendido pela polícia, o que representava uma perda monetária enorme. Assim, os editores preferiam não arriscar, e os que arriscavam pagavam-no caro.
É famosa a história de uma conversa de César Moreira Baptista, Ministro do Interior (hoje, Administração Interna), que controlava a Censura. Disse ele a Snu Abcassis, dona da Dom Quixote: “Se publicar outro livro da Maria Isabel Velho da Costa, mesmo que seja um livro de cozinha, fecho-lhe a editora.” Todavia, alguns escritores conseguiram furar o cerco. Usavam alegorias, fábulas, maneiras de dizer sem ser dito. Mas José Cardoso Pires, honra lhe seja feita, não escondia nada. Ninguém como ele descreveu o clima desses anos cinzentos. O Delfim e Balada da Praia dos Cães são livros indispensáveis para apreciarmos melhor o que temos agora.
É doloroso recordar estes tempos. Um manto de teimosia estúpida cobria o país. O discurso oficial que abarcava todas as áreas do pensamento exigia que todos vissem as coisas da mesma maneira. Não era uma questão de ter ou não ter razão; não se podia pôr em dúvida, muito menos criticar, os constrangimentos que condicionavam a vida diária e a perceção do mundo. Havia esperança numa mudança? Não, não havia muita esperança. O sistema parecia alapado em cima de nós e nenhum movimento, nacional ou internacional, indicava que a luz no horizonte se poderia aproximar. Depois, há um fenómeno psicológico difícil de explicar, mas muito concreto. O autoritarismo do Estado estimulava o autoritarismo de todas as instituições, desde as empresas, às escolas, à família. Os patrões eram mandões, os professores irredutíveis, os pais castradores. Não se podia isto, não se podia aquilo. Não havia diálogo sobre assuntos de que não se podia falar. Estava tudo decidido, tudo resolvido, sem margem para desbravar terreno, pensar fora da caixa. Rebeldia, loucura, opróbrio. Hoje, queixamo-nos de que os jovens são irreverentes, os artistas provocadores e que as pessoas, em geral, são sempre do contra. É verdade. Mas esta variedade, que inclui “bons” e “maus” é o resultado da liberdade – de todas as liberdades que temos. Melhor, muito melhor, do que viver naquela Idade das Trevas.
Artigo originalmente publicado na edição de abril 2020 da Vogue Portugal.
Most popular
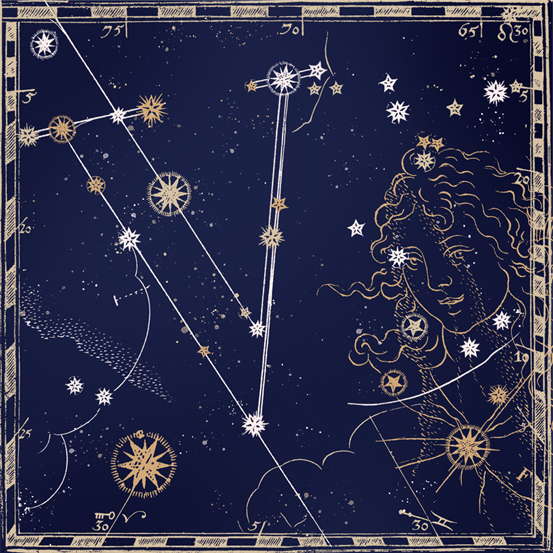

ModaLisboa Capital: as propostas dos designers portugueses para o outono/inverno 2025
10 Mar 2025

Como usar skinny jeans: um guia prático para quem não gosta de skinny jeans
07 Mar 2025
Relacionados

.jpg)
Donatella Versace afasta-se das passerelles e Dario Vitale é nomeado novo diretor criativo da Versace
13 Mar 2025

Outono/inverno 2025 | As tendências de Beleza que vimos nos bastidores
12 Mar 2025


