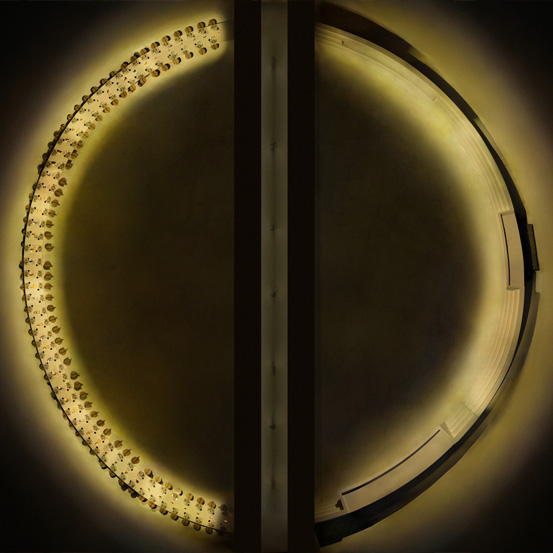Desde o início dos tempos que a palavra “vagina” foi demasiado forte, demasiado pungente, demasiado ofensiva para ser dita ou retratada em toda a sua carnalidade. A única hipótese era mesmo floreá-la.
Desde o início dos tempos que a palavra “vagina” foi demasiado forte, demasiado pungente, demasiado ofensiva para ser dita ou retratada em toda a sua carnalidade. A única hipótese era mesmo floreá-la.

Lembro-me de ser pequena e de, quando estava no banho, a minha avó me dizer: “Não te esqueças de lavar o botão de rosa.” Como? “A tua florzinha.” Não entendi. É óbvio que era o meu pipi, mas também é óbvio que, aos cinco anos, eu não tinha propriamente a maturidade de entender que a minha vagina era uma flor. Para mim era só mais uma parte do corpo, como uma orelha ou os dedos dos pés que eu também não me podia esquecer de lavar. Não foi a última vez que eu ou qualquer mulher fomos confrontadas com estes eufemismos (muitas destas mulheres chamam-se Dália, Rosa, Violeta, Margarida, Açucena ou Hortênsia).
“Desabrochar” naquele dia hediondo em que nos aparece pela primeira vez o período (trouxe confettis!) e sabemos, dentro de nós, que a idade da infância murchou. “Florescer” quando deixamos de ser uma tábua de passar a ferro para ter mamas e ancas. “Desflorar” quando, devassas, deixamos que o nosso botão de rosa seja conspurcado por um pénis, perdão, pilinha. Entretanto estamos na flor da idade quando percebemos que os monólogos da vagina são tudo menos monólogos e tudo menos vagina, que, coitada, com tantas metáforas em cada esquina é desfolhada – não me tentem convencer que quando Ary dos Santos escreveu o verso “Cravo de carne, bago de amor” se estava a referir a outra coisa que não o órgão reprodutivo feminino. Afinal, quem faz um filho, fá-lo por gosto. Falo por gosto. Falo é pénis. Não estamos aqui para enganar ninguém.
Voltemos ao meu botão de rosa. Porquê de rosa e não de peónia ou de camélia ou de papoila? Porque a rosa, tal como o lírio, é símbolo da sexualidade negativa. Da pureza, da castidade, da inocência, da virgindade. Foi, durante séculos, o estereótipo do que se queria da mulher ocidental. Casta sem ser castiça, sexy sem ser vulgar. Mas são muitos mais os signos entre as flores e a sexualidade positiva: as pétalas desdobram-se para formar os lábios, a vulva, a carne; os bolbos incham como o útero e têm em si todas as vidas do mundo. Parece-nos óbvia esta ligação estética e anatómica, mas a natureza dos símbolos é tão profundamente subjetiva que é muito difícil rastrear a sua génese.
Se abrirmos o catálogo da exposição Flower as Image, que esteve no Louisiana Museum of Modern Art na Dinamarca em 2004, além de imagens incríveis temos uma audaciosa mas muito explicativa sugestão de que as flores se tornaram num arquétipo da sexualidade feminina porque são extremamente sensuais aos olhos dos homens, e que “regalar os olhos na beleza das flores é um prazer descomplicado e facilmente acessível... como a pornografia, não tem outro propósito que não o prazer em si mesmo”. De nada?
Não havendo factos científicos – embora existam tantos comportamentais e psicológicos e, bom, senso comum – que comprovem a teoria, a verdade é que já no Antigo Egito era a flor-de-lótus que estava na origem de tudo. Foi dela que nasceu Ra, o deus do Sol, depois de ter estado aprisionado nas suas pétalas desde antes do início do mundo. Além de ser basicamente o Big Bang, a flor-de-lótus, segundo O Livro dos Mortos, também era capaz de ressuscitar os falecidos, por ser o útero a partir do qual nasceu a Humanidade. Já aqui a rosa fazia o contraponto da fertilidade: era usada nos rituais de adoração a Ísis por ser “um amor livre de todas as associações carnais”.
O lótus (em sânscrito, padma) também era igualmente popular na Índia. Padma era constantemente utilizado como um código secreto para dizer yoni (útero, lugar sagrado). Antes de desabrochar, o lótus era visto como a vulva intocada. Depois, eram os lábios apetecíveis de uma mulher produtiva. Um exemplo, lido na The Encyclopedia of Erotic Wisdom, de Rufus Camphausen: “Diz-se que a mulher padmini [mulheres com grande apetite sexual] gosta mais da união sexual durante o dia, quando o seu lótus se abre sob os raios de Sol, do que à noite. Também prefere a exuberância de um cenário florido aos frios lençóis de cetim do quarto, e gosta especialmente de uma forte pressão no seu yoni e muitas carícias dos seus seios. Diz-se que o sumo do amor de uma padmini cheira a um lótus acabado de desabrochar.”
Não termina aqui este tango indiano entre a mulher e a flor. Por exemplo, nas Ilhas Andamão ainda existem tribos nómadas que oferecem às meninas que acabaram de entrar na puberdade o nome da flor que está, naquele momento, a desabrochar – as mulheres deixam de usar este nome no dia em que têm o primeiro filho. Também em tribos como as Paiute, Hopi e Taos, do Norte da Califórnia, a puberdade feminina continua a ser celebrada por uma dança em que as mulheres usam coroas de flores, quase como Coachella mas com significado.
Gregos e Romanos, esses mestres da apropriação cultural, elevaram o culto da flor a outro nível. O início parece inocente: a adoração de uma deusa das flores. Chloris para os gregos, Flora para os romanos começou por ser a protetora dos cereais, das vinhas e das árvores de fruto – ou seja, menos deusa das flores, mais deusa das colheitas – mas muito rápido as civilizações clássicas acharam que isto era aborrecido e justificaram-se, dizendo que a flor era, na verdade, a promessa do fruto. Então Chloris ou Flora ascendeu ao seu propósito real de deusa de todas as flores.
Nasceu a Florália, ou jogos florais, uma espécie de jogos olímpicos de adoração à deusa. Só que em vez de lançamento do dardo, praticavam-se orgias. Não é muito claro como é que se definia quem chegava ao pódio. Exacerbando esta conotação sexual, os gregos começaram a olhar para o potencial das flores como afrodisíaco e não era raro que as mulheres banhassem os corpos em óleo de violeta antes da copulação. Sim, gregos e romanos eram sacanas que sabiam viver a vida, mas não eram os únicos. Os jardins islâmicos representavam lugares sagrados para a oração, meditação, pândega e sexo. Muitos deles eram construídos propositadamente para a prática do amor – até o manual árabe das posições sexuais (muito comparável ao Kama Sutra indiano) se chamava Jardim Perfumado.
Depois veio o cristianismo e a sexualidade já não era flor que se cheirasse. Os líderes católicos trucidaram este simbolismo floral por medo de recaídas pagãs e as únicas analogias possíveis de serem regadas eram as associações à Virgem Maria. O jardim ainda não era o nosso concorrente na Eurovisão, mas um símbolo de virgindade e inocência sexual, mostrando as flores como algo impossível de obter para os comuns mortais. Veja-se a pintura Garland of Flowers with Virgin and Child, de Jan Brueghel, no início do século XVII, em contraste com o sexualmente evocativo A Primavera, de Botticelli, de 1477, ou mesmo com a Flora (1654) de Rembrandt, que pintava a sua amante à imagem da deusa grega, porque até à era vitoriana a arte continuava a sobrepor-se à religião no que tocava ao ego e à comunicação do que lhe apetecia. Afinal, qual é o mal de pintar flores?
Para os vitorianos, todo. As flores voltaram a ser castas, castas como tudo, virgens que só elas. Como as mulheres, portanto. Pelo menos no Ocidente, porque na China os bordéis eram chamados “mercados de flores”, o vinho servido pelas prostitutas era “vinho de flor”, as salas mais baratas – onde não só se pagava por sexo, mas ainda se consumia ópio ao mesmo tempo – eram as “salas de fumo e flor” e até o privilégio dispendioso de desflorar uma nova prosti- tuta era chamado “celebrar a flor”. No século XIX, a arte ocidental voltou a desabrochar e artistas como Martin Heade e escritores como Marcel Proust voltaram a podar segundos significados com orquídeas e magnólias.
Portanto até ao século XX, os jardineiros foram todos homens. As vaginas eram flores porque nunca ninguém lhes perguntou se queriam ser montanhas ou ursos ou chávenas de chá. É claro que podia ter sido pior, imagine-se que em vez de flores a arte tinha dado uma de Instagram e começado a achar imensa graça a catos, catos everywhere. Tínhamos um simbolismo mais doloroso e um texto muito, muito diferente. Quando as mulheres começaram a ter voz, ainda que fosse apenas um sussurro, tomaram os bouquets como seus e como era absolutamente inaceitável porem-se a pintar ou fotografar vaginas anatomicamente corretas, reclamaram as pétalas para si. As flores ainda pareciam inócuas, ainda podiam preencher as paredes das galerias, enquanto o pipi poderia ferir suscetibilidades e, imagine-se, tornar-se num objeto pornográfico.
O engraçado é que foi precisamente quando algumas mulheres começaram a conseguir expressar-se que chegou Freud, no seu cavalo branco com daddy issues, e tudo se tornou sexual. Se se quisesse, por exemplo, pintar uma flor por ser uma flor, porque as flores são de facto bonitas e interessantes e têm valor próprio, ninguém achava que se estava a pintar só uma flor. Cada quadro era um desejo sexual reprimido, uma fantasia grotesca e inexplorada com tantas intenções como os números a seguir à vírgula do Pi(pi). Uma das mulheres mais afetadas por esta psicanálise de bilhar de bolso foi Georgia O’Keeffe (confessem, estavam desde a primeira palavra à espera que o nome dela aparecesse. Pronto, já aqui está, sem floreados nem nada).
Agora vamos jogar um jogo: quem é que consegue olhar para as séries de pinturas de close-ups de flores que O’Keeffe fez entre 1910 e 1930 sem ver vaginas? Georgia O’Keeffe. A artista chegou a ameaçar deixar a pintura se as interpretações freudianas da sua obra não parassem. A verdade era que vivia numa Nova Iorque em que, “enormes edifícios pareciam ser erguidos de uma noite para a outra... Então pensei, vou fazer [as flores] gigantes como os enormes edifícios. As pessoas vão ficar assoberbadas; vão ter de olhar para elas – e olharam”. Mas viram vaginas. A culpa não era de Georgia, ainda que, mais tarde, tenha admitido ser provável que alguns sentimentos sobre intimidade e sexualidade se tenham, inconscientemente, imiscuído nos quadros. A culpa foi um pouco do seu marido, Alfred Stieglitz, que encontrou na sexualização o marketing perfeito. Mas a culpa ainda foi mais, ainda é mais, de quem olha para os quadros. Tanto na altura, cheios de Freud até aos cabelos, tanto agora, cheios de nós até às entranhas. Vemos o que queremos ver e vemos o que somos, levamo-nos connosco e acrescentamo-nos aos factos. Ouvimos dizer que O’Keeffe pintava vaginas. São vaginas que vemos.
E foram vaginas que as artistas feministas dos anos 60 e 70 quiseram ver também. Imogen Cunningham, Tina Modotti, Judy Chicago, Miriam Schapiro, Hannah Wilke, Buffie Johnson, Maureen Conner, Victoria Nodiff. Nenhuma delas queria retratar vaginas realisticamente porque se queriam afastar da objetificação do corpo feminino, mas ligavam-nas às flores. Usavam-nas como os traços da feminilidade sagrada mas sexualizada, livre. Não pura, mas conspurcada por vontade própria. Ativa, dona de si, forte. Presente. Frida Kahlo fazia-o. Robert Mapplethorpe – se nos deixarem vê-lo – também.
A vagina como flor, a flor como vagina, ficou. Em 2007, uma genial campanha da agência Publicis Stockholm para a Amnistia sueca, mostrava rosas cosidas como analogia à violência contra as mulheres e a mutilação genital feminina. Em 2018 já podemos pintar vaginas, de todas as formas, de todos os feitios. Há capas de almofadas com vulvas desenhadas, há obras de arte com placentas verdadeiras, há a realidade crua, a realidade dura e a realidade que também é bela porque é real. Mas ainda olhamos para as flores com doçura, como seres sexuais, como a ode da natureza ao sistema da vida, ao berço de tudo, ao prazer, à luxúria, à liberdade. E sabemos bem, sabemos demasiado bem, que as flores, além de um pipi, também podem ser o símbolo de uma revolução.
Artigo originalmente publicado na edição de novembro 2018 da Vogue Portugal.
Most popular

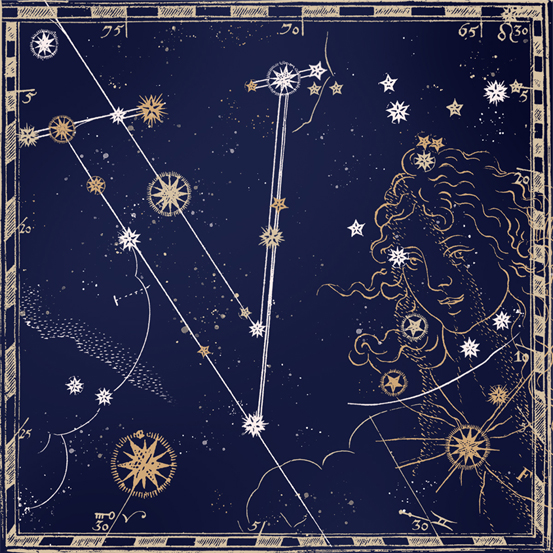
Relacionados

.jpg)