Ilustração de Thomas Robson.
O que supostamente deveria ser um exercício de liberdade individual provoca reações negativas que podem ir da crítica ao insulto. A sociedade habituou-se a escrutinar a vida alheia, a opinar sobre todas as escolhas que fujam à norma e, inconscientemente ou não, impôs limites às decisões que cada um pode tomar. “Não queres ter filhos? Porquê?!” Eis uma pergunta que, em pleno século XXI, ainda faz rolar muitas cabeças.
Não é um sonho recorrente. É, antes, uma visão apocalíptica que surge de vez em quando, sem motivo aparente (Freud não estaria de acordo), e que me deixa em pânico: estou em pleno naufrágio do Titanic, a confusão é o que se imagina pelo filme de James Cameron, e de repente alguém grita: “Nestes botes só mulheres com crianças.” Agarro o meu colete salva-vidas com todas as forças e aproximo-me do indivíduo que tenta controlar o incontrolável; a primeira coisa que me pergunta, com um ar de desdém, é se estou sozinha. Digo-lhe que sim. “Então vai ter de esperar que consigamos pôr a salvo todas as mulheres com crianças.” Sinto uma dor indescritível no peito e vejo-me a cair para o chão. E subitamente o navio começa a afundar-se a uma velocidade avassaladora, engolindo-me, a mim e a outras “pecadoras” como eu, para uma água escura como breu. Ok, talvez seja um pesadelo intermitente que me atormenta por causa de certas escolhas de vida — que, coincidência ou não, até são mais ou menos fruto de um destino que insistiu em me empurrar para essas conclusões a que cheguei. Não quero ter filhos. Já houve alturas em que achei que queria ter. Outras em que pensei que era suposto querer ter. Outras em que me culpei por não querer ter. Quando percebi que era praticamente impossível ser mãe, devido a problemas médicos (tenho uma doença autoimune que complica certos aspetos do meu dia a dia), vivi uma luta interior sem precedentes. Achei que estava a ser “castigada” por nunca ter sonhado com biberões e fraldas. Senti-me anormal — deixemos as aspas
de lado, dar à luz é a coisa mais natural do mundo, saber que não se pode fazê-lo é estranho e contranatura —, senti-me diminuída, senti-me menos mulher. Uma coisa é decidir não ter filhos, outra é não os poder ter. E isso, soube-o cedo, seria a minha realidade. Talvez o universo me quisesse dar uma lição, repeti, vezes sem conta, com o peso de uma sociedade castradora em cima dos meus defeitos. Até que finalmente percebi que não havia motivo nenhum para esse “castigo.” Demorou muito tempo, foram precisas muitas sessões de terapia, mas eventualmente atingi uma espécie de paz que já me permite falar do assunto sem me envergonhar da minha escolha — e sem precisar de recorrer a um pseudónimo para assinar este texto, apesar de, por dentro, morrer de medo do julgamento que ainda impera um pouco por todo o mundo, principalmente o virtual.
“Oh, deixa lá, ainda vais a tempo. Vais ver!” A conversa acaba sempre neste registo. Num tom de pena, mascarado de esperança condescendente, como alguém que me dá uma palmadinha no ombro, invisível, e sugere que “ainda vai acontecer” — tem de acontecer. “Qualquer dia mudas de ideias.” Não é possível eu ficar assim, sozinha, sem filhos. “Uma miúda tão gira!” É irrelevante sublinhar a minha idade (42), a minha vontade, as opções de vida que me trouxeram até aqui — até as situações de saúde que, estivesse eu indecisa, me iriam ajudar a tomar a “decisão.” Um dia, quando eu “menos esperar”, cai-me um bebé do céu, do bico de uma cegonha, tal como manda a tradição. Porque é assim que deve ser. A questão é que eu nunca me imaginei com esse bebé. Embora não me lembre de alguma vez pensar, concretamente, que queria ser mãe — nem mesmo quando, em criança, brincava com Nenucos — também nunca perdi tempo a pensar que não queria ser mãe. Isso era um assunto para o futuro. Mas lá está, direta ou indiretamente, ensinam-nos que as meninas crescem para serem mães, porque o corpo delas está preparado para isso, porque é a lei da vida, porque “é assim.” Esses Nenucos, percebi muito mais tarde, não são apenas brinquedos. São ferramentas que nos ajudam, de forma lúdica, a treinar, a pensar, a falar e a agir como mães. É algo curioso e perverso ao mesmo tempo — as princesas dos contos de fadas transformaram sucessivas gerações de raparigas em eternas românticas à espera de príncipes encantados que as viessem “salvar” —, porque desvirtua, de certa forma, a inocência das crianças. Pequeno parêntesis: não vamos cancelar os Nenucos, por favor. Há que saber o que transportar para o movimento woke. Não me parece caso para tanto. É importante voltar a ler — ensaios, artigos, crónicas — como aquilo que eles são (uma reflexão) e não como aquilo que queremos que eles sejam (um apelo à revolta). Adiante.
A minha decisão coloca muitas inquietações a quem me vê envelhecer “sozinha”, sem rumo, e sem ninguém para tomar conta de mim quando for velha e feia (já sou insuportável). Vamos por pontos: morremos todos sozinhos, até mesmo quem teve a sorte de viver um casamento feliz de 50 ou mais anos com quatro filhos e dez netos. Essa é uma travessia que se faz no singular, portanto tentar contorná-la colocando mais pessoas no mundo, por medo, seria de um egocentrismo cabal. O querer ou não ter filhos não é propriamente uma coisa que se explique com equações matemáticas. Ninguém consegue dizer (eu pelo menos não consigo) por A + B, porque é que não quer — até porque, em vários momentos, quer. Milhões de vezes achei que ia ser a melhor mãe de sempre, imaginei-me com um bebé nos braços, a brincar com ele... mas em todos esses devaneios idílicos ele acaba sempre por ir dormir a casa de outra pessoa. No fundo tudo se resume a um egoísmo atroz, não é? Não troco a minha liberdade por nada. E se escrever isto é assumir que sou a pior pessoa do planeta, então, sim, sou a pior pessoa do planeta. Além do mais, tenho terror a esse tipo de amor maior que tudo, que me deixaria incapacitada de agir. Vejo-o pelas minhas sobrinhas, cuja segurança me tira o sonho. Se daria a vida por elas, o que faria por um filho? Não seria capaz de tal responsabilidade. Assumo-o, com total consciência do quão incongruente possa parecer. Por causa disso, perguntei várias vezes, a várias amigas, se queriam ter filhos ou se queriam ter um bebé, e a minha questão sempre foi recebida com espanto: “Mas não é a mesma coisa?” Não. Um bebé é uma fase passageira da pessoa em que esse filho/a se tornará. Não é algo que se possa trocar se não for do nosso gosto; segundo dizem, um bebé transforma a nossa existência numa bolha de amor, só que ele é apenas o primeiro passo de um ser livre e pensante que está ao nosso cuidado até ao fim das nossas vidas. E ele não pediu para nascer. Ele vai ter defeitos, vai ter ideias, vai cometer erros, vai contrariar aquilo que tínhamos pensado para ele, e compete-nos estar ao seu lado, sempre. A responsabilidade é toda nossa. Não sei se este prato da balança é tido em conta com a seriedade que exige. É isso que me deixa ligeiramente em paz com a minha decisão. É polémica, acusam, é pouco habitual, insistem, é individualista, condenam. Mas é ponderada e consciente.
Chegados a este ponto, é mais que óbvio que continuo a pedir desculpa por algo que só a mim diz respeito. Como é que é possível? Nem sequer deveria ter de explicar nada a ninguém! Mais: porque é que ninguém faz a pergunta ao contrário? Porque é que ninguém se chega ao pé de uma mulher e lança: “Porque é que queres ter filhos?” Seria assim tão descabido? Em 2016, o Observador publicou um artigo intitulado Estas mulheres não querem ser mães. E então? Parecia promissor. Só que, logo na entrada, lia-se: “Quatro mulheres contam na primeira pessoa porque não querem ter filhos, numa sociedade que ainda continua a defini-las por esse papel. Uma socióloga e um psiquiatra comentam.” Não me lembro de nenhuma peça feita a propósito de quatro mulheres que queiram ter filhos — com o bónus de ter especialistas a analisar o “fenómeno." É esta sensação de estranheza que continua a pairar sobre quem escolhe algo diferente. Chegar-se ao ponto de pedir a uma socióloga e a um psiquiatra para comentarem a decisão de não ter filhos é assustador. Parece inofensivo, mas não é. É precisamente a mesma coisa do que pedir a uma socióloga e a um psiquiatra para comentarem a sexualidade de alguém. Pensei que tínhamos ultrapassado essa fase. Pelos vistos, ainda não. No meio dos milhares de artigos online que tentam tratar do tema como algo banal, mas que mal conseguem esconder um pensamento obsoleto sobre o mesmo, encontrei isto, escrito pela Clara Não, no Expresso: “Quando vejo e ouço conversas em que alguma mulher cis diz que não quer engravidar, volta e meia envolve uma tirada de biologia não solicitada: ‘mas o teu corpo foi desenhado para engravidar e procriar’. Estou-me a marimbar para o que foi desenhado, ou deixou de ser. O meu corpo é meu. A minha cabeça também foi gerada para pensar por si. Além disso, o corpo de uma mulher infértil não é menos valioso do que o de uma mulher fértil e uma mulher que não tenha sido mãe biológica não é menos mulher do que uma que foi.” O teor do testemunho dela, cuja leitura aconselho, é muito parecido com o meu — inclusive pensei ligar-lhe e pedir para o citar do início ao fim. Mas depois lembrei-me que é importante partilhar, insistir, arriscar. Por conseguinte, termino como comecei: não, não vou mudar de ideias.
Artigo originalmente publicado no The Mother Nature Issue, disponível aqui.
Most popular
.jpg)
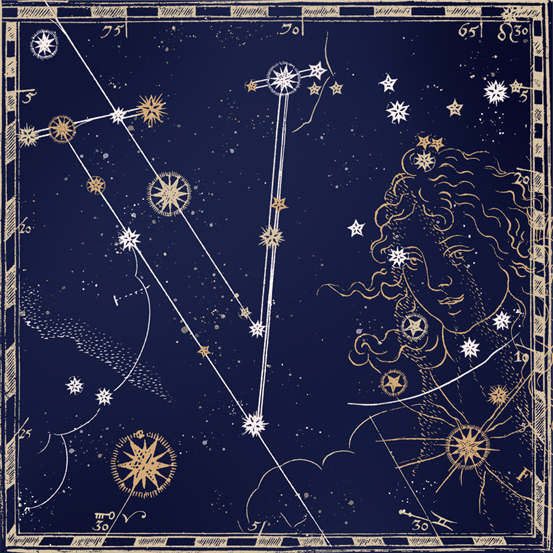
Relacionados
 (1).png)







