Seja numa mancha berrante, numa imagem revelada a preto e branco, numa amálgama de barro ou num traço indefinido, a mulher é uma constante nos novos e nos velhos mundos que se estendem pelo universo da arte – e a forma como o corpo feminino é representado nas mais diversas manifestações artísticas é um assunto que tem tinta para elas.
Seja numa mancha berrante, numa imagem revelada a preto e branco, numa amálgama de barro ou num traço indefinido, a mulher é uma constante nos novos e nos velhos mundos que se estendem pelo universo da arte – e a forma como o corpo feminino é representado nas mais diversas manifestações artísticas é um assunto que tem tinta para elas.
“As mulheres... não podem ser vistas como uma entidade fixa, pré-existente, ou como uma ‘imagem’ congelada, transformada por esta ou por aquela circunstância histórica, mas sim como um significante complexo, problemático, que muda constante e frequentemente, mesclado nas suas mensagens, que resiste a interpretações ou posicionamentos fixos, apesar das numerosas tentativas da arte visual de, literalmente, colocar a ‘mulher’ no seu lugar. Como a guerreira, o termo ‘mulher’ luta e resiste às tentativas que são feitas para subjugar o seu significado ou reduzi-lo a uma simples essência, universal, natural e, acima de tudo, não problemática.” As palavras foram escritas por Linda Nochlin, a historiadora de arte feminista que nunca teve medo de colocar as questões “difíceis”, na introdução de Representing Women, um livro originalmente publicado em 1999 e reeditado 20 anos depois do seu lançamento com sete dos seus mais importantes ensaios sobre a representação da mulher – como guerreira, trabalhadora, mãe, figura sensual e até ausente – na pintura ocidental. Ao longo dos séculos, e apesar do seu papel ter mudado drasticamente no decorrer dos mesmos, a figura feminina manteve-se um dos modelos prediletos da arte. Foi uma estatueta curvilínea, esculpida no Paleolítico e considerada por muitos arqueólogos como deusa da fertilidade. Foi uma Afrodite esculpida até à perfeição pelos gregos, uma mulher no papel de deusa, como todo o potencial de criar vida com vida. Foi um mosaico de Bikini Girls do início do século IV, como são conhecidas, com uma postura atlética e um corpo delgado. Foi uma pintura de Paula Modersohn-Becker, a primeira artista a pintar um autorretrato nu. Foi uma fotografia a preto e branco de Robert Mapplethorpe, revolucionária, atlética, musculada. Teve peito grande e ancas largas. Teve contornos magros e suavemente redondos. Escondeu as imperfeições. Põs a nu as suas características naturais. Conformou-se aos ideais. Rejeitou os padrões. Não foi fixa, estática, congelada. Foi problemática, complexa, capaz de se transformar.
Charlotte Jansen é jornalista, editor-at-large da revista Elephant e autora do livro Girl on Girl: Art and Photography in the Age of the Female Gaze. À Vogue começa por explicar que “o corpo feminino tem sido maioritariamente representado por homens heterossexuais, e para homens, desde o início da história da arte até ao início do século XX”, uma ideia que é também explicitada por Luísa Soares de Oliveira. “O corpo feminino é sempre visto, desde que há representação do corpo feminino na arte, como um objeto, como a razão de ser da beleza, como aquilo que concentra em si a beleza, porque as nossas sociedades, desde essa altura, se habituaram a considerar o corpo feminino como o modelo de beleza vigente”, diz a professora universitária na ESAD.CR e crítica de arte. “Para os gregos da Época Clássica, o corpo perfeito era o corpo masculino, o corpo que participava nos Jogos Olímpicos; a partir dos gregos, e depois de todo o ocidente até à atualidade, esse papel inverte-se e passa a ser atribuído ao corpo feminino. E obviamente que isso tem que ver com questões ligadas à maternidade, questões ligadas à própria estrutura societária, que é uma estrutura patriarcal, onde a mulher é sempre vista, ou era sempre vista, como parte do património da família, isto é, a que gere, a que vai ter filhos e a que, implicitamente, deve garantir todos os atributos físicos para assegurar que a sua descendência será a melhor e a mais saudável possível. Há muito esta aquivalência entre saúde e beleza, e a representação da beleza que existe concentrada no corpo feminino.” Como explica a professora universitária, “o corpo feminino, o nu feminino, por exemplo, só aparece no século IV a.C”, citando a Vénus de Milo como um dos exemplos mais conhecidos. “Antes disso, as mulheres estavam sempre vestidas, ao contrário dos homens. Daí para a frente ela é a Eva, que é a tentadora por excelência, ou é Maria, a santa por excelência. Oscila entre estes dois pólos, mas sempre com esta ideia de materializar uma série de conceitos que a sociedade tem respeitantes ao corpo da mulher.” Este conceito de polos opostos também é defendido por Charllote Jansen quando a questiono sobre aquilo que podemos aprender sobre o corpo feminino e os ideais de beleza associados a ele. “Isto é uma questão muito abrangente, tendo em conta o quão longa e ampla a história da arte é”, explica a jornalista e autora. “Mas penso que o facto de a história da arte ter sido dominada pelo olhar masculino teve um grande efeito na forma como somos condicionadas a olhar para o corpo das mulheres e a pensar sobre ele. No geral, as mulheres foram construídas para caber no complexo madonna-whore – ora como objetos passivos e sexualizados, ora como figuras maternais, beatificadas e inatingíveis. E, durante séculos, foram poucos os artistas que se desviaram destes estereótipos.”
Mas estarão estas ideias e estereótipos sobre o corpo da mulher e a sua representação na arte a mudar? “Isso está a mudar porque a sociedade está a mudar”, defende Luísa Sousa de Oliveira. “A arte é transparente, a arte vai espelhar as inquietações da sociedade, e obviamente que quando a sociedade começa a atribuir outros papéis às mulheres para além destes tradicionais, ou quando as próprias mulheres se tornam artistas reconhecidas e começam a espelhar os seus próprios medos, e as suas próprias angústias, e até os seus desejos na própria representação, ou autorrepresentação, obviamente que a arte muda. Não é tanto o parâmetro de beleza que muda, mas é a maneira de representar um corpo, por exemplo.” A professora começa por citar o exemplo de Paula Rego, que utiliza representações do corpo feminino que não se conformam com os estereótipos tradicionais. “O modelo dela por excelência é uma rapariga que foi empregada na casa dela e que ajudou nos últimos anos de vida do marido, e que é aquilo que nos imaginamos ser uma mulher do campo, uma mulher forte, uma mulher que não está de todo conforme aos padrões das manequins, portanto, é vigorosa, com músculos, sem grande apelo sexualizado, digamos assim. A Paula Rego faz isto de uma maneira consciente, ou seja, ela pega nos estereótipos ligados à representação do corpo feminino e vira-os ao contrário.”
A artista portuguesa não é a única: também Cindy Sherman, através da fotografia, “usa muito os estereótipos ligados à representação do corpo feminino” e “vai caricaturar justamente essas representações através de algo que nós poderíamos considerar como feio, ou seja, uma introdução daquilo que a sociedade considera como feio dentro da própria arte, na representação do corpo feminino”. Como explica ainda Luísa Soares de Oliveira, é a própria sociedade que também exige esta mudança. “Cada vez mais eu vejo artistas vindos de outras latitudes, que não a europeia ou a norte-americana, a terem um papel ativo na cena internacional, obviamente com os seus próprios padrões de beleza. Ou seja, a arte não promove coisa nenhuma, mas ela reflete as inquietações do mundo”, defende. “A Mónica de Miranda, por exemplo, que é uma artista com ascendência das antigas colónias, trabalha muito a questão de autorrepresentação, de uma maneira muito livre e muito liberta de todas as condicionantes, e introduz modelos de beleza que nós não veríamos na arte portuguesa contemporânea até há vinte anos. As coisas estão de facto a mudar. A arte não tem o papel de mudar as mentalidades, embora isso também vá acontecer, mas é o papel dela testemunhar aquilo que incomoda os artistas. Isso começa a aparecer, de facto.” Charlotte Jansen também diz sentir esta mudança, referindo-se a uma espécie de revolução global. “Penso que isso emergiu do espírito destes artístas visionários, que exigem serem vistos de forma diferente, nos seus próprios termos. Movimentos como o #MeToo estão ligados a isto. Mas, como sabemos, também existiu um backlash contra isso – no mundo das artes visuais, penso que tem existido bastante debate, particularmente sobre esta tendência ‘hiperfeminina’ e a ‘quarta vaga do feminismo’ e o quão eficaz pode realmente ser, e penso que a tendência da “mulher artista” se tornou tão popular na arte que, agora, as mulheres estão um pouco cansadas disso. Ninguém quer ser definido pelo seu género, quer ser definido pelo seu trabalho; ser chamada ‘uma grande artista mulher’ é, de certo modo, mais uma forma de sexismo. Mas, ao mesmo tempo, temos de criar espaços e promover aquilo que as mulheres fazem porque tem sido muito ignorado...”
Na arte, um corpo nunca é só um corpo. Um ideal de beleza nunca é só um ideal de beleza. Uma representação nunca é só uma representação. Uma mudança nunca é só uma mudança. Tudo se interliga. Tudo tem significado para além do aparente. Charlotte Jansen e Girl on Girl: Art and Photography in the Age of the Female Gazed parecem ser a confirmação disso mesmo. “Quis editar este livro porque estava a ver muita atenção dos media neste novo movimento de artistas na fotografia a colocarem o corpo feminino em primeiro plano no seu trabalho, mas senti que muita desta atenção era bastante superficial e limitada, e que desvirtuava os aspetos mais subtis daquilo que as mulheres estavam a fazer naquela altura”, explica. “Nem todas as mulheres usam o corpo feminino para falar sobre sexualidade, género ou feminismo, por exemplo – podem usá-lo como uma tela para explorar a arquitetura, o lugar, a política, o teatro, a morte, a violência, e tantos outros temas.” Como defende Luísa Soares de Oliveira, cada artista define a sua obra, e cada artista trata de si. “Mas o que nós temos hoje, e eu que também sou professora posso dizer isso, é que cada vez há mais alunos na faculdade que vêm das comunidades migrantes, coisa que não acontecia há dez anos. Há dez anos eles não chegavam, e hoje chegam. E obviamente que eles vêm trazer a sua própria cultura para a arte, o que enriquece nitidamente a arte portuguesa contemporânea, que deixa de ser branca e centrada numa visão binária da sociedade, deixa de ser isso e passa a ser múltipla, muito mais rica, muito mais diversa.” E isso, claro, vai afetar a representação. “Penso que as melhores artistas não estão a redefinir o ideal de beleza, mas antes a reinventar completamente o sistema para que não tenhamos que ter ideias que são impossíveis de alcançar – um ideal vai sempre excluir alguém, é algo que depende da comparação e da competição, e isso faz parte do patriarcado”, defende Charlotte Jansen. “Hoje, as artistas estão a usar o seu trabalho para fazer statements radicais sobre isto e dizer que estes padrões e ideais são absurdos, e que até estarmos livres deles não seremos liberadas. Estou a pensar em artistas como Juno Calypso, por exemplo, que usa a sátira para mostrar como a perfeição é inalcançável; ou a fotógrafa Nadine Ijewere, que está a celebrar o facto de existir beleza em toda a gente, e que ninguém é igual a ninguém – por isso, como poderiam existir padrões?”.
Artigo originalmente publicado na edição de março 2020 da Vogue Portugal.
Most popular

.png)
.png)
Relacionados

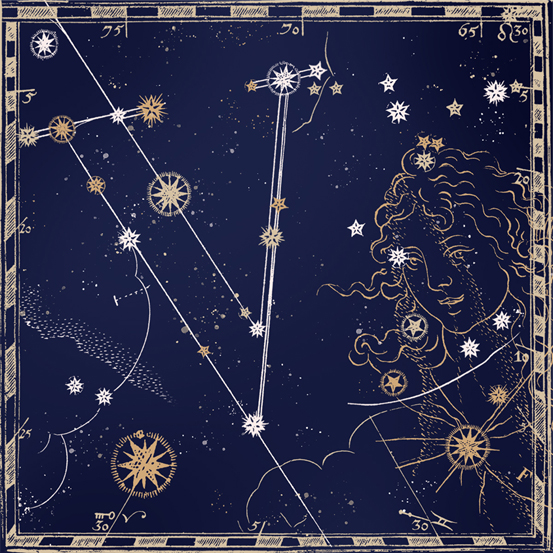


.jpg)
