Se alguma vez tivesse pensado em ti, serias mais meigo, mais extrovertido, mais carinhoso, mais tolerante, mais divertido, mais atencioso, mais alegre, mais sonhador, mais resiliente – mais humano. Terias covas nas bochechas de tanto rir, terias rugas nos braços de tanto abraçar, terias cabelos desgrenhados de tanto espreguiçar – a dois. Mas, como nunca pensei em ti, como nunca te tinha imaginado, a imagem que agora apresentas serve o propósito de não saber quem (tu) és.
Se alguma vez tivesse pensado em ti, serias mais meigo, mais extrovertido, mais carinhoso, mais tolerante, mais divertido, mais atencioso, mais alegre, mais sonhador, mais resiliente – mais humano. Terias covas nas bochechas de tanto rir, terias rugas nos braços de tanto abraçar, terias cabelos desgrenhados de tanto espreguiçar – a dois. Mas, como nunca pensei em ti, como nunca te tinha imaginado, a imagem que agora apresentas serve o propósito de não saber quem (tu) és.
Prólogo. Eugénio de Andrade (1923-2005) deixou-nos poemas suficientes para tentarmos entender a dimensão absurda da nossa condição de seres errantes e mortais. Um deles, Adeus, publicado no seu segundo livro, Os Amantes Sem Dinheiro (1950), reveste-se de especial importância quando o assunto em causa é o amor. Ou, melhor dizendo, o desamor. “Já gastámos as palavras pela rua, meu amor, / e o que nos ficou não chega / para afastar o frio de quatro paredes. / Gastámos tudo menos o silêncio. [...] Às vezes tu dizias: os teus olhos são peixes verdes. / E eu acreditava. / Acreditava, / porque ao teu lado / todas as coisas eram possíveis. / Mas isso era no tempo dos segredos, / no tempo em que o teu corpo era um aquário, / no tempo em que os meus olhos / eram realmente peixes verdes. / Hoje são apenas os meus olhos.” Cruzei-me com este Adeus nos meus tempos de adolescente. Fazia parte do programa de Português algures no secundário – como é possível que nós, teenagers imberbes, estivéssemos capacitados para apreender a dimensão das palavras de Andrade? Estávamos. Oh, se estávamos... O que eu não sabia, na altura, é que ele iria acompanhar-me, até agora, que iria ser o meu norte e o meu sul, o meu este e o meu oeste. Aos 39 anos, este Adeus permanece a obra-mestra para tudo o que a amor, e desamor, diz respeito. E isso, de certa forma, é triste, melancólico, esperançoso e desolador.
"O amor incomoda. O amor mói. O amor fustiga. O amor cansa. E pensar nele é uma canseira."
Primeiro ato. Apetece-me zero escrever sobre o amor. Preferia escrever sobre gaivotas. Ou sobre esquentadores. Sobre o amor, nem por isso. Desde que o mundo é mundo que se escreve, se debate, se opina, sobre o amor, e até agora ninguém encontrou uma fórmula certa para se acertar com ele. O homem, diz-se, já foi à lua, só que ninguém sabe o que fazer com o amor. O amor incomoda. O amor mói. O amor fustiga. O amor cansa. E pensar nele é uma canseira. Porque somos obrigados a pensar nele, mesmo não querendo. O amor está em toda a parte. Depois de não-sei-quantas relações falhadas, que me forçaram a questionar, uma e outra vez, a minha capacidade para amar e ser amada, o amor começa a assemelhar-se a um mito urbano. A algo que alguém viu, um dia, mas que não sabe explicar como é, nem como se apresenta. Porque o amor tem todas as formas possíveis – e não tem nenhuma.
O amor era para ter sido aquele namorado com quem fui superfeliz durante quatro anos, uma felicidade tão fácil, tão simples, que não tinha motivo nenhum para terminar... a não ser o fim do amor – mas se o amor chega ao fim, como é que pode ser amor? O amor era para ter sido o Pedro, com quem descobri Paraty e com quem, em pouco menos de um ano, vivi mais aventuras do que alguns casais que estão juntos até que a morte os separe alguma vez viverão. O amor era para ter sido o americano louco dos cornos (desculpa, Scott) com quem estive quase-quase a casar, mas ainda bem que não, porque ele não sabia ser fiel – agora, sete anos depois, já sabe, e isso dá-me um certo alento, porque significa que há pessoas que conseguem mudar. O amor era para ter sido o Zé, que conheci no velhinho Hi5, através de amigos em comum, o meu primeiro encontro às cegas, e de quem fiquei amiga para a vida – e foi melhor assim. O amor era para ter sido o Chico, que saiu a meio da noite para comprar cigarros e nunca mais voltou (ele não ia comprar cigarros, mas tem mais graça contado desta forma) porque não tinha coragem de terminar comigo frente a frente, ou, se quisermos pôr os pontos nos is, porque não aguentava a minha maneira de ser, meio maluca, permanentemente insatisfeita, e agora que olho para trás até o consigo entender, nem eu ficaria comigo – nem eu com ele.
O amor não era, sublinhe-se, não era, para ter sido o X, que nem merece ser referido pelo nome próprio, porque a ausência do órgão vital, que bombeia o sangue pelo corpo através dos vasos sanguíneos, esse órgão que tantas vezes associamos ao amor, o coração, faz dele um fantasma, um erro de casting, um ser sem empatia e que, portanto, nunca poderá sentir amor, por muitos “Amo-te tanto” que repita. Houve um ou outro lusco-fusco pelo caminho, um ou outro flirt, uma ou outra paixão assolapada, e dezenas de coisas (a nova geração apelidá-las-ia de “cenas”) que não interessam para aqui. E existiram os “amores de autocarro”, aquelas pessoas que se cruzam connosco por segundos, que nunca voltamos a ver, e com quem sentimos uma conexão e uma química inexplicáveis. Raramente nos lembramos delas, dos seus traços físicos, o que conta é o impacto que sentimos quando tropeçamos nelas – o vento que de repente nos acaricia a face, o sorriso que não conseguimos controlar, o brilho nos olhos que não sabemos explicar – como se as conhecêssemos de outro lado, de outro tempo. Como se elas fossem o nosso outro eu. Não tenho dúvidas que amei muito aquele rapaz de caracóis revoltos que vi no início do ano 2000 no Café Royale.
"E o amor, ensinaram-nos, é uma linguagem universal. Mas não é. Agora não é. É uma linguagem singular. De hábitos. De manias. De mentiras."
Segundo ato. Só que o amor não foi nada disto. Presenciei quase 20 casamentos na minha idade adulta, vi mais noivas subir ao altar do que alguma vez pensei ser possível (não era só nos filmes que isso acontecia?) e, no fim de contas, o amor, comigo, não foi nada disto. Ouvi as palavras mágicas, “Amo-te muito”, serem-me dirigidas, e repetidas, até à exaustão. “Amo-te muito”, como se isso fosse a solução para todas as coisas. Disclaimer: Não amas nada. Não amas nada. O amor não é esse fogozinho que tens entre as pernas, nem essa comichão que passa com um roçar de ancas. O amor, para ser amor, tem de ser muito mais que isso. Leva tempo. Exige respeito. Não dá para ser um swipe numa noite de verão e uma bebedeira numa tarde de inverno – ou até dá, mas precisa de ir muito além disso. Quem se atira ao amor como quem se atira a uma droga já perdeu a corrida para o vício, para o erro, ou para aquilo a que prefiro chamar de “paixãozinha leve da qual devias ter vergonha”. O amor, para ser amor, tem de ser muito mais que isso. Não é um “agora não me apetece.” Não é um “desculpa só que não vai dar.” Não é um “acho que estamos desencontrados.” Não é um “acho que estás a complicar, fazes de tudo um drama”, seguido do clássico bater de portas e do silêncio aterrador que tudo ofusca durante dias a fio. Por aí vai dar merda. E tudo bem, se os dois quiserem merda. A questão é que, na maioria das vezes, não querem. Na maioria das vezes, um fala com o coração e o outro com a luxúria. E o amor, ensinaram-nos, é uma linguagem universal. Mas não é. Agora não é. É uma linguagem singular. De hábitos. De manias. De mentiras. “Não estou preparado para uma relação” serve tanto como “A culpa não é tua” ou “Tenho uma bagagem emocional muito pesada.” Há tribunais que já viram desculpas mais bem esgalhadas. Amor o caralho. Isso é medo. Amor é outra coisa. Nunca o iremos conhecer se não dermos o passo em frente e avançarmos com tudo. Ah, pois, só que para isso era preciso capacitar o homem (e aqui deve subentender-se “ser humano”) de que não iria haver danos colaterais. E há. Há carradas deles. Reação óbvia? Fim.
Terceiro ato. “Amo-te” é a coisa mais pateta, e mais leviana, de se dizer. E a mais urgente. E a mais séria. Ele diz: “Amo-te muito.” E ela repete: “Eu também.” Só custa à primeira, depois é como debitar uma oração ou um mantra. E andam nisto meses, anos a fio. É como um disco riscado que ninguém se lembrou de desligar, porque o som que emana já se confunde com o estuque rasgado das paredes. Tenho para mim que existe um número infinito de “amorzinhos” por esse mundo fora, casos sensaborões de gente que não se pode ver à frente e que continua, firme, a repetir esse “Amo-te muito”, seguido do intragável “Eu também”, como se a única salvação para as nossas almas fosse permanecer agarrado a alguém de quem, há muito, nem suportamos o cheiro. Eu própria já o fiz. Os crentes no “E foram felizes para sempre” e na história da Cinderela que me perdoem.
A minha visão do amor é talvez mais cínica – nem por isso menos romântica – do que aquela que a sociedade nos incutiu. Eu acredito num amor que não existe. Pronto, está escrito. Eu acredito num amor que é a soma de duas pessoas individuais, que se encontram para acrescentar “algo” à outra. Pode ser qualquer coisa. Num mundo ideal, seria um misto de paz, excitamento, paixão, descoberta, silêncio, amizade, pozinhos de perlimpimpim, e compreensão. Só que o mundo ideal não existe, ou não seria o mundo ideal. Eu ainda acredito no amor, caso contrário de pouco ou nada me valeria continuar a respirar. Acontece que cheguei a uma idade em que não vale a pena dourar a pílula no que diz respeito a coups de foudre ou príncipes encantados. Ninguém me vai salvar a não ser eu própria e, mais importante que isso, é ter a certeza de que só quando estiver plenamente bem comigo é que estarei pronta para estar em pleno com alguém. O que é que isto quer dizer? Que o ditado “mais vale só que mal-acompanhada” se adequa, na perfeição, ao meu estado atual. E isso é um equilíbrio tramado, porque mesmo sem querer agarramo-nos a hábitos que nos tornam mais frágeis, mais pensativos, mais cautelosos, mais exigentes. Moral da história: quem é que, aos 39 anos, tem paciência para andar por aí à procura daquilo que pode ser a sua alma gémea?
"Para mind games já bastam os da vida real. Esqueci-me do Bumble da mesma forma que me esqueci das newsletters que assinei na promessa de receber descontos improváveis."
Epílogo. Muita gente. As aplicações de encontros estão cheias, apinhadas, de solteirões e solteironas como eu – não há que temer assumi-lo, são só palavras. Aqui há tempos tentei adaptar-me a essa nova forma de “comunicar”, vamos chamar-lhe assim, e instalei o Tinder. Durou uma semana. Estava constantemente a fazer “like” nas pessoas erradas – a logística “esquerda” e “direita" ainda era nova para mim. Depois sugeriram-me o Bumble, onde a mulher tem o poder de iniciar a conversa. Not bad. Já conversei com uma pessoa. É quase pré-histórico assumir isto. O normal, neste universo, é manter uma série de possibilidades em stand-by, combinar uma série de dates, e depois ver quem é que nos interessa. A minha avó acharia isto pavoroso, eu também não acho lá muito cool. A ideia de ser a terceira ou a quarta, opção de alguém, ou de “andar a ser testada”, como me disse uma amiga, é sinistra. Resumindo, a coisa não deu em nada. Para mind games já bastam os da vida real. Esqueci-me do Bumble da mesma forma que me esqueci das newsletters que assinei na promessa de receber descontos improváveis para objetos que nunca, jamais, poderia comprar. De volta aos básicos, portanto.
Estamos no final de 2020. Se tudo correr bem daqui a um ano entrarei nos 40. Grande parte destes últimos anos passei-os com uma espécie de felicidade (talvez seja mais correto dizer “alegria do desapego”) que só se atinge quando não se procura nada, quando não se está à espera de nada. Grande parte destes últimos anos passei-os sozinha. Sozinha, mas nunca solitária. Prefiro acreditar que, em vez de remexer furiosamente o éter em busca de algo que nem eu sei o que é, mais cedo ou mais tarde alguém me irá dizer que os meus olhos são peixes verdes. Porque quando for a pessoa certa, todas as coisas serão possíveis. E os meus olhos deixarão de ser apenas os meus olhos, escuros, negros, uns olhos como todos os outros, e passarão realmente a ser peixes verdes.
Testemunho retirado da edição Love da Vogue Portugal, publicada em dezembro de 2020.
Most popular
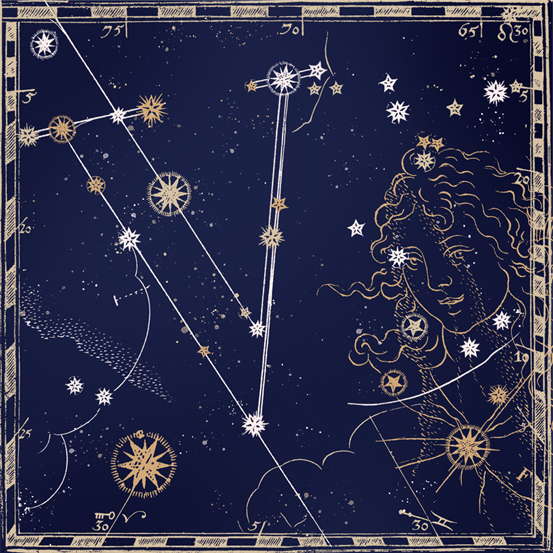

ModaLisboa Capital: as propostas dos designers portugueses para o outono/inverno 2025
10 Mar 2025

Como usar skinny jeans: um guia prático para quem não gosta de skinny jeans
07 Mar 2025
Relacionados

.jpg)
Donatella Versace afasta-se das passerelles e Dario Vitale é nomeado novo diretor criativo da Versace
13 Mar 2025

Outono/inverno 2025 | As tendências de Beleza que vimos nos bastidores
12 Mar 2025


