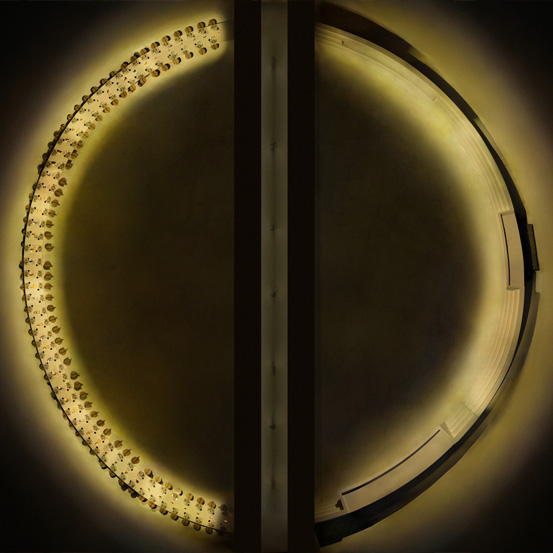“Quando for grande, quero ser uma princesa”, disseram milhões de meninas e meninos. Por causa do príncipe encantado? Não, que seria. É mesmo pelo guarda-roupa.
“Quando for grande, quero ser uma princesa”, disseram milhões de meninas e meninos. Por causa do príncipe encantado? Não, que seria. É mesmo pelo guarda-roupa.

Antes de mais nada, você precisa de uma abóbora.” “De uma abóbora?” responde, estupefacta, Cinderela, a olhar quase com desdém para a fada madrinha porque o óbvio era que precisava mesmo de um vestido. Antes disso, ainda precisava dos ratos que afinal eram cavalos e do cavalo que afinal era cocheiro. O toque final? O Bruno, o cão, de libré. “Não precisa de agradecer”, diz a fada. “Não ia”, retorque a Cinderela, muito mais sassy do que nos lembrávamos. “Oh, que horror! Não pode ir assim!”, exclama a fada quando olha para a futura princesa (reparamos agora que a madrinha é aquela amiga honesta que queremos sempre levar connosco às compras). “Em breve verá que beleza será. Bibbidi-bobbidi-boo.” É lindo, é perfeito, “é um sonho tornado realidade”, mas só até à meia-noite (cortes).
Só que os vestidos acontecem. Os vestidos são a única coisa palpável com que ficámos dos contos de fadas, depois de percebermos que muito dificilmente vamos ser a próxima Meghan Markle, que os príncipes andam de helicóptero e não de cavalos brancos, que as fadas‑madrinhas são as nossas amigas que trocaram a varinha de condão por um smartphone e que os animais que nos entram pelo apartamento são pragas e não os nossos companheiros mais fiéis, que estão ali para nos assaltar a comida e não para cantar e coser um outfit. Há bruxas e madrastas, claro, mas não se vestem tão bem. Por isso, no fim do dia, resta-nos o vestido. A Moda foi a única arte que se preocupou em tornar as fábulas realidade.
Porque a Moda sabe que, no fundo, somos todos uns tontos românticos que ainda querem acreditar em magia. Que ainda querem acreditar que a peça que abraça e molda o peito e que depois explode na cintura, em quilómetros e quilómetros de tule e seda, não foi feita por mãos humanas mas por pozinhos de perlimpimpim. Gostamos das princesas, pois claro – por isso é que estamos constantemente a adorar o estilo de Diana, a venerar o glamour passado de Margaret, e hoje ainda fazemos esgotar todas as peças que Meghan ou Catherine ponham nos seus corpinhos – mas gostamos ainda mais de saber que nós também podemos ser princesas, que o nosso sangue pode não ser azul mas de certeza que, quando pomos aquele vestido, o que nos corre nas veias são purpurinas, que é ainda mais bonito.
© Imaxtree
O vestido do nosso imaginário é o vestido de baile, aquele clímax do New Look, vestido esse que já cá anda desde a Idade Média – na altura, os bailes eram um género de Tinder em que o vestido se queria tão espetacular que não existiam olhos para mais ninguém e tão volumoso que as inimigas não se podiam aproximar. Vestido esse que nunca vem sozinho: traz diamantes no colo, diamantes na tiara; traz luvas em seda; traz estolas de pelo branco ou capas em veludo capazes de acumular em si a saudade da nossa saída de cena. Durante tantos, demasiados anos, as passerelles encolheram o nariz, suas vilãs, a este desenho, porque não era cool, porque não era fresco, porque não era novo, novato, novíssimo. Era aborrecido, diziam eles. Era visto e era antiquado. Só os clássicos continuavam a desenhá-lo – Valentino, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Giambattista Valli, Christian Siriano. Só as clássicas continuavam a usá-lo. Os críticos bocejavam.
E depois o mundo fechou toda a esperança numa torre, deitou fora a chave. Soltou os dragões, os ogres, os demónios (qualquer semelhança com terrorismo, movimentos políticos extremistas ou líderes egomaníacos não é pura coincidência). Na narrativa deste nosso conto, estamos na altura em que o mal prevalece, o céu encobre‑se e as princesas dormem, amaldiçoadas, à espera do beijo da igualdade de género, perdão, do príncipe encantado. O vestido soube que estava na altura de voltar. Foi preparando a sua vingança, aos poucos, menos Bela Adormecida e mais Xena, a Princesa Guerreira. Foi nascendo dentro de Simone Rocha, de Molly Goddard, de Emilia Wickstead. Foi brotando até de Off-White. Depois Rihanna usou-o com ténis e pronto, estava feito, as princesas eram tão fixes, sempre foram, sempre gostámos.
Há quem diga que o vestido de princesa (chamemos as coisas pelos nomes) foi feito para dançar, um, dois, três, os compassos de uma valsa vienense enquanto se rodopia pelo salão mais leve que o ar. Mas o vestido de princesa foi feito para ser vestido (é como a pescada, antes de o ser, já o era). Quando a révolution apanhou finalmente Marie Antoinette e lhe queimou todo o guarda-roupa, não o fez sem que as mulheres revolucionárias experimentassem as peças primeiro. Porque o vestido de princesa pode até ser só cetim de seda, e tule, e uma construção exímia, e aquele corte que delineia as curvas do corpo e ainda as extrapola à perfeição. Mas para nós vai ser sempre sonho, aquele de criança, em que queríamos ser princesas, em que queríamos pozinhos mágicos que vêm de dentro, em que sabíamos que sugávamos a respiração de uma sala, em que tínhamos a certeza que nunca antes ninguém brilhou tanto. “Isso é magia, acredites ou não. Bibbidi-bobbidi-boo.
*Artigo originalmente publicado na edição de outubro 2018 da Vogue Portugal.
Most popular

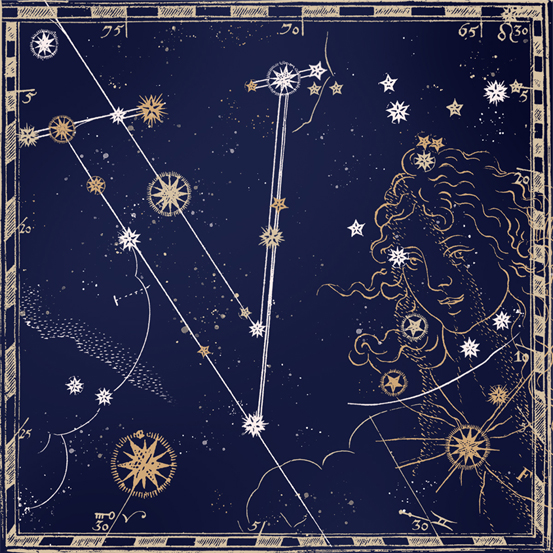
Relacionados

.jpg)