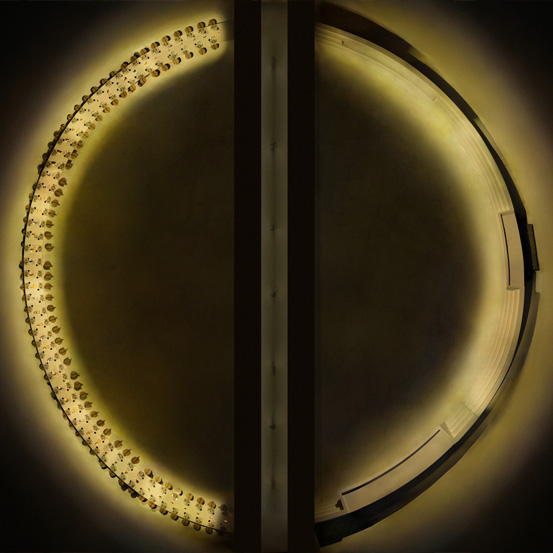A propósito da nomeação da série 3 Mulheres, exibida pela RTP no final de 2018, para os Prémios Sophia, a Vogue revisita a história de Snu Abecassis, Natália Correia e Maria Armanda Falcão.
Haverá tantas mulheres brilhantes quanto homens. Mas, nesta sociedade tradicionalista, é muito difícil exercerem o seu brilho. No nosso país, de acordo com o estilo “Português Suave” eles tratam-nas com desdém e paternalismo, minimizando as suas opiniões e receosos da sua influência. As que conseguiram vencer as barreiras merecem ser recordadas, não só pelo que fizeram, mas também por terem almejado fazê-lo.

©iStock; Composição gráfica de Sara Marques
A RTP exibiu, a partir de 26 de outubro de 2018, a série 3 Mulheres, escrita e realizada por Fernando Vendrell, que retrata um período da vida de Maria Armanda Falcão (interpretada por Maria João Bastos), Natália Correia (Soraia Chaves) e Snu Abecassis (Victoria Guerra).
A série deve ser vista, não apenas pela sua qualidade, mas sobretudo pela informação histórica. Desvenda mulheres cuja contribuição para o País foi importante e mostra a realidade dos “anos de chumbo” do Estado Novo, que quem viveu prefere esquecer e quem não conhece precisa de saber do que se livrou. Havia um relacionamento entre elas, mas depois do 25 de Abril seguiram caminhos diferentes, que não são abrangidos pela série.
Vale a pena saber um pouco mais sobre elas. Não protagonizaram atos gloriosos, dignos de figurar nos livros de História, mas contribuíram de modo decisivo para o que podemos chamar de “avanço da sociedade” – tal como a precursora Carolina Beatriz Ângelo (para nos ficarmos só pelo século XX), a primeira mulher que conseguiu votar, em 1911, contra a vontade dos homens da República.
Três mulheres, três destinos. Provavelmente não participariam no movimento de emancipação feminino que agora cresce, porque já eram emancipadas por conta própria e porque a sedução dos homens fazia parte do seu poder. Quem sabe...
Snu Abecassis

Dinamarquesa, nascida numa família abastada e intelectual, caiu em Portugal como um óvni, mas não se deixou intimidar pelo País atrasado isolado da década de 60.
O padrasto de Snu era um editor de renome na Dinamarca, com um historial que incluía a publicação da obra de Strindberg. Albert Camus, depois de receber o Nobel, jantou lá em casa. Uma família de prestígio internacional, num país com uma democracia consolidada. A menina foi estudar na Grã‑Bretanha, onde conheceu o português Vasco Abecassis. Casaram na Suécia e foram viver para os Estados Unidos, onde os Abecassis tinham negócios. Vêm para Portugal em 1960 e têm três filhos.
Nórdica, culta e contida, Snu é o oposto das duas portuguesas, que vem a conhecer nas peripécias da escassa vida intelectual de Lisboa. Vasco, pertencente a uma família abastada e adaptada ao regime, não se interessa por política. É um bom rapaz, mas não se incomoda com a violência surda e a ignorância que o Estado Novo impõe ao País. Snu não se conforma. Quer fazer alguma coisa. Limitada pelo fraco conhecimento do idioma (que melhora de dia para dia) e pela sua personalidade discreta, decide recorrer à tradição da família: funda a Editora Dom Quixote, em 1965.
Os primeiros livros publicados são O Esconderijo, de Robert Shaw, A África Começa Mal de René Dumont e As Duas Culturas de C. P. Snow. Com a chancela “Cadernos Dom Quixote” lança Grécia 67, A Crise na Igreja, O Conflito Israelo-árabe e Bolívia – Um Segundo Vietname, todos apreendidos pela PIDE. Uma chatice para o regime, esta estrangeira intocável que não sabe ficar quieta. Chamada à seda da polícia política, vai de casaco de vison, só para mostrar o seu estatuto.
Por acaso não edita as Novas Cartas Portuguesas publicadas por Romeu de Melo em 1972 e escritas pelas “três marias” – Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa –, outras que não aceitam o estatuto inferior da mulher na sociedade portuguesa, e que são processadas. Mas Snu está na mira do grunho ministro do Interior, César Moreira Baptista, que a chama ao seu gabinete: “Se a senhora publicar algum livro das marias, mesmo que seja um livro de cozinha, fecho-lhe a editora.”
Era assim, a prepotência do Poder, que a exaspera, como a exaspera a passividade do marido. Já depois do 25 de Abril, que salvou as marias duma condenação, há uma ocasião em que ela e Vasco estão em casa a assistir a um programa político. Atira-lhe: “Em vez de estares a ver televisão devias estar a ser visto na televisão.”
Snu quer fazer, mas sentindo-se constrangida pela hostilidade dos desconfiados portugueses com a sua distância, queria que o marido fizesse. A Dom Quixote, finalmente livre dos constrangimentos censórios, estava a caminho de se tornar a maior e mais prestigiada editora de autores portugueses. A certa altura estavam todos lá – menos Saramago, preso à Caminho, do PCP, e Agustina, que tinha uma relação fiel com a Guimarães, do Porto.
Mas não chega. O acaso fá-la conhecer Francisco Sá Carneiro, um político vindo das mais conservadoras esferas do Porto. Ainda no antigo regime, ia à missa todos os dias, beijava a mão do pai e da mãe. Mas a mesma igreja que o influenciava também tinha o bispo do Porto e via que o Estado Novo estava a dissolver-se. Preocupava-o a liberdade de imprensa e de expressão. Participou na chamada “ala renovadora”, a tentativa permitida por Marcello Caetano de modernizar o imodernizável.
Quando o 25 de Abril trouxe a possibilidade dos partidos, Sá Carneiro queria criar um que fosse conservador e democrático. Numa rápida história que não cabe aqui, acabou por formar o PPD, uma aposta numa solução social-democrata verdadeira. (Há uma diferença entre a social-democracia, que é uma forma de socialismo, e o que se tornou o PPD/PSD, um partido neoliberal, mas isso também é uma história que não cabe aqui.)
Foi Natália Correia que serviu de “casamenteira” entre Snu e Francisco. Uma paixão arrebatadora, instantânea. E um problema colossal. Snu divorciou-se, ficou livre, situação normal para a sua cultura. Mas Sá Carneiro era casado pela Igreja, claro, com Isabel, uma senhora muito católica. Na altura, o divórcio civil só era possível se os dois quisessem, e Isabel não quis.
A paixão foi arrebatadora, mas também calhou muito bem a ambos. Snu dá-lhe o internacionalismo que ele não tinha. Era advogado no Porto, com muito pouco mundo. Mas era o homem ativo, participante na política, interessado no País, que ela tanto queria num companheiro. Assumir uma amante, no Portugal de 1975, não era fácil. Os homens tinham uma mulher oficial e as amantes às escondidas. Sá Carneiro leva Snu para as cerimónias oficiais, apresenta-a como se fosse sua mulher, o que escancarou o conservantismo mesmo dos revolucionários e levantou todo o tipo de problemas diplomáticos e morais.
Como conta Cândida Pinto, que escreveu uma biografia de Snu: “Durante a visita do Presidente norte-americano Jimmy Carter e da esposa a Portugal, há uma parte do programa em que Snu acompanha Sá Carneiro; na chegada ao aeroporto, na deposição de uma coroa de flores nos Jerónimos. E há um programa alternativo com a primeira-dama norte-americana, Rosalynn Carter, a que Snu não tem acesso. A esposa do Presidente da República, Manuela Eanes, entendeu que Snu não deveria estar porque não era mulher legítima de Sá Carneiro. Snu acaba por sair dos Jerónimos com Maria José Freitas do Amaral (o marido era ministro dos Negócios Estrangeiros). Vão cada uma para a sua casa, e não falam do assunto, constrangidas.”
Houve outras situações constrangedoras. E havia o problema político. O PPD estava à direita do espectro político. A Igreja não estava com a esquerda, mas não podia expor o seu apoio à direita, porque o líder vivia em pecado. Sá Carneiro deixa de ir à missa, de frequentar a igreja. Snu está nas suas sete quintas. A editora e o companheiro dão-lhe a influência que ela sempre quisera para modernizar o País. Não é crente, a situação não a incomoda. Pode esperar que Isabel mude de ideias. Não gosta de se evidenciar, mas gosta de estar ao lado dum homem que faz diferença. A estrangeira que veio para Portugal por acaso tem um papel determinante no que é Portugal.
Em dezembro de 1980 dá-se o desastre de Camarate. Ecrã negro.
Natália Correia

Uma sedutora. Uma guerreira. Inteligente, poética, arrebatadora. Nascida em São Miguel, vem aos 11 anos para Lisboa e começa a escrever poesia em 1947, com 24 anos. Em 1953 casa-se pela terceira vez com Alfredo Luís Machado, viúvo e 19 anos mais velho, por quem tem uma paixão arrebatadora, registada numa profusa correspondência.
Alfredo, dono do Hotel do Império (hoje Britânia) adorava-a – todos os homens que a conheceram a adoravam – e proporcionou-lhe um salão onde reunia regularmente a intelectualidade de Lisboa para recitar poesia, debater política e filosofar. Considerava-se uma poetisa, mas foi também dramaturga, romancista, ensaísta, tradutora, jornalista, guionista, editora e musa de muitos artistas.
Ninguém resistia ao seu encanto, e Natália usava-o com vivacidade, sem deixar de se envolver nas questões importantes da época; participou no MUD, apoiou as candidaturas oposicionistas de Norton de Matos e Humberto Delgado e fez parte da CEUD de Mário Soares.
Em 1966 coligiu a Antologia da Poesia Portuguesa Erótica e Satírica, uma coletânea que ia dos Cancioneiros medievais aos poetas contemporâneos, passando por Camões, Bocage, Fernando Pessoa – praticamente todos os poetas da nossa língua tinham escrito algo desse jaez, que a censura e os brandos costumes mantinham afastado do conhecimento público. O livro foi imediatamente proibido e Natália acusada num processo público onde pôde exercer a sua verve perante o juiz e uma audiência cúmplice e estasiada. Apanhou três anos de pena suspensa, o que só aumentou o seu prestígio e não a fez abrandar: em 1972 apoiou a publicação das célebres Novas Cartas Portuguesas.
Um ano antes, abriu um bar que ficaria para a história das tertúlias lisboetas, o Botequim, onde imperava todas as noites, com a presença de figuras como David Mourão-Ferreira, José Augusto França, Luiz Pacheco, Mário Cesariny, Ary dos Santos e Amália Rodrigues. Recebeu em casa Henry Miller, Graham Greene e Ionesco.
Depois da morte de Alfredo Luís Machado casou com um dos seus admiradores, o poeta Dórdio Guimarães, que a venerava.
Amiga de Snu e Sá Carneiro, entrou para o parlamento pelo PPD, mas a sua independência depressa a fez sair do partido, continuando como deputada independente até ao fim da legislatura. As suas intervenções, como sempre despudoradas e bombásticas, eram comentadas por toda a gente. Mas também escreveu textos sérios, inclusive um que anunciava a decadência do regime e que se provou profético.
Quando morreu, em 1993, deixou um vazio insubstituível no debate intelectual da nossa cultura.
Maria Armanda Falcão

Maria Armanda, nascida em 1917 em Moçambique e cedo vinda para Lisboa, era uma mulher destemida e atrevida, que viveu entre o medo da solidão e a vontade de fazer diferença, contrariando os poderes instituídos, que via como totalitários e castradores. Antes do 25 de Abril, o poder era o salazarismo; depois, as forças revolucionárias. Lutou contra ambos, paradoxalmente, impulsionada pela mesma ansiedade de ser reconhecida e celebrada.
Nas décadas de 1950-60 viveu com um homem 15 anos mais novo, uma relação tempestuosa e igualitária que terminaria com um abandono que a abalou e a fez mudar de campo político, mas não de determinação e protagonismo. O homem era José Manuel Tengarrinha, professor universitário, jornalista e político, uma das figuras notáveis da oposição ao Estado Novo.
Fez parte dos fundadores do MUD Juvenil e do MDP/CDE, os movimentos possíveis contra o regime. Depois da Revolução foi eleito deputado da Assembleia que faria a Constituição de 1976. As necessidades da luta antissalazarista fizeram dele comunista mas revoltou-se contra a ortodoxia, que cabia mal na sua noção de liberdade, e foi fundamental no divórcio entre o Partido e o Movimento Democrático, nas lutas pós‑revolução.
Maria Armanda sempre o ajudou e acompanhou nas perigosas andanças desses tempos – Tengarrinha foi preso pela PIDE seis vezes e estava em Caxias no 25 de Abril – ao mesmo tempo que procurava um lugar ao sol para si própria. Funcionária inconformada da Companhia Nacional de Navegação, tanto fez que conseguiu participar na primeira emissão da RTP experimental, em 1956 – mas não ficou na emissora por “ter uma personalidade demasiado independente”. Em 1958 participou na direção da campanha eleitoral do general Humberto Delgado.
A seguir tornou-se cronista vitriólica no Diário Popular, adotando o nome que a tornaria uma figura pública, Vera Lagoa. Conta a lenda que o pseudónimo foi escolhido num almoço com o escritor e badboy Luís de Sttau Monteiro; Vera querendo dizer “verdadeira” e Lagoa, o nome do vinho que estavam a beber... Na coluna exercia alegremente o seu papel de provocadora; comprava todas as disputas da época, sociais, políticas ou simplesmente mexeriqueiras e era vista pelos poderes instituídos como uma inconveniente – com vontade própria, aguerrida, e ainda por cima mulher.
A Revolução apanha-a sozinha e logo se casa com outro homem 15 anos mais novo, José Rebordão Esteves Pinto. Mas este era o oposto de Tengarrinha: fascista, saudoso do Império colonial, ressabiado com a nova ordem republicana. Agora Maria Armanda tornar-se-ia verdadeiramente Vera Lagoa, um alter ego perturbador para a ordem recém-instituída.
Como ela própria disse mais tarde, falando de si na terceira pessoa: “A Maria Armanda era uma pessoa com muito mais valor do que a Vera Lagoa. Tinha mais energias, mais coisas por que lutar. A Vera Lagoa afasta muita gente que a Maria Armanda gostaria de ver junto de si. Antigamente vivia rodeada de certas pessoas que estimava muito.”
Neste novo papel vingativo – mais pelo abandono de Tengarrinha do que pela intimidade de Rebordão – juntou-se com um grupo de ativistas reacionários, como José Miguel Júdice, Jaime Nogueira Pinto e Nuno Rogeiro, para fazer o jornal O Diabo, que até teve uma coluna de Marcelo Rebelo de Sousa, assinada sob o pseudónimo de Agapito Pinto. O Diabo teve o papel ingrato de levar aos limites a tolerância da democracia. Foi proibido e logo depois permitido. Teve mais de 200 processos por difamação e ofensas pessoais. A Maria Armanda tinha sido abafada pela Vera Lagoa, mas a combatividade era a mesma.
Hoje, 22 anos depois da sua morte, fica a memória de uma mulher apaixonada, que nunca se deixou intimidar pelo Poder.
Artigo originalmente publicado na edição de novembro 2018 da Vogue Portugal.
Most popular

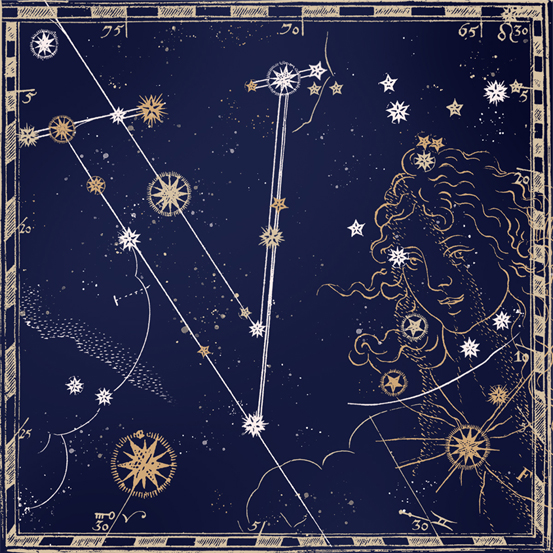
Relacionados
.jpg)
Alice Trewinnard prepara-se para a GQ Night of the Year | Beauty Confessions
23 Nov 2024

.jpg)