“Qual é a tua música preferida? A de sempre?” Parece impossível responder a tal questão. E, provavelmente, é, já que somos seres em constante mutação, e os nossos gostos alteram-se consoante o rumo da nossa história. Mas há canções que, por um motivo ou por outro, são mais canções do que outras. É assim com toda a gente, e a equipa da LightHouse, editora responsável pela publicação da Vogue e da GQ em Portugal, não foge à regra. Esta é a playlist que temos tatuada nos nossos corações.
“Qual é a tua música preferida? A de sempre?” Parece impossível responder a tal questão. E, provavelmente, é, já que somos seres em constante mutação, e os nossos gostos alteram-se consoante o rumo da nossa história. Mas há canções que, por um motivo ou por outro, são mais canções do que outras. É assim com toda a gente, e a equipa da LightHouse, editora responsável pela publicação da Vogue e da GQ em Portugal, não foge à regra. Esta é a playlist que temos tatuada nos nossos corações.
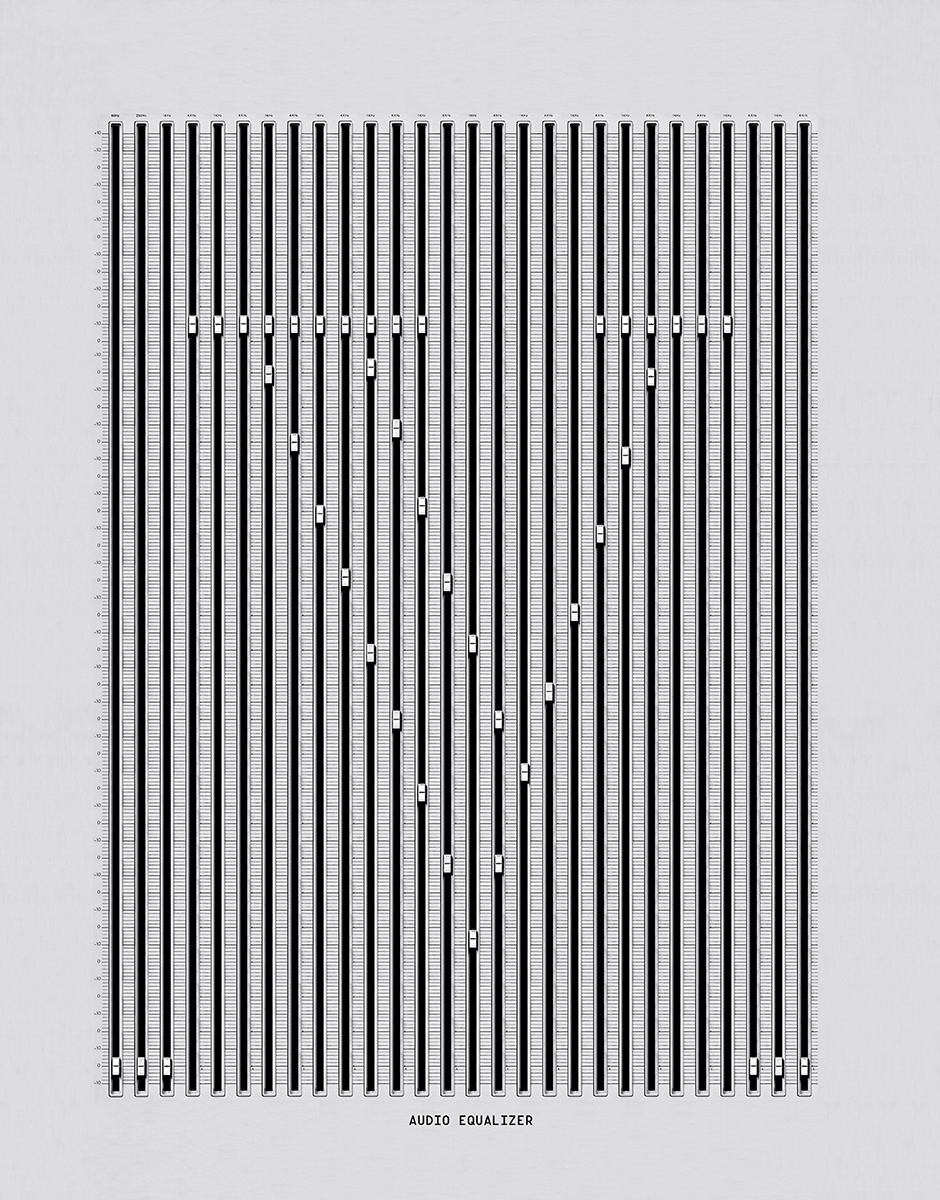
Artwork de João Oliveira
Artwork de João Oliveira
Ana Murcho, Chefe de Redação Vogue
Pensar na música da minha vida obriga-me a pensar na minha vida, a tomar consciência dela, de tudo o que ficou para trás. E isso pode ser — e é, sem dúvida alguma — um exercício penoso, difícil, acima de tudo porque, hoje, agora, já não sou a mesma pessoa que ouvia Harvest Moon, de Neil Young, Strangers In The Night, de Frank Sinatra, ou Absolute Beginners, de David Bowie, na inocência de que aquelas canções tinham sido escritas para mim. Escrevo este texto e já não sou a rapariga, semiadulta, que escutava, em loop, La Valse à Mille Temps, de Jacques Brel, Tonight We Fly, dos The Divine Comedy, Where The Streets Have No Name, dos U2, ou Light Years, dos Pearl Jam. Sou uma mulher de 39 anos que continua a ter preferências musicais que não se conseguem rotular, pois dependem de sentimentos, de reflexos, de sons, que acordam em mim coisas que nem eu sei explicar. Às vezes pergunto-me: “Que banda sonora gostava que tocasse no meu funeral?” Parece mórbido, eu sei, mas é um assunto muito sério. Resposta: “Não faço ideia.” Repeti a discografia dos The Beatles até ao limite do impossível, abusei da melancolia dos Portishead enquanto lutava contra as minhas dúvidas existenciais, apoderei-me da voz de bagaço de Tom Waits para afogar o desencanto e a mágoa, perdi-me na poesia de Bob Dylan — Make You Feel My Love tem de constar desta não-lista, ou estaria a ser infiel ao meu coração — e encontrei a paz com Charles Mingus. Moanin’ não é a música da minha vida, porém, é o compasso de espera perfeito para este momento entre o pretérito perfeito e o futuro próximo. Até lá voltarei inevitavelmente a Fistful of Love, de Antony and the Johnsons, e a Lost Cause, de Beck, como se as estivesse a ouvir pela primeira vez. E, num universo paralelo, talvez esteja.
Diego Armés, Chefe de Redação GQ
Um amigo meu, que é músico, usa uma expressão muito curiosa: “O disco da minha vida desta semana” – muito curiosa e muito certeira. Não se pode gostar de música, ouvir música desde sempre, crescer com música, viver com música, e chegar um dia e dizer: “Pronto, olha, é este aqui: este é que é o disco da minha vida.” A não ser que se seja um psicopata sem sentimentos nem memória. Tenho a certeza de que haverá estudos que dizem que os bichinhos que temos dentro da cabeça a produzir pensamentos e emoções fazem o seu trabalho ao ritmo do que ouvimos e com uma disposição sensível àquilo que escutamos. E a vida de uma pessoa não é uma existência linear e imutável, todos temos nuances – já para não falar em evoluções e regressos. Ultimamente, o disco da minha vida tem sido o Kiwanuka, de Michael Kiwanuka. O Untitled (Black Is), dos SAULT, também tem sido um dos discos preferidos da minha vida. Na dúvida, meto o Funeral, dos Arcade Fire, ou um dos primeiros dos Fleet Foxes. Ou qualquer coisa que me leve de volta a um passado que me tenha deixado pegadas cá dentro. Ouvir um desses discos é como sentir um perfume antigo que nos transporta no tempo. A música da minha vida é a minha banda sonora inteira.
Ismael de Jesus, Diretor de Vídeo
Dropkick Murphys, Kiss Me, I'm Shitfaced. A (minha) música mais ouvida de sempre. Saiu na altura em que comprei a primeira a mota e coincidiu com a altura em que comecei a sair à noite. Havia um bar onde íamos todas as noites beber copos e foi onde conheci mais gente nova. Fun fact: o bar fechou no dia em que eu e a maioria das pessoas que conheci aí viemos para Lisboa estudar.
Joana Rodrigues, Estagiária de Redação
Não me lembro de ter sido criança. Sempre tive sede de crescer. Lembro-me de ter oito ou nove anos e de receber elogios de todos os adultos que me conheciam, diziam- me que era muito matura para a minha idade. Acho que era o que mais me dava prazer ouvir naquela altura, fazia-me sentir um bocadinho menos deslocada. Na escola, esforçava-me por participar nas brincadeiras com as outras meninas, mas a verdade é que nunca tive um Nenuco, nem nunca vi o interesse neles. Mas de que me valia fingir ser crescida? Meninas deviam brincar com bonecas, e não preocupar-se com dinheiro ou com as frágeis relações entre os adultos das suas vidas. Não tenho memórias de fazer alguma coisa própria de uma criança e de me sentir adequada. Estás a envergonhar-te, dizia-me a mim própria, sê crescida. Assim que pude, troquei os brinquedos pelos livros. Onde quer que fosse, levava comigo a minha leitura da semana. Quando os livros se tornaram fantasiosos demais, troquei-os pelas séries policiais, misteriosas e de horror. Apesar da reprovação – para estes géneros já era nova demais – recusei-me a voltar para as histórias de fadas encantadas e de ratos detetives. Lembro-me de consumir estas narrativas como se estivesse a passar fome. Ou melhor, sede. Sede de crescer. Faziam-me falta as experiências e as sensações que não podia ter, porque era uma criança, mas por dentro sentia um turbilhão de emoções que não tinha razão de ser. Quando cheguei aos 14 anos, o turbilhão começou a consumir-me. A minha vida era tão vazia de relações e aventuras que cheguei a convencer-me a mim própria de que estas emoções eram só mais um produto do fingimento. Ponderei ter fingido ao ponto de me sentir genuinamente adulta, sem nunca o ter sido. But I crumble completely when you cry é o verso que mais me faz sentir. Descobri o indie rock e o seu potencial de me libertar. Com este género, mas esta música em específico, podia sentir tudo – o amor, o desgosto e a dor – sem precisar de me justificar a mim mesma. Na verdade, ainda posso. 505 significa algo que simultaneamente mantém vivo, e mata. Agora que penso nisso, as minhas fantasias eram o meu 505 – o meu refúgio, mas talvez sem elas me pudesse ter sido mais criança. Lembro-me de ser mais uma adolescente perdida e de imaginar todos os cenários possíveis ao som dos Arctic Monkeys. Em todos eles eu era adulta, e em todos eles sofria um desgosto que me fazia sentir desorientada, confusa e deslocada. Nas minhas fantasias, eu era aquela que esperava deitada de lado, com as mãos entre as pernas. Nestas ficções, dava-me a mim própria uma razão, mesmo que imaginada por mim, para me sentir como sentia. Apesar da minha inocência, era capaz de me colocar no lugar desta pessoa, magoada e desgostosa, e sentir tudo o que ele sentia. Talvez tenha sido a minha inocência que me permitiu imaginar este romance doentio, e, ao mesmo tempo, extraordinariamente apaixonante. À medida que fui crescendo, comecei a sentir cada vez mais a falta deste amor adulto e complicado. Como era possível que esta pessoa amasse tanto alguém? Sem entender a complexa relação cantada por Alex Turner, desejei com todo o meu ser ter alguém assim. Só queria que alguém que se sentisse tão adulto quanto eu, que gostasse de mim desta maneira confusa e profunda. Agora já sou crescida. Já tive amores e já tive desgostos. Senti tudo o que 505 publicita, todos os sentimentos próprios de uma jovem adulta. Então, como é possível que, ainda hoje, esta música satisfaça alguma coisa em mim? Desta vez, já não é o desejo por uma vida adulta. A história que os Arctic Monkeys cantam já não é tão bonita como me parecia há uns anos atrás. Mas há algo de nostálgico e de arrebatador nos versos de 505, especialmente no but I crumble completely when you cry. Quando conduzo (sim, já sou assim tão crescida) faço questão de ligar a minha playlist ao carro. Não suporto a ideia de deixar as minhas fantasias interiores nas mãos das estações de rádio. Por mais alterações que sofra a minha seleção musical, é garantido que 505 vai estar na lista. Uma das melhores coisas que ser adulta me deu é poder conduzir – tal como eu imaginava. Quando estou no carro sozinha tenho total liberdade de sentir, e tiro partido destes momentos com as músicas que melhor se adequam ao mood. Nesta fase da minha vida, 505 ganhou uma plasticidade tal que se encaixa sempre nas minhas necessidades. De alguma forma que não compreendo, ainda me faz sentir tão apaixonada por uma relação entre dois estranhos como quando tinha 14 anos. Por mais sádico que possa ser, a realidade é que ouvir esta música me traz conforto ao conseguir replicar o sentimento de inadequação de uma adolescente. Talvez me tenha habituado tanto a ele que se tornou o meu lugar seguro, mas que, sem ser seguro, é acolhedor e familiar. Passei a minha infância a querer ser adulta. Mas não, não me arrependo. Nunca poderia ter sido verdadeiramente uma criança, porque nunca me senti como uma. Maturidade era, provavelmente, a palavra que mais gostava de ouvir – fazia-me sentir mais crescida, mais eu. Mas hoje tenho 22 anos, e maturidade já não é um elogio – é um requisito. Talvez seja por isso que isto de ser adulto me sai tão naturalmente.
João Oliveira, Diretor de Arte
Dezembro de 1996, quatro amigos, um Opel Corsa, algumas cassetes no porta luvas e uma enorme excitação pela primeira viagem para fora de Portugal. A nossa Route 66 estava decidida: 550 km até Cádiz, Espanha. No dia da partida, uma madrugada fria e nebulosa, a poucos minutos do sol nascer, o carro cheio de malas e com o mapa na mão, no que parecia um cenário quase cinematográfico, só faltava uma coisa muito importante, a escolha da música que ia dar início a essa jornada. No meio de muitas bandas, entre as quais Nirvana, Pearl Jam, The Smashing Pumpkins, Portished, Tindersticks, decidimos que a escolha tinha de ser portuguesa. A eleita foi uma cassete com um mix de músicas de Sérgio Godinho, e jamais imaginaríamos que ao colocá-la no rádio nunca mais a iríamos tirar, pois as letras e a sonoridade eram perfeitas. Não conseguíamos parar de cantar. Tornou-se na banda sonora daquela inesquecível viagem.
Larissa Marinho, Editora de Moda
Tenho muitas músicas que me marcaram e todas elas acredito que me marcaram não necessariamente por estarem ligadas a um momento específico da minha vida, mas sim porque ainda hoje, toda vez que as ouço, provocam em mim as mesmas reações que tive quando as ouvi pela primeira vez. Acredito que a música deve e tem o poder de provocar emoções profundas e nos tocar de maneira que, se calhar, nenhum outro tipo de arte faz. Música é catarse para quem faz, para quem toca, e para quem ouve. E posso dizer que há pelo menos quatro músicas que tocam a minha alma. A primeira é Postcards From Italy, de Beirut, a segunda é Adagietto - 5, da Sinfonia de Mahler, a terceira é Drão, de Gilberto Gil e a quarta é Is this Love, de Bob Marley.
Leonor Centeno, Diretora de Projectos Especiais LightHouse
Uma das músicas da minha vida é MMMBop, dos Hanson, e a do genérico da série Marés Vivas. As minhas primas adolescentes, eu e os meus irmãos, uns bebés, passávamos as férias de verão todos juntos. As minhas primas ligavam a MTV na sala onde nós estávamos a brincar e apareciam os videoclipes dos Hanson. Nós crescemos com essas músicas. Lembro-me de estar no berço aos saltos a cantar MMMBop, sem sequer saber falar português corretamente. Num verão do início dos anos 90, a minha irmã magoou-se e começou a sangrar do nariz. Não parava de chorar por nada, até que surgiram os primeiros acordes de MMMBop, e de repente ela começou a rir. Sempre que ouço essa música volto a esses verões incríveis que passámos juntos e àquela vez em que nos perguntaram se pertencíamos a uma seita porque íamos todos com t-shirts dos Hanson. Essa era a altura em que Marés Vivas passava na televisão, e eu e os meus irmãos, ainda crianças, assistíamos aos episódios. Eu não conseguia acompanhar as legendas, mas adorava a música. Mais recentemente, quando fui viver sozinha para a Figueira da Foz, a banda sonora que me acompanhava era A Casinha e Semente, de Armandinho. Foram anos muito tranquilos e felizes, muito nessa vibe reggae. Outra música que fez parte dessa época é Chuva, de Mariza, foi uma das canções que tentei aprender a tocar na viola, e que por mais que insistisse nunca me saiu, mas que permanece uma das que me transporta para esses tempos incrivelmente felizes. Quando vivi em Angola, a música que ouvia e a música que ouvia em loop era Home, do Michael Bublé, enquanto desenhava aviões a aterrar em Portugal e a contar os dias que faltavam para regressar. Em Madrid, El Anillo, de Jennifer Lopez, Madre Tierra (Oye), de Chayanne, Robarte un Beso, de Carlos Vives e Sebastián Yatra, eram as músicas que as minha colegas de casa punham aos altos berros enquanto nos vestíamos e pintávamos para sairmos à noite. Não consigo escolher só uma música porque cada vida que vivo tem a sua banda sonora, e a minha playlist é uma salganhada de todos estes momentos.
Margarida Oliveira, Estagiária Online
Desnecessário será dizer a dificuldade em nomear a “música da minha vida”. Fiquei tentada a escolher a banda sonora que imagino enquanto me passeio pelas ruas do Porto, Françoise Hardy Tous les garçon et les filles ou Carla Bruni Le plus beau du quartier - sonoridade feminina francesa da mulher parisiense que tropeçou no passeio e continuou a andar. Harry Styles, Tyler The Creator, ODIE e Lana Del Rey têm-me acompanhado na mudança de estação, e são o que quero ouvir todos os finais de tarde de uma sexta feira quente, mas a música da minha vida dificilmente será a música que ouço com mais frequência, tão pouco a minha vida será o mais frequente tema em que penso. Por motivos de auto-preservação, para viver a minha vida, penso nela o menos possível. Água de Beber de Astrud Gilberto e Tom Jobim, Carta ao Tom 74 de Vinícius de Moraes, são músicas que me preenchem absolutamente, como que refeições para a alma. Opto por escolher antes a música que me esvazia: Verdes Anos de Carlos Paredes. Ouço Verdes Anos e sinto a necessidade de chorar lágrimas que não são minhas, como que uma emoção herdada dos meus antepassados.
Mariana Matos, Designer Gráfica
Vou começar a minha história com uma pequena confissão. Sinto-me embaraçada. Vasculhei todas as minhas memórias, pelo menos as poucas que ainda tenho neste cérebro de peixe, para encontrar uma música que me tenha marcado sem cair nos clichés mundanos dos desamores juvenis. Estado da missão: falhada. Por isso, vamos simplesmente cingir-nos aos factos: 2009, ensino secundário e Broken-Hearted Girl, da Beyoncé. Que mais se pode pedir… “You're the only one I wish I could forget / The only one I love to not forgive / And though you break my heart / You're the only one”. Agora, em retrospetiva, percebo que talvez tenha lidado com a situação como uma pequena drama queen, mas a verdade é que para uma adolescente que estava a lidar com o seu primeiro coração partido… coff coff... estilhaçado, e cantar a música a plenos pulmões enquanto derramava um mar de lágrimas me pareceu bastante catártico. Se sarou as feridas do coração? Hum... talvez. Se durante mais de dez anos não consegui ouvir a dita música porque me lembrava do passado? Mais do que certo.
Mariana Silva, Estagiária
Comecei por escrever este texto ao som de River Flows in You, do talentoso pianista Yiruma. Missão falhada. Começava uma, duas, três vezes e quando dava por mim já estava de corpo e alma focada em cada nota da melodia que dançava entre os meus ouvidos. O texto? Nem vê-lo. Não sei quem tem a autoridade para classificar uma experiência paranormal, mas, se eu a tivesse, tocar um instrumento como piano iria certamente para o topo da lista. Escrevo agora assim sabendo que a minha jornada pela música começou curiosamente tarde. Enquanto criança, o meu pai procurou educar-me para os clássicos, isto é, Scorpions – clássicos na visão dele – e eu, como boa criança que era, recusava com um sorriso e corria para as minhas Barbies. Penso que até lhe cheguei a dizer que não gostava de música. Hoje, já não me revejo em tal pensamento. “Do you like breathing?” (leia-se, “Gostas de respirar?”) foi a resposta de Emma Roberts quando questionada se gostava de música, no filme It’s Kind of a Funny Story. E foi algo que também fui aprendendo ao longo da minha (ainda) curta existência nesta Terra. A música não é algo de que se gosta. É algo que acontece, quase como se fosse inevitável. E River Flows in You aconteceu em mim. Talvez tenha sido da minha tenra idade, parece que tudo tem mais impacto quando temos 15 anos; porém, algo mudou em mim quando vi as mãos do meu professor de piano a percorrer o teclado como se estivesse a escrever poesia. Porque se enquanto criança rejeitava música, na adolescência dediquei-me a fazê-la. Toquei piano durante quase uma mão cheia de anos e afeiçoei-me ao teclado como se de uma segunda casa se tratasse. Comecei devagar. Alguns estudos de Mozart para ali. O Tema da Pantera Cor-de-Rosa para acolá. Até que, um dia, ouvi as palavras que ainda hoje consigo transcrever: “não costumo dar esta música tão cedo, mas sinto que estás preparada”. Lá estava ela. Foi amor ao primeiro acorde. É difícil descrever ao certo o que senti da primeira vez que ouvi a melodia de Yiruma. Meras palavras não materializam emoções, mas vou dedicar as próximas linhas a tentar fazê-lo. Ecoa a primeira nota. O meu coração pára de bater para que nenhum som interrompa o que se seguirá. Sinto um arrepio. Dois arrepios. A pulsação aumenta, acompanhando o crescendo da melodia. Lentamente, cada nota vai encontrando o seu lugar em mim. Uma pausa... E um turbilhão. Já não sou só eu. Sou e a música. Eu sou a música. Sinto o som no meu interior, a percorrer cada parte do meu corpo. Estou livre. Sou livre. Corre um rio de sentimentos em mim. Até que pára tudo novamente. Retorno a ganhar o controlo da minha respiração. A pulsação regressa a valores humanos. E a música acaba. Sinto-me de ressaca. “Alexa, play River Flows in You again.” Poderia terminar o texto que vos escrevo com a história de como tentei dominar esta melodia com as minhas próprias mãos, mas é uma história triste e não queria acabar numa nota negativa (pun intended). Posso dizer que, passados uns meses, desisti de tocar piano. Há coisas demasiado sagradas para serem profanadas. Contudo, a obra brilhante de Yiruma nunca deixou de viver em mim. Literalmente. Cada nota encontrou o seu lugar no meu sistema nervoso, pois os mesmos sentimentos voltam à superfície sempre que coloco a música a tocar. São as pequenas coisas que nos mantêm vivos. Respirar, sim. Mas, acima de tudo, a música. A música.
Marta Castro, Advertisement and Events Manager
Adoro música e defendo que esta tem o poder de influenciar a nossa vida e determinar estados de espíritos. No entanto, não considero que tenha a música ou o álbum da minha vida. Pelo menos para já. Apesar de não serem os meus artistas preferidos, adoro ouvir Bryan Adams ou Bon Jovi, porque me remetem sempre às viagens de carro com a minha avó, ou as idas e vindas da escola, a cantarmos com todo o ar que tínhamos nos pulmões – eu e os meus primos – Summer of 69, por exemplo, visto que eram as únicas cassetes que existiam no carro. No extremo oposto, tenho de confessar que a música Ao Limite Eu Vou, das Nonstop, ainda hoje me faz dançar e fazer toda uma coreografia que fazia literalmente todos os dias no colégio com as minhas amigas – sim, levávamos connosco, para a escola, um rádio e CD's e dançávamos os intervalos todos!
Paula Bento, Assistente de Redação
Estávamos em 1991, foi o meu ano de descobertas... Tirei a carta, entrei no Instituto Superior de Línguas e Administração de Lisboa, comecei a trabalhar em part-time e... apaixonei-me, pela primeira vez! Ainda não havia telemóveis nem Internet, como há hoje... Era um amor alimentado por carta (podemos dizer “à maneira antiga”), mas também em idas ao cinema, à praia, em viagens de barco até à outra margem do rio enquanto ouvíamos muita música dos anos 80 e 90. Nessa altura os The Cure estavam no auge da carreira e a música Love Song marcou para sempre o que seria o hino daquele primeiro amor. Ainda hoje, quando ouço Love Song, parece que tudo volta àqueles maravilhosos anos 90.
Rui Matos, Jornalista
Não me lembro da última vez que me desafiaram a partilhar algo tão pessoal. Ainda que hoje se partilhe tudo e mais um par de botas, dizer em viva voz a música da nossa vida é, de longe, a coisa mais pessoal que podemos partilhar – pelo menos no meu caso. Mas já que estou disposto a dar a mão à palmatória no que à vulnerabilidade diz respeito, aqui vai. Pensei durante uma semana qual seria a música da minha. Não cheguei a conclusão nenhuma. No entanto, fiquei indeciso entre duas músicas, das 147 que tenho guardadas como “favoritas” na minha conta de Spotify. A primeira I Want You To Love Me, da inigualável Fiona Apple. É recente, tem pouco mais de um ano, mas é, com toda a certeza, a música que mais ouvi nos últimos meses. “And when I go / All my particles disband and disperse / And I’ll be back in the pulse”, atira Fiona de forma assertiva. Estes versos, em particular, são uma verdadeira declaração poética, onde a cantora admite não ter medo da própria morte. Assim como a norte-americana, acredito que quando a vida aqui na Terra tiver um fim vamos fazer parte de outro mundo, uma vez que as nossas moléculas voltam à natureza para constituir outros seres. A segunda, num oposto a este esoterismo Appliano, está Madrugada Sem Sono, de Gisela João, uma música carregada de tristeza, mágoa e sofrimento. Por outras palavras, um fado tradicionalmente português, com solos de guitarra portuguesa que arrepiam. “Andei dum corpo a outro corpo / Só p’ra me esquecer de ti” e “De madrugada sem sono / Sem luz, nem amor, nem lei / Mordi os brancos lençóis / Tive saudades, chorei.” Estes versos são a representação mais clara de uns tenros 25 anos, este meio termo chato com questões que não mais acabam, com infortúnios amorosos que podem fazer mossa, com idealizações megalómanas. Quando pensei no fim da inocência, pensei que seria algo ao estilo “o Pai Natal afinal não existe”, mas é mais aterrador, é intenso e não é bonito. Deixei de fora músicas que ouço vezes e vezes sem conta num loop compulsivo, mas estas duas músicas são, hoje, as músicas da minha vida. Amanhã, isso são outros quinhentos.
Sara Andrade, Diretora de Novos Projetos Editoriais LightHouse
Dificilmente conseguiria, ou alguma vez conseguirei, reduzir a minha vida a uma música, até porque a vida tem muitas vidas e todas elas têm bandas sonoras diferentes. A minha tem, certamente. Mas podemos rotular musicalmente um momento determinante: no caso, a primeira vez que ouvi Drive, dos Incubus – apanhei o videoclipe na MTV (na altura, a MTV ainda era um canal de música) –, foi um turning point em termos de gosto musical, de estilo, de interesses. Também pode ter sido só a coincidência de ter chegado aos 18 anos, mas o facto é que a música continua a rodar nas minhas playlists. Aliás, o álbum da banda continua a tocar em loop no meu leitor de CD’s – esse aparelho vintage – do carro. Há validação maior do que continuar a ouvi-la, mais de 20 anos depois?
Artigo originalmente publicado na edição The Music Issue da Vogue Portugal, de junho 2021.
Most popular
.png)
.png)
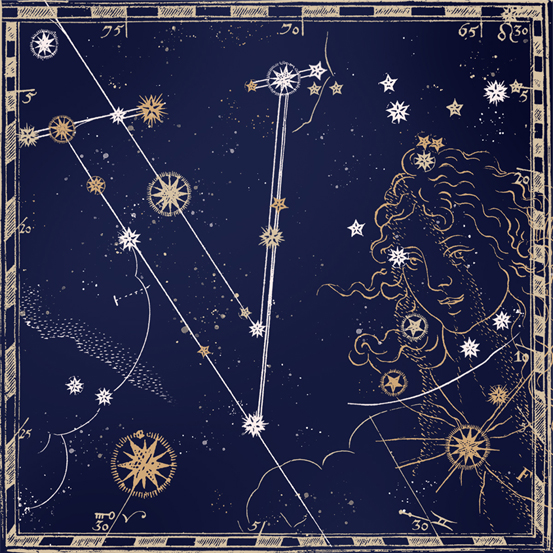
Relacionados



.jpg)

