O punk não está morto. E não está mesmo. Este e outros movimentos underground vivem, sem sabermos, no nosso armário. Os clássicos do guarda-roupa de hoje já foram as peças de rebelião de ontem, mas quando já não é possível nadar contra a corrente, mais vale deixarmo-nos levar por ela.
O punk não está morto. E não está mesmo. Este e outros movimentos underground vivem, sem sabermos, no nosso armário. Os clássicos do guarda-roupa de hoje já foram as peças de rebelião de ontem, mas quando já não é possível nadar contra a corrente, mais vale deixarmo-nos levar por ela.
"Do que mais te arrependes na vida?” Sempre que esta pergunta vem ao de cima, procuram-se respostas profundas, de significado forte, que obrigam a uma reflexão maior que nós. Todavia, quando tal pergunta me é direcionada, torna-se impossível não fazer uma retrospetiva por todas as peças de roupa e acessórios que infelizmente ocuparam lugar no meu armário. E digo, sem vergonha, que os meus maiores arrependimentos são pedaços de tecido. Há uma peça de calçado em particular que preenche na perfeição a categoria de arrependimento puro e duro. Antes que se dê espaço para julgamentos, realcemos que tal escolha foi feita no coração da minha adolescência e, como tal, as más escolhas justificam-se sozinhas. Mas falo de uns ténis em padrão leopardo rosa fluorescente. Não há uma única palavra nesta última frase que seja motivo de orgulho, muito menos quando as mesmas são proferidas em conjunto. Por isso se impõe uma questão maior: porquê? No fundo, porque mais ninguém tinha aqueles ténis. Na verdade, mais ninguém os queria ter. E se isto não é uma representação do underground no seu sentido cultural, que seja uma prova de que tal design nunca deveria ter visto a luz do dia.
A verdade é que a Moda do presente século está mais democratizada do que nunca. Excluindo o valiosíssimo papel de Joan Rivers enquanto fashion police, quase já não existem regras relativamente ao que se pode ou não usar, seja pelo género, classe social ou estatuto que representamos. Vivemos numa cultura cada vez mais globalizada – que é como quem diz, uniformizada – em que as próprias referências culturais transmitidas através da Moda deixam de ser símbolos de identidade para se tornarem tendências acessíveis à população global. Porém, nem sempre foi assim. A história da Moda está repleta de peças com significado. Antes das cargo pants camufladas marcarem presença nos armários comuns, estas eram parte de um uniforme militar e, por esse motivo, estavam destinadas a grupos profissionais específicos. E os quimonos nem sempre foram uma peça de roupa possível de ser encontrada numa qualquer cadeia de fast fashion. Estes espelhavam uma forte simbologia cultural e identitária do Japão, cujas cores poderiam remeter a uma ligação familiar ou política representativa do seu utilizador. Tal como nós, cada peça de roupa possui uma história única. Uma história que merece ser contada. Porque se hoje toda a gente tem alguns destes clássicos no seu armário, sabemos que nem sempre foi assim.
Para além das já mencionadas cargo pants, contam-se vários clássicos da Moda que viram o seu começo na indústria enquanto parte de um uniforme militar. Um deles é o famoso casaco de cabedal. Foi na Primeira Guerra Mundial que esta peça teve a sua estreia, ao ser usada por aviadores alemães. Rapidamente, as vantagens do design, em particular a sua resistência perante condições climatéricas adversas e acidentes, chegaram ao conhecimento da empresa Beck Industries, uma distribuidora da Harley-Davidson que, em 1928, pediu a Irving Schott para desenhar a sua própria versão da peça. Intitulado perfecto, em homenagem à sua marca de cigarros favorita, o casaco de Schott não era muito diferente do que tinha sido usado na Primeira Guerra Mundial. A única alteração estava no comprimento – era mais curto – e os botões que fechavam a peça tinham sido substituídos por um fecho. Todavia, é preciso revisitar os tempos de guerra para perceber como o casaco de cabedal se tornou num must-have do tempo presente. O modelo perfecto de Irving Schott é um marco importante da cultura motard, mas foram os exércitos da Segunda Guerra Mundial que mais influenciaram a sua utilização na sociedade comum. No campo de batalha, esta peça era vista como um símbolo de poder. O exército norte-americano possuía o seu próprio modelo da peça, o casaco A-2, mas eram os alemães quem dominava o uso do material. Na verdade, as diversas divisões da Schutzstaffel (SS), incluindo o próprio Hitler e outros altos comandos nazis, tinham uma versão deste casaco no seu uniforme. Mas esta é uma daquelas informações que a história enterra – e que Hollywood, talvez sem querer, volta a trazer ao de cima. Em 1957, no filme Night Passage, James Stewart vê no seu guarda-roupa um casaco de cabedal que alegadamente fez parte do uniforme norte-americano durante a Segunda Grande Guerra. A este seguem-se as mais variadas referências de personagens do cinema conhecidas pelo uso desta peça, desde a versão em tons castanhos de Harrison Ford em Indiana Jones até ao inesquecível look de John Travolta em Grease. De Hollywood ao nosso armário, foi uma questão de tempo.
Talvez o período relativo à Primeira Guerra Mundial seja frutífero em histórias, mas a realidade é que também outro essencial dos tempos modernos nasce no seu seio, em 1916. A fábrica Converse Rubber Company, dedicada a produzir “qualquer coisa que precisasse de borracha”, como dizia o seu fundador Marquis Mills Converse, verificava, todos os verões, uma quebra nas encomendas e, para preencher tal lacuna, criou umas sapatilhas pensadas para a prática desportiva. O seu nome não surpreenderá ninguém, mas a forma como este calçado chegou ao nosso armário talvez. Devido ao seu formato maleável, as Converse All Star começaram por ser o calçado dos basquetebolistas e mantiveram-se neste meio até ao final da década de 50, quando novas opções em cabedal invadiram o mercado. Mas nem tal acontecimento impediria esta marca de ascender ao sucesso. Em parte, graças a Chuck Taylor. Conhecido hoje por ter o seu nome marcado no logótipo dos famosos ténis, Taylor começou por ser o treinador da equipa de basquetebol que estava associada à Converse. Até porque, na origem desta modalidade, era comum as marcas publicitarem os seus produtos desportivos através da criação da sua própria equipa. Todavia, Chuck Taylor e a sua personalidade afável sempre se revelaram a verdadeira estrela do jogo - e, por consequência, um motor de vendas para a empresa que representava. Por isso, o seu nome foi vivendo junto dos aclamados ténis, mesmo quando estes passaram do campo para as bancadas, com a criação das Converse All Star de cano baixo. Na verdade, a marca introduziu uma gama de cores ao seu calçado precisamente para que os espectadores pudessem apoiar a sua equipa favorita, combinando os tons das suas sapatilhas com o equipamento da mesma. Por muito que as famosas Converse All Star se tenham massificado, é impossível dissociar a marca do meio desportivo, nicho onde se moverem praticamente em exclusivo durante anos a fio. Até porque, não importa o contexto em que sejam usadas, Elizabeth Semmelhack, curadora sénior do Bata Shoe Museum, afirma que as Converse All Star não são para ser usadas no seu estado “branco e limpo”, pois são uns ténis para “usares o que tens e usares até ao seu fim”.
Por ser uma forma de expressão pessoal, é ainda possível encontrar momentos na História da Moda em que nascem estilos que se afirmam como “anti-estilos”. Por outras palavras, movimentos centrados na crítica (social, económica, insira o que quiser aqui) e que o fazem, de certa forma, através da roupa que vestem. Curiosamente, também daqui emergem alguns dos must-have do nosso armário atual, como é o caso das skinny jeans. Foi o seu estilo minimalista e gender-neutral que fez desta peça algo underground no seu começo. Durante a década de 50, as calças (extremamente) justas representavam um símbolo do rock e da bad boy culture, com James Dean, Marlon Brando e Elvis Presley no leme da sua popularização. Contudo, nem só de ícones masculinos se fez a simbologia das calças de ganga. Os anos 60 trouxeram a subcultura Mod, um movimento modernista associado à cena do jazz londrino, e que levou as skinny jeans até ao sexo feminino. Seguiu-se a sua adoção pelo movimento punk, nos anos 80, e pela cultura emo, com a entrada do novo século. De subcultura em subcultura foi saltando esta peça de roupa, até chegar às mãos de Hedi Slimane que, enquanto diretor criativo da Dior Homme, elevou as skinny jeans ao estatuto de quase omnipresente. Não é preciso uma memória de longa duração para nos relembrarmos de um momento na História em que este modelo de calças de ganga cobria a maior parte do nosso armário (e do armário da restante população). Se bem que, no momento presente, o que mais se verifica é o movimento contrário: do estrelato para o lado negro da indústria. Rest in peace, skinny jeans. Ou será que o tempo ditará “skinny jeans are dead. Long live skinny jeans”?
E por falar em vidas longas, a próxima peça vê a sua primeira aparição no ano de 2130 a.C.. Sob o nome de shendit, este era uma pedaço de tecido usado em redor das ancas, maioritariamente pelos elementos masculinos do povo egípcio. Falamos da saia curta ou, como hoje a conhecemos, da minissaia. A titularidade da sua criação na era moderna, no entanto, divide-se entre dois grandes nomes da indústria da Moda: a britânica Mary Quant e o francês André Courrèges. Hoje, a generalidade do setor reconhece em Quant a validade de tal título, até porque lendas urbanas afirmam que a designação minissaia advém do carro favorito da designer, o Mini Cooper. Para além disso, é difícil negar como a cena londrina dos anos 60 (ou swinging sixties, como são hoje conhecidos) representa o berço ideal para o nascimento de uma peça tão revolucionária. No seu início, a minissaia revelou ser um dos maiores símbolos da liberação sexual feminina, tendo coincidido com outros momentos cruciais na luta pela igualdade de género, como a criação da pílula. E tal como muitas das peças que desafiaram normas de género, o lado mais conservador da população começou por associar a minissaia de Quant à prostituição e, claro está, à bruxaria. Até Coco Chanel se referiu à peça de roupa como algo “horrível”. Porém, a única magia que a minissaia revelou foi a sua capacidade em persistir no tempo. Na década de 60, esta peça tão controversa acabou por ser popularizada por celebridades como Twiggy, Brigitte Bardot ou Jackie Kennedy. Era o início do fim de uma era marcada pelo conservadorismo e pela modéstia, principalmente no que tocava ao guarda-roupa feminino. Assim, uma peça que outrora havia sido um símbolo de revolta e progressão tornou-se um staple dos looks do quotidiano. A minissaia atingiu o topo da sua popularidade nos anos 90, quando marcas como a Prada e a Dolce & Gabbana criaram coleções inteiras em redor do famoso design que começou por ser um puro ato de rebeldia feminina durante os swinging sixties.
Há peças underground pelo seu simbolismo cultural, mas também há peças destinadas à categoria de undergarment (entenda-se, roupa interior) que entram na corrente popular por verem a luz do dia. Dentro desta nota, saiba que se está neste momento a usar uma t-shirt, tal significaria no final do século XIX o mesmo que usar somente um sutiã nos dias de hoje. Groundbreaking, mas não de todo inimaginável. Ainda assim, o design desta peça de roupa não poderia ter nascido num meio mais popular. Durante os últimos anos do século XIX, os trabalhadores fabris cortavam os seus macacões pela metade para que pudessem usar a parte de cima como uma camada interior de proteção contra o frio. Poucos anos depois, inicia-se a manufatura industrial desta peça, destinada ao uniforme militar norte-americano da Primeira Guerra Mundial para cumprir o mesmo propósito prático. Ainda assim, o nome t-shirt só seria usado pela primeira vez em 1920, assinado por F. Scott Fitzgerald no seu livro This Side of Paradise. E porquê t-shirt? Porque esta era uma camisola em forma de T. Uma designação simples no seu núcleo, mas que socialmente se encontrava carregada de tabus. Esta era uma peça para ser escondida, não mostrada. Por esse motivo, quando Marlon Brando aparece em A Streetcar Named Desire envergando um look composto por uma t-shirt no grande ecrã, tal só poderia ser sinal de que o mundo estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. A partir deste histórico momento para a Moda, utilizar uma t-shirt tornou-se igualmente num sinal de rebelião, ou não teria sido esta a imagem de marca de James Dean em Rebel Without a Cause. Contudo, este pedaço de tecido ainda não passava de uma simples tela em branco, com capacidade para reunir em si mesma um simbolismo ainda maior. Acredita-se que a primeira graphic tee tenha sido usada no seio de uma campanha política nos Estados Unidos da América na década de 50, mas foi com a guerra do Vietname que se tornou num forte veículo político. Através desta peça, passavam-se mensagens de crítica social e política, com texto ou ilustrações, algo que funcionou como um motor na criação da liberdade que agora se vê bem presente no nosso armário. Para o desfile de primavera/verão de 2017, Maria Grazia Chiuri fez desfilar em Dior uma t-shirt branca com a frase “We Should All Be Feminists” e assim se conta o fim da graphic tee com uma mensagem política enquanto algo underground. Um fim, de certa forma, positivo, porque se a Moda é um veículo de expressão pessoal, a popularização de tal liberdade através da roupa era uma necessidade há muito à espera de ser atendida.
Terminemos com a junção de mais uma referência militar à história coletiva do vestuário. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados britânicos suportaram momentos de intenso frio e de intenso calor, necessitando de sapatos resistentes como parte do seu uniforme. A solução foi apostar em calçado com sola crepe. E tal deve ter resultado, pois nem quando os soldados regressaram ao Reino Unido quiseram largar o calçado, usando-o nas famosas cenas de dança do pós-guerra. A empresa George Cox Footwear reconheceu o potencial de tais sapatos, começando a fabricar aquilo que hoje conhecemos como creepers. A origem do nome é incerta. Não se sabe se está relacionado com as solas em crepe, ou com o facto de terem sido popularizadas ao som do hit de 1953 The Creep, de Ken Mackintosh. Todavia, sabe-se que foram os Teddy Boys a subcultura pioneira na sua adoção. Mas o verdadeiro período das creepers enquanto símbolo do underground tem como responsável Vivienne Westwood. A designer, juntamente com Malcolm McLaren, abriu em 1970 uma loja que marcaria para sempre o movimento punk londrino. Nas décadas que se seguiram, os famosos sapatos de sola crepe representavam um dos maiores símbolos de rebelião enquanto parte de subculturas alternativas. Hoje, o ideal de rebelião mantém-se, mas é impossível negar como o sapato se viu apropriado pelo mainstream nos últimos anos. De Prada a Chanel, passando pela linha criada por Rihanna para a Puma em 2017, todas as grandes marcas revelam a sua própria versão deste modelo de sapatos que, durante muito anos, marcou o estilo da anti-Moda. Como dissemos, o punk não está morto. Ele, e tantas outras referências inerentes a culturas outrora underground, ganham espaço no armário comum, mas nunca perderão a força de quem tem uma história para contar.
Artigo originalmente publicado na edição de outubro de 2021 da Vogue Portugal.
Most popular
.png)
.png)
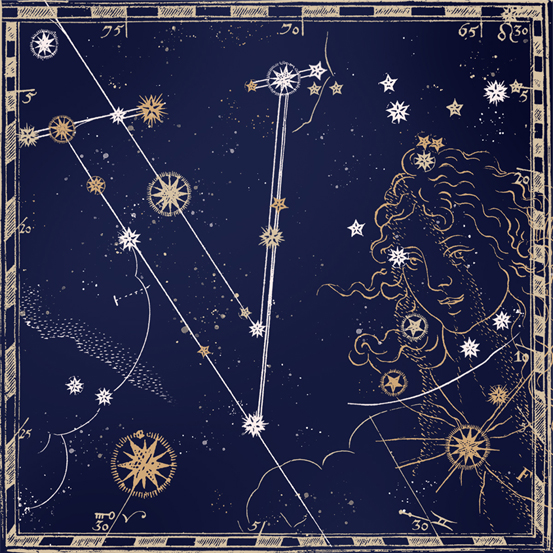
Relacionados



.jpg)

