Artwork de Miguel Canhoto.
Aviso: o que se segue é um elogio do kitsch.
Durante o final de 2023, o TikTok viu-se invadido por uma “tendência” (carregue-se nas aspas, porque esta trend tinha tanto de pateta como de irrelevante) que consistia em percorrer mansões ao som da música Murder on the Dancefloor, de Sophie Ellis-Bextor, à semelhança do que o protagonista de Saltburn fazia no final do badalado filme — ou melhor, mais ou menos à semelhança, já Oliver Quick (Barry Keoghan) estava nu, enquanto os burgueses que pegaram no telefone e usaram #viral ou #foryou para garantir a validação de uns quantos desconhecidos estavam vestidos, a anos-luz de recriar o verdadeiro significado da cena original. Mas nada disso interessa para aqui. O curioso é que essa brincadeira não seria possível se alguém, há mais ou menos dez anos, não tivesse decidido que as coisas com um certo aspeto kitsch eram, afinal de contas, interessantes. Raras. Valiosas, até. Depois de décadas a ignorar as camas de ferro forjado que a nossa avó nos queria oferecer (e que agora custam para cima de três dígitos em sites de cariz duvidoso), as colchas herdadas da bisavó paterna, os lustres resgatados da última partilha de bens, os bibelots que a nossa tia avó nos tentava impingir, e todos os demais objetos que carregassem o peso do passado — ou de uma sentimentalidade pacóvia que queríamos evitar a todo o custo — o século XXI deixou-nos fazer as pazes com os tempos que já lá vão. Exagero? Nenhum dos internautas que agora ostenta, com vaidade, as suas casas, muitas delas carregadas de bugigangas que fariam inveja às melhores bancas da Feira da Ladra, seria capaz de convidar os amigos para estudar na sua sala de jantar com cadeirões de veludo e mesas de madeira escura durante os gloriosos anos do minimalismo (não os respeitantes ao nascimento do minimalismo enquanto movimento artístico, na década de 1960, mas mais tarde, nos anos 90). Qualquer revista de decoração da época confirmará isso mesmo: páginas e páginas de uma estética clean, despojada, antissética, onde qualquer “extra” era visto com maus olhos. O que seria, numa altura em que menos era mesmo menos, apregoar o gosto pelo vulgar, barato e popular? Seria kitsch. Mas o kitsch era, então, filho de um Deus menor.
“Futilidades baratas e desprovidas de gosto, enfeitadas com atributos artísticos; presunção ridícula com chavões diletantes que correspondem à cultura do merceeiro; coisa que não quer dizer nada e nada exige ao pensamento; adorno no convívio pacato do burguês à mesa do café; […] bluff que quer fazer bluff ao coração e faz verter lágrimas como uma cebola; […] em suma, pechisbeque que especula com a alegria infantil por aquilo que brilha.” É esta a definição que Fritz Karpfen, historiador de arte, apresenta logo na abertura de Kitsch: Um Estudo sobre a Degenerescência da Arte, publicado em 1925 e editado em Portugal pela Antígona. O ensaio de Karpfen foi uma das primeiras grandes reflexões sobre o kitsch. Nele, o autor não se coibe de o caracterizar de “mesquinho, viscoso e repugnante”, como se de uma epidemia de mau gosto de tratasse. Uma epidemia que chegava a 90% da população, aquela que não evitava sucumbir à cópia, ao desenho fácil, à “veneração beata de tudo o que é antigo”, à insuportável “mentira artística” e à apreciação balofa de tudo o que era popular (mais tarde acabaríamos por lhe chamar “comercial”). O kitsch, esse símbolo aparentemente inocente da sociedade de consumo — que se veste de cordeiro para alcançar o lucro, que oferece bugigangas inúteis a ocidentais crédulos que deixam rios de dinheiro em lojas de souvenirs, é de facto esperto e manipulador, mas isso não o torna menos relevante. Nem menos cativante. No livro Kitsch and Art (1996), Tomáš Kulka faz o kitsch depender da reunião de três condições: o tema é belo ou fortemente imbuído de emoção; o tema é de identificação fácil e imediata; a obra não enriquece ou aprofunda o nosso entendimento do tema. Em suma, o kitsch é sentimentalão (e arrisca-se, sem medos, a ser foleiro), não pretende fingir que sabe o que não sabe, não se apresenta com segundas intenções. Derivado do verbo alemão kitschen, “vender uma coisa em vez de outra”, kitsch está invariavelmente associado a um tipo de sensibilidade menor, ao gosto maioritário da população não erudita. A população que tem O Menino da Lágrima na parede do corredor.
Há pelo menos cinquenta versões, mas os originais, esses, são vinte e sete. O Menino da Lágrima é um fenómeno de massas que atacou Portugal nos anos 70 e 80 do século passado, quando quase todas as casas tinham uma réplica do famoso quadro do rapaz a chorar. Ninguém sabe muito bem explicar o fenómeno (quem é que foi o primeiro a comprar esta peça? Quem é que disse que era “giro”? Quem é que aconselhou famílias inteiras a terem o mesmo quadro?), a verdade é que era difícil entrar numa habitação e não dar de caras com a obra de Giovanni Bragolin (ou Bruno Amadio, ou Franchot Seville, ou Bragolin ou J. Bragolin). Reza a lenda que o italiano se cruzou com uma criança, Don Bonillo, cuja família tinha morrido num incêndio, e ficou de tal modo incomodado com a sua tristeza que decidiu acolhê-lo no seu atelier. Ele estava feliz, a vida corria-lhe bem. Só que o padre da paróquia logo o aconselhou a livrar-se do miúdo, já que este carregava consigo má sorte — chamavam-lhe, inclusivamente, El Diablo. O pintor ignorou os avisos. Até que um dia o seu atelier ardeu de alto a baixo. As pessoas apontaram o dedo ao miúdo. Bragolin perdeu a cabeça e, no meio da histeria, seguiu a opinião da manada. Assustado, o rapaz fugiu e nunca mais ninguém o viu. Começaram a correr rumores de que a sua maldição tinha passado para o artista, que deixou de conseguir vender as suas obras. Esta é a explicação menos macabra. A outra, oferecida pelo próprio Bragolin, é que a série Crying Boys foi o resultado de um pacto bem sucedido que fez com o diabo, para ter sucesso e fama imediata. Qualquer que seja a origem, O Menino da Lágrima foi o ícone de uma geração (parece pavoroso mas é verdade), o símbolo de uma época que não volta mais — ninguém sabia muito bem porque é que o tinha em casa, e isso não importava. Afinal de contas, ninguém ia comentar “porque é que escolheste isso para o escritório?” na nossa story de Instagram porque não havia Instagram, e ninguém questionava as escolhas alheias. A decoração era uma questão de gosto, não de razão, e O Menino da Lágrima era o mais próximo que havia da melancolia causada por anos e anos de ditadura, uma espécie de dor partilhada por todos mas nunca discutida. Era um memento mori de tudo o que tinha acabado e de tudo o que ia começar. Claro que isso incomodou as elites defensoras do (bom) gosto e da sofisticação, que começaram a ver nele, e em tudo o que fosse kitsch, uma conotação pejorativa.
Reduzido a cinzas, o kitsch é o pesadelo da década de 1990 e dos primeiros anos do novo milénio, quando tudo devia ser limpo, minimal e simples. Para quem cresceu com a confusão visual dos anos 80, o kitsch é apenas um regresso a casa — uma casa onde havia espaço para candeeiros de lava cor-de-laranja, alcatifas, peças Bordallo Pinheiro que seriam encafuadas num armário até uma entidade estrangeira qualquer nos dizer que, afinal, estávamos perante importantíssimas obras de arte (foi em 2010 que a histórica marca entrou no prestigiado MoMa, em Nova Iorque), naperons bordados pelas avós, cãezinhos de louça e pratinhos que, com orgulho, se traziam das viagens, tudo o que representasse os nossos gostos e a nossa maneira de ser ou de estar, sem receio de ser ou não cool. Essa era, aliás, uma palavra que nem existia no nosso léxico diário. Só quando o papão do cheesy (à letra, “brega”) entrou nas nossas vidas é que começámos a renegar tudo que estivesse relacionado com o kitsch — que rapidamente foi apelidado de “vulgar”, “piroso” e “foleiro.” Passámos a olhar de lado o vizinho que punha o terço no espelho do carro, começámos a fazer juízos de valor sobre o primo que insistia em almoçar aos domingos de fato-de-treino e bolsa de cintura, revirámos os olhos sempre que um colega de trabalho confessava saber uma música pimba de cor, encolhemos os ombros quando, no auge do grunge, a nossa melhor amiga insistia em usar cores alegres. Tornámo-nos uma seca, uns snobs de m****, incomodados com a alegria alheia e com o sorriso fácil. Agora culpamos a tecnologia por todos os males do mundo, mas na verdade fomos nós e a nossa crise de identidade que, na entrada no novo século, demos cabo da fantasia imperfeita em que vivíamos. As pessoas que detestam o kitsch, que tremem perante papéis de parede coloridos e pechisbeques de valor sentimental, são as mesmas que publicam dumps no Instagram altamente cuidados, onde em vez de fotografias esteticamente clean — aquelas que escolheriam há um par de anos — se veem agora still lifes de mesas de almoço/jantar com restos de comida (bónus extra se na imagem se conseguir ver copos de vinho, cinza, bocados de pão, um ou outro guardanapo, tudo coisas que apelam à ideia de “vida a acontecer”), selfies desfocadas, detalhes de livros, revistas, máquinas fotográficas e outros objetos aprazíveis, estrategicamente colocados para parecerem desarrumados, zooms impensáveis de casas de banho repletas de azulejos (o horror!) onde os produtos de beleza que estão “na berra” se esgueiram para dentro de uma torneira de 1973. Ah! Foi preciso tanto para chegar aqui! E, antes que digam, então e a política, então e a religião? Não foram (e são) elas exímias em usar o kitsch para passar mensagens, muitas delas perigosas? Sim. Infelizmente, sim. Mas o perigo de apelar ao extremismo e ao fanatismo através de um cartaz preto com letra Helvetica tamanho 14 é igual. Haverá sempre limites, imperfeições, contingências. Que não se culpe uma vitrine de cães de louça por todos os males do mundo. Eles nem sequer insistem que são arte, essa discussão fomos nós que começámos.
Originalmente publicado no The Kitsch Issue, de fevereiro 2024. For the English version, click here.
Most popular
.png)
.png)
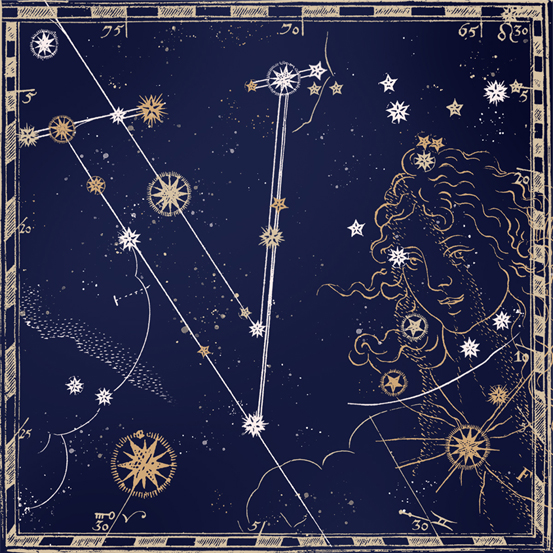
Relacionados

.png)




