Passaram 49 anos desde que ocorreu aquela que ficou para a história como a Revolução dos Cravos. Romântico como nenhum outro, o golpe de estado comandado pelos militares portugueses em 1974 está quase a completar meio século. Antes que as comemorações anunciadas dos 50 anos do 25 de Abril ocupem a agenda mediática, é altura de olhar, com espírito crítico, para “o estado a que isto chegou" novamente. Fica a sensação clara de que há uma revolução por concretizar.
Passaram 49 anos desde que ocorreu aquela que ficou para a história como a Revolução dos Cravos. Romântico como nenhum outro, o golpe de estado comandado pelos militares portugueses em 1974 está quase a completar meio século. Antes que as comemorações anunciadas dos 50 anos do 25 de Abril ocupem a agenda mediática, é altura de olhar, com espírito crítico, para “o estado a que isto chegou" novamente. Fica a sensação clara de que há uma revolução por concretizar.

Artwork de João Oliveira
Artwork de João Oliveira
O músico e compositor português Sérgio Godinho canta, desde pelo menos 1974, em Liberdade, que “só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação.” Teve rasgo e perspicácia o “cantor de intervenção” — o próprio defende, a par de outros artistas seus contemporâneos, que a designação dá jeito, mas é incoerente, já que toda a música é ou deve ser de intervenção — quando, diante da mudança de regime, e enquanto contemplava e refletia acerca do novo paradigma que se começava a desenhar, concluiu o que hoje percebemos como óbvio: liberdade não é uma palavra vaga. É antes um conceito complexo, composto por várias camadas, que vão das possibilidades às restrições, por mais que isso pareça paradoxal. Gritar liberdade não é necessariamente fazer liberdade. Essa precisa de ser construída, com equilíbrio e sustentação, para que não se perca, ou não seja usurpada, sequestrada, deturpada ou distorcida.
Foi na ressaca da chamada Primavera Marcelista, que afinal se revelou uma miragem, que o cenário ideal para o derrube ao regime do Estado Novo começou a ser montado. A Ala Liberal da Assembleia Nacional, desiludida com o rumo político que o governo liderado por Marcelo Caetano estava a dar ao País, bateu com a porta. Jovens deputados como Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão e Joaquim Magalhães Mota (que viriam a fundar o PPD — Partido Popular Democrático, hoje PSD – Partido Social Democrata), João Mota Amaral ou Miller Guerra, entre outros, esperavam que a ascensão de Marcelo Caetano ao cargo de presidente do Conselho de Ministros, substituindo António de Oliveira Salazar, viesse trazer uma nova abordagem, mais liberal e europeísta, à política nacional. Internamente, a expectativa de abertura do regime, incluindo a supressão da censura e o desencadear do processo de descolonização dos territórios em África, era também grande. Esperava-se ainda que a repressão e a perseguição dos opositores ao poder vigente acabasse, finalmente. E, de 1968 a 1970, a ilusão de que essa abertura fosse consumada existiu. Porém, com o País a braços com uma guerra em África — guerra colonial, para uns; guerra da independência, para outros; guerra do ultramar, para muitos —, nas então colónias portuguesas de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, Marcelo Caetano mostrou-se incapaz de renovar um regime que dava sinais de saturação. Depois de um período de algum alívio das restrições, nomeadamente ao nível da censura e da repressão, a Primavera Marcelista revelou a sua pior face e o tratamento aos opositores foi duro e implacável. Neste contexto, os deputados mais liberais, vendo defraudadas as suas expectativas de uma transição gradual e pacífica para um regime plenamente democrático, foram abandonando a Assembleia Nacional. O primeiro de todos foi Sá Carneiro, em 1973. Ficou célebre a sua expressão, “É o fim!”, no momento da saída do parlamento. Outros deputados alinhados com Sá Carneiro acabaram por lhe seguir os passos.
Foi num contexto criado por estes eventos e posições que chegámos a abril de 1974, à noite do dia 24, possivelmente a noite mais importante da História recente de Portugal. Em Santarém, na Escola Prática de Cavalaria, o Capitão Fernando José Salgueiro Maia mandou formar as tropas e, diante destas, proferiu um discurso épico, que ficaria para a História, e que incluía a seguinte passagem: “Como sabem, existem vários tipos de Estado. Os Estados socialistas, os Estados capitalistas, e o estado a que chegámos. Nós vamos marchar até Lisboa para pôr fim ao estado a que chegámos. Quem quiser ficar pode abandonar a parada e recolher à caserna. Quem quiser vir dê um passo em frente.” Todos deram um passo em frente e as tropas dirigiram-se a Lisboa com o intuito de derrubar o regime. O que se seguiu é História, o 25 de Abril de 1974 foi o primeiro dia do resto das nossas vidas: Portugal libertou-se do Estado Novo, Marcelo Caetano fugiu e exilou-se. Outras figuras do Estado Novo e grandes empresários que agiam e enriqueciam ao abrigo do protecionismo do regime seguiram-lhe o exemplo. Nos tempos que se seguiram, houve tentativas de contragolpe para reestabelecer o regime, mas não foram bem-sucedidas. Instaurou-se o PREC – Processo Revolucionário em Curso, que durou até 25 de novembro de 1975. Foi nesse dia que, uma vez mais, os militares decidiram pôr fim à instabilidade política do PREC, dando início à estabilização definitiva do regime democrático em Portugal, sem regressos ao Estado Novo nem incentivos a miragens protossocialistas.
O RESCALDO
O mais difícil estava feito, derrubou-se a ditadura. Agora só faltava o resto. Só que o resto era muito, era tudo, todas as promessas que Abril trouxera a um povo sedento de democracia, de liberdades e de oportunidades. Se a paz foi obtida — a guerra em África cessou oficialmente com a revolução de 1974; o processo de descolonização iniciou-se meses mais tarde —, o pão, a habitação, a saúde e a edu- cação de que a canção de Sérgio Godinho falava têm vindo a sofrer oscilações e retrocessos de tempos a tempos. A própria democracia tem sido abalada, como indicam relatórios internacionais recentes. O retrocesso revolucionário está em curso. Uma classe média em franca expansão é uma das inegáveis conquistas resultantes da Revolução dos Cravos. A redução da pobreza e a quase erradicação da miséria foram objetivos conseguidos ao longo das primeiras quatro décadas do regime democrático, mas a última década, marcada pelo pós-crise de 2012, pela política de austeridade imposta pela Troika e, nos últimos três anos, uma pandemia e uma guerra na Europa — e o facto de ambos os eventos terem costas largas e servirem de desculpa e justificação para muitas práticas — criaram sérias dificuldades a uma parte significativa da população, enfraquecendo o tecido, outrora sólido, dessa tal classe média surgida no pós-Revolução. Este ano, o aumento da inflação e das taxas de juro promete não dar tréguas. Enquanto isso, são reveladas práticas imorais e ilegais por parte de redes de supermercados, por exemplo. Bancos salvos pelo dinheiro público há meia dúzia de anos, ou pouco mais, carregam nas comissões e nos juros, ao mesmo tempo que apresentam lucros milionários – em alguns casos, lucros-recorde. O preço dos combustíveis teima em manter-se elevadíssimo, um nível nunca antes visto, a coberto das desculpas da guerra na Ucrânia. E, no entanto, as petrolíferas registam, à semelhança dos principais bancos, lucros milionários e resultados-recorde. O fosso entre ricos e pobres parece aumentar.
Quanto à habitação, é verdade que os arrabaldes das grandes cidades já não são, felizmente, o mar de barracas que fotógrafos como Alfredo Cunha — especialmente Alfredo Cunha — souberam retratar com arte. Aos poucos, e ao longo de quase cinco décadas, as cidades e os seus subúrbios foram-se tornando sítios mais dignos com os seus novos edifícios. A habitação social veio tomando o lugar dos bairros de lata, ao mesmo tempo que a população de classe média foi ganhando robustez, tal como a própria classe, no pós-25 de Abril e, sobretudo, após a entrada na CEE, hoje União Europeia, em 1986. Não deixa de ser, também por isso, particularmente triste e profundamente ofensivo que, volvidos 49 anos e após tanto esforço e investimento, observemos agora, com toda a passividade, o esvaziamento progressivo e agressivo dessas mesmas cidades e seus subúrbios. Com os arrendamentos a preços proibitivos para o rendimento médio e com as dificuldades crescentes na aquisição de casa graças ao crescimento galopante dos preços no mercado imobiliário, as cidades portuguesas vão sendo adquiridas por investidores estrangeiros que as rentabilizam quase sempre no mercado turístico. As habitações que sobram e entram no mercado de arrendamento de longo prazo são muitas vezes apanhadas por pessoas com elevado poder de compra, fre- quentemente cidadãos estrangeiros em marcha pelo mundo e sem residência fixa: munidos de rendimentos chorudos, os chamados “nómadas digitais” chegam-se à frente com opulência e tomam para si, a preços exorbitantes, pequenos, médios e grandes apartamentos em zonas outrora populares. No meio de tudo isto, a possibilidade de habitar o centro da cidade, no seio de uma comunidade verdadeira, com laços que sejam reais e os interesses comuns, passou a ser pouco mais do que uma miragem megalómana para qualquer jovem nativo que entre no mercado de trabalho. Já para não falar naqueles que, menos jovens e bem dentro do mercado de trabalho, se sentem a ser empurrados para fora das cidades e das comunidades que ajudaram a crescer e a enriquecer.
Da paz, do pão e da habitação já falámos. Então e a saúde? Que saúde tem um país que amontoa os seus doentes em corredores de hospitais decrépitos? Deitados em marquesas precárias, à vista de todos, expostos a tudo o que se passa em redor, é assim que os nossos cidadãos são submetidos aos cuidados de um Estado que um dia sonhou, projetou, estabeleceu e implementou o Serviço Nacional de Saúde (SNS), pedra de toque do Estado Social que o novo regime democrático instituiu no seguimento da Revolução. Acrescentámos a força dos privados aos cuidados de saúde, mas em vez de o fazermos em nome de um complemento saudável ao saturado sistema público, transformámos tudo em negócio e de- pauperámos ainda mais a já fragilizada saúde, tratada pelo dinheiro de todos os contribuintes. Cada vez mais a saúde é um luxo ao alcance de quem pode pagar um seguro. As instituições públicas vão fazendo o que podem com os meios que têm à disposição e nas instalações que sobram. Mas já não dispõem de muito e o que sobra está longe de se apresentar em bom estado. Médicos e enfermeiros procuram condições de trabalho mais dignas, aqui ou no estrangeiro. As filas de espera, entretanto, aumentam. Há casos extremos, como aquele não muito distante (remonta a 2019) do Serviço de Oncologia Pediátrica — atenção: oncologia pe-di-á-tri-ca — do Hospital de São João, no Porto, com internamentos em contentores sem condições mínimas para o fazer. Chovia dentro de alguns, por exemplo.
E falta a educação. Há um século, Portugal tinha mais de 65% da população analfabeta. Quando a Revolução ocorreu, essa percentagem tinha sido reduzida, ao longo do período do Estado Novo, para cerca de 30%. Hoje, a percentagem analfabeta da população portuguesa é residual, abaixo dos 5%, sendo que a incidência se dá quase exclusivamente nas camadas mais velhas da sociedade. No entanto, além da alfabetização, há outros problemas graves, que, mais cedo ou mais tarde, vão fazer com que a falta de cuidados com a educação acabe por nos rebentar na cara. Que futuro se avizinha para um país onde os professores são destratados ao ponto de a profissão ter perdido quase tudo, dos benefícios ao prestígio? Nos Estados desenvolvidos, aqueles que constantemente tomamos — e bem — como exemplos para apontar, a profissão de professor é prestigiada, respeitada e cobiçada, bem remunerada, beneficiada com regalias. Porquê? Porque se sabe que, sem uma educação consistente, o futuro não pode ser senão decadente. Enquanto isso, nós por cá desvalorizamos aquela que devia ser das mais nobres profissões que existem, ao ponto de, num futuro próximo, demasiado próximo, haver o risco de vir a ser desempenhada não por quem tem mérito, talento e vocação, mas antes por quem sobra, por aqueles que restam no mercado, pois não conseguiram encaixar-se nas carreiras que ambicionavam e para as quais estudaram. Teremos então um país onde a educação pública, a instrução base da sociedade, estará a cargo dos medíocres, dos remediados e dos que fazem as vezes. É um cenário assustador.
UMA DEMOCRACIA ADOENTADA
Esta é a madrugada que eu esperavaO dia inicial inteiro e limpoOnde emergimos da noite e do silêncioE livres habitamos a substância do tempo(25 de Abril, poema de Sophia de Mello Breyner Andresen)
Não temos vindo a fazer, enquanto povo e enquanto Estado, um trabalho exemplar depois do 25 de Abril. Conquistámos a liberdade, instituímos a democracia. Hoje, podemos falar e ler e escrever sem medo de uma censura do Estado, embora tenhamos de lidar com restrições de outros tipos no que respeita à liberdade de expressão — que existe no papel, que é consagrada na lei, mas que cada vez mais se sente a estreitar e a ser condicionada (porém esse é todo um outro tema). Por outro lado, e como vimos atrás, parece que atingimos, algures no passado recente, um pico de progresso e que estamos agora a retroceder, a perder qualidade de vida, a abdicar de conquistas fundamentais, essenciais a um Estado que se quer justo e de direito. Felizmente, podemos alterar tudo e melhorar tudo, já que vivemos em democracia, embora assuste que mesmo o estatuto pleno do regime em vigor tenha vindo a ser debilitado nos últimos anos (segundo o Democracy Index 2022, da Economist, Portugal surge em 28.o lugar na tabela dos regimes democráticos, classificado com 7,95 pontos e com um regime descrito como “democracia com falhas”). Infelizmente, o principal motivo para essa debilidade tem a ver com a cultura política — ou, melhor, com o défice de cultura política por parte da população portuguesa (a Eritreia, na posição 152 do ranking das democracias, que pontua 0 no processo eleitoral, exibe 6,88 pontos em cultura política, precisamente os mesmos que Portugal). O povo, unido ou desunido, jamais será vencedor enquanto não se educar e cultivar politicamente, enquanto tiver de esperar por alguém como Salgueiro Maia, que discurse acerca do “estado a que isto chegou”, para que aconteça de novo “o dia inicial inteiro e limpo” por que Sophia tanto ansiou. É preciso cuidar do dia seguinte. De todos os dias seguintes.
Originalmente publicado na edição The Revolution Issue da Vogue Portugal, de abril 2023.For the english version, click here.
Most popular
.png)
.png)
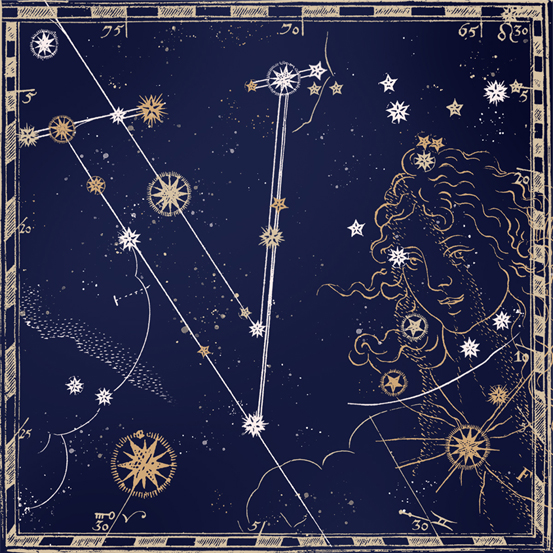
Relacionados



.jpg)

