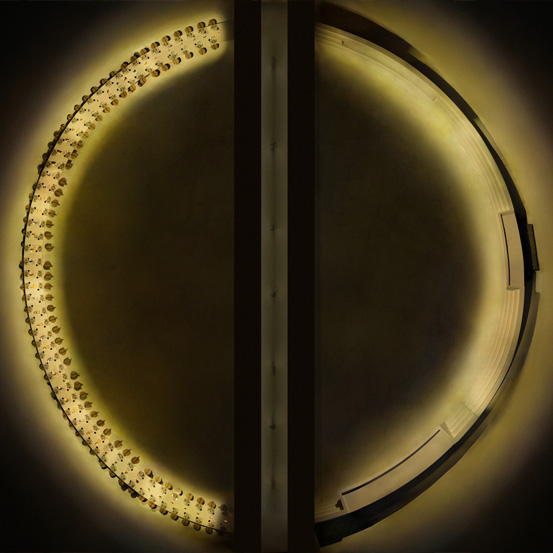Era uma vez Joan Juliet Buck, editora arrojada que revolucionou a edição francesa da Vogue e a catapultou para a estratosfera das revistas de culto. Discípula de Beatrix Miller, amiga pessoal de Karl Lagerfeld e de Yves Saint Laurent, afilhada de John Huston, a escritora é uma mulher de mil vidas cuja história dava um filme. Enquanto ninguém transporta as suas aventuras para o grande ecrã, ei-la, em exclusivo e em discurso direto.
Era uma vez Joan Juliet Buck, editora arrojada que revolucionou a edição francesa da Vogue e a catapultou para a estratosfera das revistas de culto. Discípula de Beatrix Miller, amiga pessoal de Karl Lagerfeld e de Yves Saint Laurent, afilhada de John Huston, a escritora é uma mulher de mil vidas cuja história dava um filme. Enquanto ninguém transporta as suas aventuras para o grande ecrã, ei-la, em exclusivo e em discurso direto.

Joan Juliet Buck © Brigitte Lacombe
Joan Juliet Buck © Brigitte Lacombe
“Antes das redes sociais, as revistas eram a única forma de nos conectarmos com essa imensa e fabulosa estirpe de pessoas que não conhecíamos - mas que talvez pudéssemos conhecer se fossemos à exposição de arte certa, com os sapatos certos. E as revistas diziam-nos onde comprar os sapatos que víamos numa fotografia atraente e bem iluminada, diziam-nos exatamente quanto custavam, de que tratava a exposição de arte, e ainda tinham uma foto do artista e da sua esposa, e a história de como passaram fome na Índia durante três anos antes de venderem o primeiro quadro; por isso, quando chegávamos à exposição, com os sapatos novos, sabíamos que ele pintava flores mortas e sapos vermelhos, [encontrávamos] outras raparigas que tinham os mesmos sapatos, e éramos uma espécie de tribo… e tudo acontecia. Portanto, sim, eu queria fazer parte de uma entidade - uma revista - que pudesse traduzir os meus anseios culturais e românticos em figuras e palavras em páginas que as pessoas lessem. As revistas eram a maneira perfeita de expressar os nossos desejos de beleza, amor, drama, glamour e roupas novas - não havia mais nada. Fazer filmes demorava muito tempo e era pouco glamoroso, todos os anos que perderíamos dentro de uma sala a editar um filme… Mas trabalhar numa revista [era diferente porque] podíamos traduzir as nossas ideias em imagens e palavras muito rapidamente.”
Houve um tempo em que os segredos se passavam de boca em boca - e de página em página. É nesse tempo que se centra a história de Joan Juliet Buck (1948, Los Angeles, Califórnia), a mulher sem-medos que deu a volta ao destino da edição francesa da Vogue - atualmente conhecida como Vogue Paris. De 1994 a 2001, Joan ocupou a posição mais cobiçada na cidade-luz: foi diretora da revista de Moda mais importante do mundo. Uma americana em Paris, como muitos fizeram questão de sublinhar, vezes sem conta, durante a sua passagem pela publicação. “Foi o melhor período da Vogue Paris”, resumiu Manolo Blanik ao jornal The New York Times.
Mas a aventura de Miss Buck, que começa na Glamour e se estende à Vanity Fair e à New Yorker, fazendo dela uma das mais notáveis colaboradoras da Condé Nast, não se reduz ao plano laboral. Filha do produtor de cinema Jules Buck, braço direito do ator britânico Peter O’Toole, e da atriz e designer de interiores Joyce Ruth Getz, Joan mudou-se com a família para a Europa quando tinha apenas quatro anos, para uma infância itinerante e, no mínimo, invulgar.
"Eu não queria um marido, queria perceber porque é que os personagens das peças de Brecht eram tão diferentes dos das peças de Pirandello."
“What you see is what you learn. Como filha única de pais americanos em Paris, estava sempre com adultos, ouvia o que eles conversavam e repetia o que eles diziam, o que me deu um amplo vocabulário e uma gama de interesses peculiares para uma criança. Ninguém na escola queria discutir precipitação radioativa ou arte pré-colombiana. Os adultos eram cineastas, escritores, atores, repórteres - franceses, alemães, italianos e americanos. O meu pai abriu uma produtora de cinema com o Peter O’Toole, que se tornou uma estrela de cinema, e eu pensei que todos os adultos fossem algum tipo de estrela. Depois aos onze anos fui para a Irlanda e conheci a Anjelica, filha do meu padrinho, que se tornou a minha primeira amiga íntima, uma espécie de irmã, e aprendi a brincar e a ser pateta com alguém do meu tamanho. Mas a casa do meu padrinho John Huston era ainda mais mágica e irreal do que os lugares onde eu tinha morado, porque ele era realizador de cinema e percebia de mise em scène, sabia como criar cenários e momentos teatrais, e a sua mulher Ricki era uma ex-bailarina que trazia magia, engenhosidade criativa, investigação filosófica e amor ao que quer que fizesse, de modo a que a vida imaginada estivesse presente no quotidiano: vestir-se, fingir estar noutro tempo, falar apenas em verso. Para mim, a realidade e a ilusão não colidiam, porque as ilusões eram reais.”
Em 2017, Joan Juliet Buck publicou o seu terceiro livro, precisamente chamado The Price of Illusion, uma espécie de memória que aborda, sem filtros, os altos e baixos da sua existência. Como o seu 21º aniversário, celebrado num dos mais badalados clubes de Londres, o Annabel’s, onde fez um brinde atípico: “Aos meus melhores amigos, em urnas.” Seria esse o preço daquela ilusão que começou a viver desde cedo? “A minha decisão de parar de estudar para entrar na École Normale Supérieure, deixar a Europa e ir para a América, foi uma catástrofe. Eu não tinha uma ideia da América, mas tinha um passaporte americano e achei que isso significava que poderia chegar a Nova Iorque e sentir-me em casa. Não percebi nada quando cheguei ao Sarah Lawrence College - sobre o que as outras raparigas falavam, como agiam ou o que valorizavam - elas estavam mais interessadas em encontrar um noivo do que no que estavam a estudar. Eu não queria um marido, queria perceber porque é que os personagens das peças de Brecht eram tão diferentes dos das peças de Pirandello. Estudei antropologia com a grande missão de entender como os seres humanos tinham evoluído, comecei com as moscas da fruta antes de prosseguir com relações de parentesco, mas também queria muito comprar joias Kenneth Jay Lane. Estava em conflito - frivolidade ou seriedade profunda? O jornalismo preencheu a lacuna.”
No final do seu primeiro ano na faculdade, Joan começa a trabalhar na Glamour. Tinha 19 anos. “Substituí a crítica de livros da Glamour em licença de maternidade e tornei-me assistente de Frances Patiky Stein, editora de moda que rapidamente saiu para fundar uma maison com Halston, seu amigo. Ajudei Julie Britt, uma editora maravilhosa. A Glamour não era tão sofisticada como a Vogue britânica, mas trabalhávamos com ótimos fotógrafos - Bob Richardson, Saul Leiter, Frank Horvath. Eu assistia às produções, afastada do cenário, coberta de joias, lenços e cintos que tirava da mesa de acessórios, um pé dentro do sonho que estávamos a criar.” A alegria tinha os dias contados.
“Fiquei aliviada por poder trabalhar na Glamour, deixar a faculdade mesmo sem a terminar e mudar-me para o apartamento vazio do meu tio em Nova Iorque, com 20 anos. Mas em janeiro a minha querida Ricki Hudson morreu num acidente de carro, o noivo da minha primeira colega de casa suicidou-se e, em setembro, a minha terceira colega de quarto, Eva, caiu de uma árvore e morreu. Fiquei tão aterrorizada com o que pareciam ser atos repetidos do destino que corri para casa, em Londres, em busca de segurança, cheia de perguntas confusas sobre a sorte. E depois o meu 21º aniversário chegou, e fui atingida por esses eventos estranhos e tentei parecer estafada e sarcástica.”

Joan Juliet Buck com Karl Lagerfeld, em 2005 © Getty Images
Joan Juliet Buck com Karl Lagerfeld, em 2005 © Getty Images
De volta à Europa, Buck agarra-se a um novo desafio: ser correspondente da Interview em Londres. Sim, da Interview de Andy Warhol - a vida de Buck é esse tipo de vida. É impossível escapar às recordações daquele grupo irrepetível de cool people que a rodeava. “A pessoa do mundo da Moda que eu mais admirava era o Antonio Lopez, cujas ilustrações definiam o sonho da Moda como ninguém o fez antes, nem depois. Conheci-o em Nova Iorque quando tinha 19 anos. Em Paris, ele e o Juan Ramos apresentaram-me a um amigo, Karl Lagerfeld. Sentávamo-nos todos no Café Flore a conversar sobre Marlene Dietrich e Charles James, Moda e filmes antigos (Pabst e Fritz Lang) e depois saíamos para dançar a noite toda no Le Nuage, na Rue Dragon. Quando conheci Andy Warhol e Paul Morrisey, na festa de aniversário de Fred Hughes no Club 7, em 1971, Antonio e Juan e Donna Jordan e Corey Tippin e Karl Lagerfeld também estavam lá: era como uma família, e esses eram os membros mais novos, acabados de chegar de Nova Iorque. Andy, Fred e Paul sugeriram que eu fosse a correspondente em Londres da Interview. Foi uma festa longa e interminável - o Andy adorava levar a sua comitiva onde quer que fosse, por isso passei pela experiência de ser um dos muitos convidados inesperados nos grandes jantares de pessoas que não conhecia.”
É depois deste frisson que começa o seu love affair com a Vogue. Primeiro, na edição britânica, onde foi chefe de redação, sob o comando de Beatrix Miller, uma das diretoras mais respeitadas da revista. E é precisamente aqui que começa o seu conhecimento enciclopédico de tudo o que seja (mais ou menos) Vogue. Joan relembra-o assim: “A Vogue britânica refletia de forma perfeita a efervescência e a emoção de Londres nos anos 60. A Vogue americana não tinha metade da graça, era mais como uma senhora da sociedade que tentava ser moderna. A Vogue britânica capturava a essência da época, com as suas fotos de David Bailey, Terence Donovan e Bob Richardson. De forma aparentemente simples, juntava cultura e moda - quando o filme Doctor Zhivago estreou, a Vogue britânica tinha um longo editorial com a modelo Mirella Petteni numa sucessão de peles e vestidos longos que permitiam à leitora (e aqui está a realidade aprimorada de viver a ilusão) vestir-se como se fosse Julie Christie no papel de Lara, e acreditar, quando fosse a uma festa com o seu vestido devoré de veludo preto e gola alta, que era a heroína de uma tragédia romântica. A Vogue britânica foi editada por Beatrix Miller, uma mulher alta, de cabelos louros e saias plissadas, que mais parecia uma diretora financeira do que uma editora da Vogue, mas cuja mente clara, ética forte e curiosidade infinitas foram espelhadas na revista, que era completa, rica, original, variada, sempre deliciosa e nunca barata. ‘O significado original da revista é armazém’, dizia Beatrix. ‘É importante o que pomos lá dentro.’ Ela ensinou-me tudo o que sei sobre revistas.”
"Foi uma fuga a uma vida tão superficial e repetitiva, que senti que me estava a afogar em águas pouco profundas."
Os swinging sixties imprimiam uma energia que transpirava para dentro da redação. “Quando um editorial chegava, os slides coloridos eram carregados num carrossel e projetados na parede do escritório de Beatrix Miller, enquanto o diretor de arte, Barney Wan, e a equipa de moda assistiam, alguns sentados no chão, à espera que Beatrix dissesse ‘Ravishing!!’ ao ver Jerry Hall numa praia nas Maurícias ou Ingrid Boulting espiar por detrás de uma estátua. O seu gosto era tão certeiro que quase sempre concordávamos com ela. [...] Fui chefe de redação lá, por duas vezes, com 23-24 anos e com 27-28, quando Beatrix me trouxe de volta para fazer a edição do jubileu. Grace Coddington, no seu primeiro emprego como editora de moda, passava pelo corredor com enormes saias Bill Gibb e dava um olhar reprovador aos meus sapatos de plataforma. Tony Snowdon fotografava a realeza. Quando pedi a Andy Warhol que fizesse uma página para a coluna “O Meu Dia”, o que ele me enviou foi o equivalente a um dia de despesas. E eu imprimi. Quando casei com o jornalista John Heilpern, e decidimos mudar para Nova Iorque, Beatrix garantiu que Alex Liberman, diretor editorial da Vogue, e Leo Lerman, seu editor, estavam à minha espera. [...] Eles mandavam-me para Paris, às vezes várias vezes por mês, para escrever sobre assuntos franceses e europeus. Depois fiz o mesmo para a Vanity Fair, com um pouco menos de cultura e mais estrelas de cinema. Não parei de escrever para essas duas revistas, e para a Condé Nast Traveler e a The New Yorker, de 1983 a 1994. Estava sempre descalça na minha secretária, a beber café e a comer chocolate preto para não parar. Escrevia a noite toda, muitas vezes. Fazia o meu trabalho, era confiável e o Francês era a minha primeira língua.” E depois chegou a Vogue Paris.
O convite tinha-lhe sido feito várias vezes até que, em 1994, sucumbiu à tentação. Mais por prática do que por ego. “Em meados dos anos 80, escrevia para a Vogue há tanto tempo, e era alguém em quem confiavam, que o cargo de diretora da Vogue Paris foi-me algumas vezes antes de o aceitar. Naquela época eu escrevia romances e argumentos, e não estava interessada em sentar-me atrás de uma secretária e dizer às pessoas o que fazer. Não trabalhava num escritório desde 1978 e não usava sapatos, ou mesmo algo como roupas a sério, durante o dia, porque estava sempre em casa a escrever, ou na aula de ballet, ou tendo algum caso secreto ultra-intenso. Foi só no início de 1994, quando estava bloqueada no meu terceiro romance, um namorado me largou, a 14ª das 17 tempestades estava a acontecer lá fora, e a minha ninhada de gatos cheirava mal, que eu disse sim à Vogue francesa. Não era tanto uma coisa de ego, antes uma coisa do tipo ‘get me the hell out of New York’. Foi uma fuga a uma vida tão superficial e repetitiva, que senti que me estava a afogar em águas pouco profundas. Todas as minhas experiências tinham sido assignments.”
"A criação de uma revista é um esforço comum, e todos devem estar envolvidos, empenhados e entusiasmados."

Alexandra Shulman (diretora da Vogue britânica entre 1992 e 2017), Joan Juliet Buck e Anna Wintour, em 1998 © Getty Images
Alexandra Shulman (diretora da Vogue britânica entre 1992 e 2017), Joan Juliet Buck e Anna Wintour, em 1998 © Getty Images
A sua vida deu (mais) uma volta. As viagens de Concorde triplicaram, a suite no Ritz, sua segunda casa, foi substituída por um apartamento assombrado (mais sobre isto, no livro, aqui seria impossível), os seus trapos de andar por casa deram lugar “ao guarda-roupa de uma mulher muito rica” com um carro sempre à sua espera. Mas isso era a parte supérflua, inócua. “A melhor parte de editar a Vogue Paris foi aproveitar a imaginação e as capacidades criativas das pessoas com quem trabalhei, de forma a criarmos edições que surpreendessem o leitor. As sessões de brainstorming eram ótimas. A equipa não gostava de ver os slides num carrossel (coisa de facto antiquada para se fazer) mas eu não tinha esquecido os ensinamentos de Beatrix Miller - a criação de uma revista é um esforço comum, e todos devem estar envolvidos, empenhados e entusiasmados (eles nem sempre estavam entusiasmados).”
Joan revolucionou as vendas, que triplicaram, e posicionou a Vogue Paris num patamar muito acima das concorrentes. Como é que o fez? Rodeou-se dos melhores. Tentou compreender o que a rodeava. “Cada edição da Vogue deve ser sobre o tempo em que se insere e a cultura que está à sua volta. Os filmes no Festival de Cinema de Cannes eram tão importantes a influenciar a Moda quanto os desfiles dos criadores, pensava eu. Mas talvez fosse porque fui crítica de cinema antes de me tornar diretora da Vogue. Paris é um lugar muito mal-humorado. Às vezes a atmosfera era muito parisiense. Era nessas alturas que eu tirava a tarde e ia ver um filme de ficção científica para arejar a cabeça. Como em todas as equipas, alguns membros estavam mais empenhados que outros, mais comprometidos em descobrir a ideia que, no final, juntava todas as peças. Tínhamos uma grande editora de moda, quase desconhecida, a Delphine Treanton, cujo trabalho com Michael Thompson, Enrique Badulescu e Eric Traore deu à Vogue Paris o seu estilo distinto. Cada sessão era de cortar a respiração. [...] Trabalhei com uma Taryn Simon muito jovem, que se pendurou nua num arnês para ilustrar a ideia de Narciso. A grande alegria da Vogue era deixar as pessoas empolgadas com o que podiam fazer e vê-las superarem-se a si próprias.” O limite era o outro lado, o desconhecido. Em poucos anos, Joan tornou-se demasiado bem-sucedida para uma americana em Paris.
Com o conforto de mais de 20 anos de distância, Joan Juliet Buck revê algumas das suas conquistas. “Livrei-me dos adjetivos e trouxe a diversão de volta. As edições de fim de ano eram entregues a editores convidados cada vez mais famosos, até que os dois últimos antes de eu chegar foram Nelson Mandela e o Dalai Lama. Substituí os editores convidados por questões temáticas feitas pela mesma equipa de todas as outras edições - e foram ótimas. Filmes, o 75ª aniversário, arte, ciência, amor, teatro. Apenas a música foi um desastre: não podemos dançar com imagens. Mas isso trouxe-me Jean-Baptiste Mondino.” E assume os seus pecados. “Eu não era uma fashion-person fanática. Adorava as roupas que o Yves Saint Laurent fazia, amava as roupas que o Karl fazia, amava os padrões que os Missoni faziam. Esses designers eram meus amigos. Eu não dava importância à lastest thing, a menos que fosse algo que encaixasse na minha própria estética. Sempre fui aos desfiles dos meus amigos, mas as centenas de outros desfiles de moda a cada temporada - tanta roupa e nenhum entendo - eram tortura.”
"A Moda usa tudo, hoje em dia, por isso não é nada."
Em 2000, depois de sete anos à frente à Vogue Paris, Joan foi mandada para uma clínica de reabilitação pelo seu chefe, Jonathan Newhouse, por um problema de droga de que não sofria. Foi a maneira encontrada de a afastar discreta (?) e silenciosamente. As publicações de mexericos da indústria descreveram-na como uma “alcoólica descontrolada”, e correram rumores de que teria agredido uma colega a meio de um desfile da Prada. Como é que alguém se sujeita a semelhante humilhação? Há o lado curioso, visceral, que impeliu a jornalista Buck a querer saber como era o dia a dia de um rehab center. E há o lado humano, o do alívio. “Fiquei animada com a ideia de que não precisaria de assistir a mais desfiles de Moda.”
Foi lá que descobriu que era viciada na Vogue, tal como uma das suas “companheiras de cela” era viciada em cocaína. E nem mesmo a consciência de ser dependente de qualquer coisa maior que ela a fez desistir de vez. Menos de dez anos depois da descida ao inferno estava de volta à lista de colaboradores regulares da edição americana da Vogue. Até que (e existe sempre um “até que” na biografia de Joan) um perfil menos feliz da mulher do presidente da Síria, Bashar al-Assad, se tornou viral - e o seu nome foi arrastado pelos corredores da Internet, como se uma vida dedicada ao jornalismo se medisse em três mil caracteres encomendados pelos interesses maiores da política e da economia do seu país. Não é um assunto-tabu, mas é um assunto que evita. “Nunca deveria ter aceite esse trabalho quando me ligaram”, limita-se a dizer.
"Estamos a fazer mais do que revistas, estamos a criar a substância mais viciante que existe - o sonho."
Olhar para trás com arrependimento não seria digno de alguém da sua estirpe. Há almas que não se vergam, nunca. Joan Juliet Buck é uma dessas (raras) almas. Arriscamos viajar com ela num tempo que já não volta. Há uma sensação que acompanha grande parte do seu livro, “foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos”, porque tudo estava a acontecer, nada seria o mesmo e a Moda mudaria drasticamente, para sempre. Concorda? “Sim, a Moda mudou para sempre. Como se o tempo tivesse parado - a Moda usa tudo, hoje em dia, por isso não é nada. [...] Costumávamos encontrar Moda nas lojas e nas revistas. Nos Estados Unidos, já não há revistas que proporcionem a vida imaginada - o que Diana Vreeland chamava de “mito da próxima realidade”, as coisas que queremos ser, viver, encontrar, vestir, explorar, descobrir.”
Essa efervescência foi-se eclipsando. Enquanto diretora da Vogue Paris Miss Buck se dirigiu aos assistentes de uma conferência da Condé Nast, em Veneza, e proclamou: “A Vogue é uma droga potente na qual as mulheres se perdem. Estamos a fazer mais do que revistas, estamos a criar a substância mais viciante que existe - o sonho. Há uma enorme responsabilidade em criar sonhos.” Apesar das mudanças, mantém esse discurso? “Sim. A Vogue era um armazém de imagens, ideias e palavras que faziam a leitora sonhar, e esse tipo de sonho é necessário. A nova substância viciante é a pequena imagem de você a posar no seu novo vestido sem alças, de ténis, na casa de banho, com a sanita visível atrás e 78, 780 e 7,8 milhões de corações de pessoas que conhece e não conhece. A menos que olhemos para fora de nós mesmos e nos deixemos envolver com o mundo, estamos destinados a posar com vestidos miseráveis em casas de banho tristes, mesmo ao lado da sanita.”
"O tempo é precioso e os tempos são perturbadores."
Hoje Joan dedica-se sobretudo a escrever o que lhe apetece, quando lhe apetece. “Sou livre para fazer o que quero - teatro, monólogos, atuação, e na maior parte dos dias trabalho numa coisa sobre a qual ainda não posso falar. Tive uma ótima experiência com a Refinery29 este ano: um pequeno texto que escrevi, “Advice to my 26-year-old self” (conselhos para o meu eu de 26 anos), que foi um sucesso viral. Os formatos estão a mudar. Liberdade é exploração.” E as revistas, que lugar ocupam no seu quotidiano? “A vossa Vogue Portugal é muito, muito boa - criativa, corajosa, curiosa, bonita, consegue-se sentir a vontade editorial e o questionamento em todas as páginas. É um reflexo do tempo - aquela edição dos plásticos! Fiquei comovida e feliz quando a vi. Quanto às outras revistas - nada de revistas de Moda. Leio o suplemento literário do Times, a London Review of Books, a New Yorker, a New York Magazine e a The Atlantic. E prefiro ler um livro do que um artigo mal escrito. O tempo é precioso e os tempos são perturbadores.” A americana, que em tempos se passeou por Paris, nunca deixará de ser revolucionária.
Artigo originalmente publicado na edição de outubro da Vogue Portugal.
Most popular

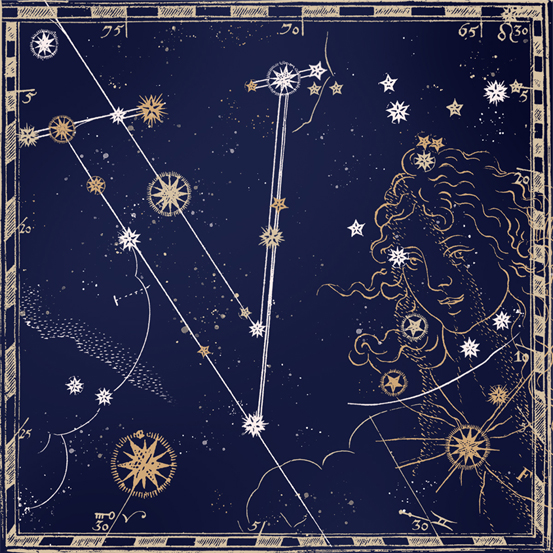
Relacionados

.jpg)