Da desinformação à cultura do cancelamento, das expectativas de um post à pressão dos likes, as redes sociais transformaram-se num espaço onde a loucura vai bater a todas as portas. Mas não é totalmente impossível encontrar o bem-estar no meio dessa insanidade.
Da desinformação à cultura do cancelamento, das expectativas de um post à pressão dos likes, as redes sociais transformaram-se num espaço onde a loucura vai bater a todas as portas. Mas não é totalmente impossível encontrar o bem-estar no meio dessa insanidade.
English version here.
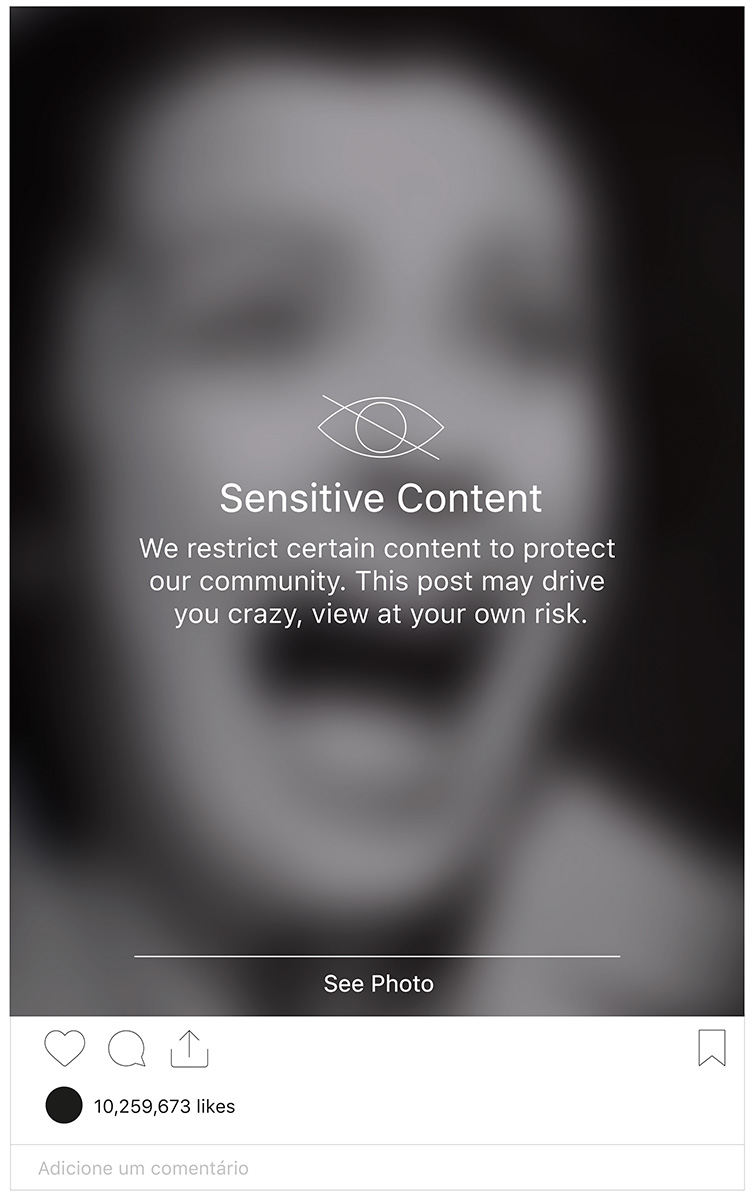
©Ilustração de Mariana Matos; Getty Images
©Ilustração de Mariana Matos; Getty Images
Foi no dia 10 de maio de 2012, às 14h41, que criei a minha conta de Instagram. O evento não foi assim tão significativo para me lembrar dele com tanto detalhe, e o meu cérebro não é poderoso o suficiente para guardar memórias com uma precisão quase matemática – mas a app, essa sim, funciona como um arquivo meticuloso. Não é preciso mais do que uma pequena ida às definições para ter este momento de “a sério que foi assim há tanto tempo?” O que se segue é um desenrolar nostálgico de uma altura em que o Instagram não servia para muito mais do que partilhar imagens do gato, dos amigos e das férias. As pessoas para seguir não existiam aos milhares. A lista de seguidores era escassa e os likes não tinham o peso que um dia viriam a ter. As publicações eram espontâneas, aleatórias, casuais. Não se premeditava muito antes de carregar nas letrinhas azuis que faziam com que algo saísse da esfera privada e permanecesse no domínio público para sempre. O feed não era cuidadosamente analisado e os algoritmos não eram exaustivamente estudados. As coisas eram simples, divertidas, até.
Ainda que o evento não tenha sido assim tão significativo para me lembrar dele com tanto detalhe, e ainda que o meu cérebro não seja poderoso o suficiente para guardar memórias com uma precisão quase matemática, é assim que me lembro dele – de um Instagram muito diferente daquele que tento não abrir assim que o despertador toca de manhã, daquele que tento não ver quando estou a almoçar com uma amiga, daquele que tento evitar quando vou dormir. Até há não muito tempo, e com alguma ingenuidade (negação?), sempre acreditei que a minha relação com as redes sociais era aquilo que se podia considerar como saudável. Mas os sinais de que não era bem assim estavam todos lá. Comecei a perceber que eram várias as vezes em que pegava no telemóvel para fazer alguma coisa que não envolvia abrir o Instagram – mas o instinto imediato era abrir a app, scrollar de forma despreocupada e chegar à conclusão de que aquilo não era o suposto. Comecei a notar que as redes sociais eram a resposta para tudo. Aborrecida? Instagram. O metro está atrasado? Facebook. Entediada porque a viagem nunca mais acaba? Twitter. Enfadada porque não gosto assim tanto do Twitter? Instagram outra vez.
Comecei a observar que as redes sociais despertavam o pior em mim. A comparação tornou-se uma reação quase automática. Ver um feed perfeito acionava o chip um tanto malicioso do “mas esta agora virou influencer?” Quando os Instastories viraram a esquina com a sua falsa espontaneidade, o fear of missing out, mesmo quando queria estar missing out, causava uma pequena grande fúria. Seguir e ser seguido já não era uma questão de gosto, mas antes uma obrigação. Foi aí que decidi dar um passo atrás. Deixei-me ficar pela privacidade e parei de publicar dia sim, dia não. E depois aconteceu algo curioso. Nos raros momentos em que escolhia partilhar alguma coisa, nada parecia autêntico. A ansiedade entrava sem pedir licença. Mudava o filtro. Apagava a descrição. Escolhia um emoji. Apagava o emoji. Mudava o filtro outra vez. Decidia não publicar. “Não sejas parva”. Partilhava a foto. O primeiro like aparecia. Olhava para a foto outra vez. “Que ridícula. Arquivar.”
"É a neverending story do lado bom e do lado mau das redes sociais. A discussão que não conseguimos parar de ter."
É a neverending story do lado bom e do lado mau das redes sociais. A discussão que não conseguimos parar de ter. A constatação de que o pior (entenda-se, tudo aquilo que afeta a nossa saúde mental de forma negativa) não passa de um pequeno preço a pagar para termos o melhor (que é como quem diz, um acesso às redes sociais). E a questão permanece: não haverá uma certa “loucura” em ficar num ambiente que desafia a nossa sanidade? “No meio dos milhares de utilizadores das redes sociais existe um pedaço considerável de pessoas familiarizadas com aquilo que eu chamo de ‘ansiedade pós-post’. É uma doença horrível, de facto; os sintomas chegam depois de publicar um tweet ou uma fotografia que, numa segunda análise, é ofensivo ou pouco lisonjeador. Assim que esta ansiedade se instala, até o teu conteúdo mais casual pode parecer uma representaçãoindependente de ti. Ou outros também o podem ver assim, já que as redes sociais não favorecem a nuance, o perdão ou qualquer tipo de imagem holística dos seus utilizadores.” As palavras são de Collier Meyerson no artigo “Is This The End Of Oversharing?”, publicado no site da Wired em março deste ano. Nele, a jornalista sintetizava a forma como a Internet tem sido remodelada por uma nova ansiedade de publicar – e revelar – demasiado.
“O auge desta ansiedade pós-post acontece nos primeiros momentos que sucedem a publicação. Pode ser paralisador ou, para alguns, totalmente repugnante. (...) Podíamos simplesmente descartá-la como mais um risco incomum e infeliz da Internet. Mas a condição estende-se muito além das gafes triviais ou das fotografias más.” Esta ansiedade, como explicava Meyerson, começava a traduzir-se numa maior prudência na Internet – e “apesar do impulso de partilhar não ter desaparecido, foi atenuado pelas consequências”, que deram origem a um mercado de medidas de proteção oferecidas por empresas de social media e geraram um ramo da cultura wellness. “A Goop de Gwyneth Paltrow oferece um resumo de como fazer um ‘detox digital’ no seu site. ‘As redes sociais deixaram-me irritado e ansioso, e até os espaços digitais que em tempos eram calmantes (mensagens de grupo, podcasts e YouTube k-holes) não ajudavam’, escreveu Kevin Roose, repórter de tecnologia do The New York Times, num artigo que descrevia a forma como abandonou o seu telemóvel e ‘unbroke’ o seu cérebro. Até os arquitetos das redes sociais se juntaram ao movimento de as abandonar em nome do aperfeiçoamento pessoal: em 2018, Bailey Richardson, uma das 13 colaboradoras originais do Instagram, saiu por completo da app, citando a sua necessidade de se separar de ‘uma droga que já não nos deixa high.’”
Esta sensação de que as redes sociais são uma construção onde a “loucura” pode acontecer não fica por aqui. Como escrevia Eva Wiseman na edição britânica da Vogue, mais precisamente numa reflexão sobre como bloquear o barulho e encontrar a paz interior, “a Internet é mais do que um sítio que visitamos para passar o tempo numa manhã parada; é um bebé chorão, a chamar por nós assim que viramos as costas. E agora? Meu Deus, o choro. O choro!” Esta ideia de “barulho” resume uma das maiores “insanidades” que acontecem nas redes sociais, e uma das mais difíceis de controlar – a disseminação de informação falsa, seja ela por maldade ou ingenuidade.
“Há uns meses fiquei irritada com algo no Twitter. Alguém tinha tweetado uma fotografia de um aviso num prédio, que informava os inquilinos que usar o elevador iria passar a ter um custo de 35 dólares. Era surpreendente, mas num nível visceral, exatamente o tipo de comportamento que eu esperaria de um senhorio ganancioso – o tipo de coisa que é fácil de retweet furiosamente, sem pensar.” A situação foi descrita por Adi Robertson, repórter sénior do site The Verge, no artigo “How To Fight Lies, Tricks And Chaos Online”, publicado em dezembro do ano passado. Bastou pesquisar um pouco sobre o assunto para perceber que a foto tinha sido partilhada no Reddit em 2013, com o autor do post a afirmar que o aviso tinha sido rapidamente removido; o administrador do prédio negou ter responsabilidade, sugerindo que tinha sido uma partida ou um plano imediatamente abandonado.
"Este tipo de meia verdade viral faz parte do tecido da Internet hoje, e o tipo de raiva que inspira transformou-se num produto perigoso."
“Fazer retweet daquela foto só teria deixado as pessoas indignadas com algo que aparentemente nunca tinha acontecido”, continuava a jornalista. “Este tipo de meia verdade viral faz parte do tecido da Internet hoje, e o tipo de raiva que inspira transformou-se num produto perigoso. É cinicamente explorada por empresas para ‘fake news’ suportadas por publicidade, por vigaristas a angariar dinheiro online, e por governos autoritários para espalhar ódio e medo.” Ainda assim, dizia Adi, a sua intenção não era culpar as pessoas que se deixavam levar. “Muitos dos problemas são exacerbados por empresas, governos e outros fatores que os indivíduos não conseguem controlar. (...) É importante termos calma e navegarmos pelas armadilhas com cuidado – para evitar espalhar um alarmante falso rumor, ficar irritado com um grupo de pessoas por algo que não fizeram ou perpetuar um mal-entendido honesto.”
Não é preciso recuar muito no tempo para encontrar vestígios disto. Primeiro vieram as eleições nos Estados Unidos da América, que colocaram a expressão “fake news” no mapa das redes sociais – apesar da desinformação e da sua desimanação não ser propriamente nova, o ambiente digital em que prosperava, com os seus algoritmos, sistemas de publicidade, trolls e bots, fazia com que fosse mais difícil (quase impossível) de controlar. Passados dois anos, o novo coronavírus. “Primeiro foram os sussurros conspiratórios nas redes sociais de que o coronavírus tinha sido criado num laboratório secreto do governo na China. Depois vieram os medicamentos falsos: géis, líquidos e pós que criavam imunidade contra o vírus”, podia ler-se num artigo do The New York Times sobre o aumento de desinformação relativa à COVID-19 em plataformas como o Facebook e o Twitter.
Apesar dos esforços das empresas de social media, que diziam estar a identificar e a remover informação falsa, estas continuavam a espalhar-se. A situação é de tal forma avassaladora que, em fevereiro, a OMS qualificava-a como uma “infodemia”; dois meses depois, a Comissão Europeia divulgava que eram diariamente detetados mais de 2,700 artigos com “fake news” relacionadas com o novo coronavírus nas redes sociais. Mais recentemente, com a morte de George Floyd e os protestos globais que exigem o fim do racismo, das injustiças raciais e da brutalidade policial, foi a vez do movimento Black Lives Matter ser alvo dos danos da desinformação, nomeadamente através da partilha de informações, vídeos e imagens falsas ou enganadoras para atacar os manifestantes e virar o público contra eles.
"Agora, o ativismo mainstream na Internet parece servir também para chamar a atenção, culpar e envergonhar, mas que espaço deixamos às pessoas para serem perdoadas?"
Por cada publicação no Instagram que é identificada como informação falsa (um recurso relativamente recente da rede social para reduzir a divulgação de comunicações do género), aparece um freixo de luz ao fundo do túnel – uma vaga sensação de que, mesmo numa caixa de comentário dominada por bots, as redes sociais ainda podem ser uma plataforma de serviço público, uma ferramenta para lutar por aquilo em que acreditamos, um megafone para amplificarmos as nossas vozes e as dos outros.
O único problema é que não parecemos conseguir chegar a um consenso sobre aquilo que tudo isso significa – por outras palavras, a “loucura” de uns é a “sanidade” de outros. Enquanto uns condenam a facilidade com que uma opinião pode ser reprimida, outros defendem que têm o direito de o fazer. Enquanto uns leem uma chamada de atenção como um comportamento à bully, outros escrevem que não existem desculpas possíveis. Enquanto alguns pedem menos julgamento e mais tolerância, outros sentem que o tempo para isso já passou. Enquanto uns imploram que 2020 seja o ano em que a cultura de cancelamento é cancelada, outros veem o rótulo de cancelled como o mínimo dos castigos.
Na edição australiana da GQ, e mais precisamente num artigo intitulado “Have We Taken Cancel Culture Too Far In 2020?”, Jess Campbell colocava a questão da seguinte forma: “Com as nossas vidas a desenrolarem-se cada vez mais online, a linha entre o pessoal e o político está a ficar cada vez mais esbatida. Agora, o ativismo mainstream na Internet parece servir também para chamar a atenção, culpar e envergonhar, mas que espaço deixamos às pessoas para serem perdoadas?”
Recentemente, a artista e ativista Dom Roberts (@domrobxrts no Instagram) publicou uma imagem onde se podiam ler as palavras “cancel cancel culture”. Deixando o disclaimer de que o post não se aplicava a violadores ou homicidas, e defendendo que as pessoas devem ser responsabilizadas pelas suas ações e crimes, a reflexão de Roberts focava-se naqueles que estavam a tentar ser ou que queriam ser aliadas na luta antirracista, mas a quem não estava a ser dado espaço para crescer. “Temos de parar de cancelar as pessoas pelos seus erros. Não deixar que as pessoas cresçam a partir dos seus erros é injusto, e não ajuda em nada. Estamos todos a aprender em determinado momento. Deem às pessoas a oportunidade de crescer.”
"Temos de parar de cancelar as pessoas pelos seus erros. Não deixar que as pessoas cresçam a partir dos seus erros é injusto, e não ajuda em nada."
O sentimento foi ecoado quando Lindsay Peoples Wagner e Sandrine Charles anunciaram o Black in Fashion Council, um grupo criado com o objetivo de representar e garantir o avanço de pessoas negras na indústria da Moda e da Beleza. “Queremos dar às pessoas a oportunidade de mostrarem que podem mudar”, disse Peoples Wagner ao Business of Fashion, declarando que a abordagem do grupo (que será lançado em julho deste ano) pretende avançar da cultura de cancelamento para a cultura da responsabilidade.
Dificilmente encontraremos a harmonia nas redes socias. Aquilo que uns entendem como uma “loucura” continuará a ser aquilo que outros entendem como o oposto. Aquilo que uns definem como “histeria” ou “exagero” continuará a ser aquilo que outros entendem como uma reação legítima. Aquilo que uns entendem como uma afronta, um julgamento sem pensar duas vezes, um apontar de dedo sem sentido, continuará a ser aquilo que outros entendem como um direito e um dever.
Quando nos conectamos num espaço que não é palpável, torna-se muito fácil esquecer que quem está nele é um ser humano como nós. Ignoramos as nuances, silenciamos o contexto, bloqueamos as emoções, cancelamos a humanidade. Deixamos de ver o que está à nossa frente por aquilo que realmente é – uma versão filtrada, ínfima, de quem somos. When all is scrolled and done, talvez seja essa a grande “loucura” das redes sociais.
Artigo originalmente publicado na edição julho/agosto 2020 da Vogue Portugal.
Most popular
.jpg)
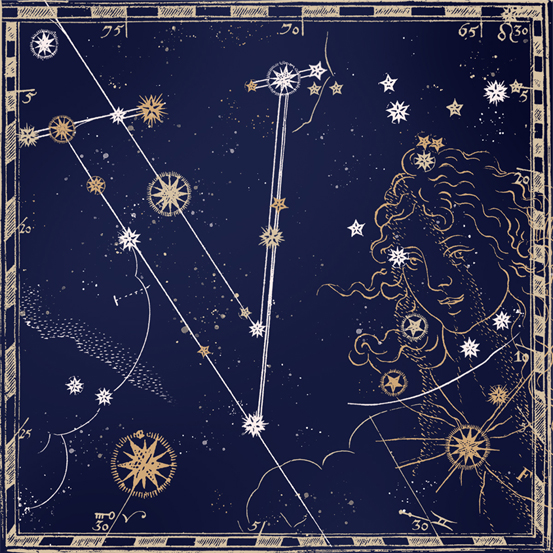
Relacionados
.jpg)
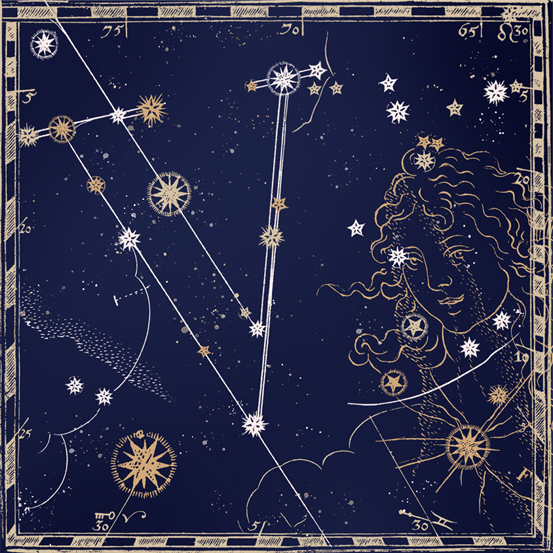
O que lhe reservam os astros para a semana de 31 de dezembro a 6 de janeiro
31 Dec 2024
.jpg)
6 looks de maquilhagem para o Ano Novo inspirados nas nossas It Girls favoritas
27 Dec 2024



